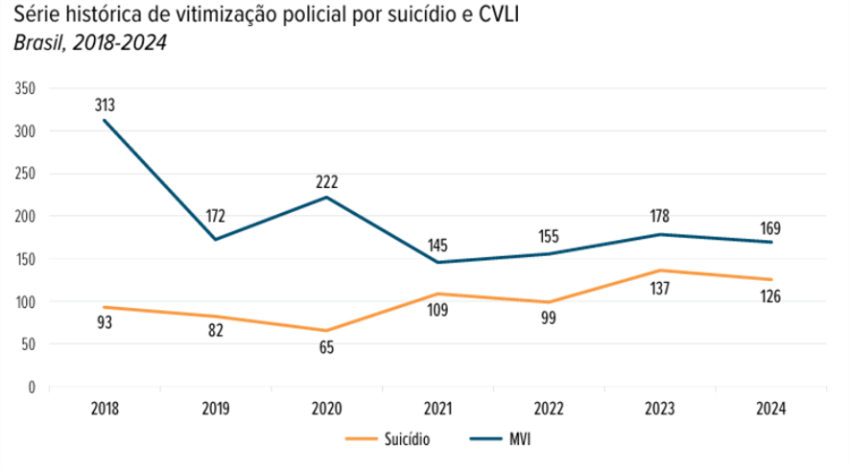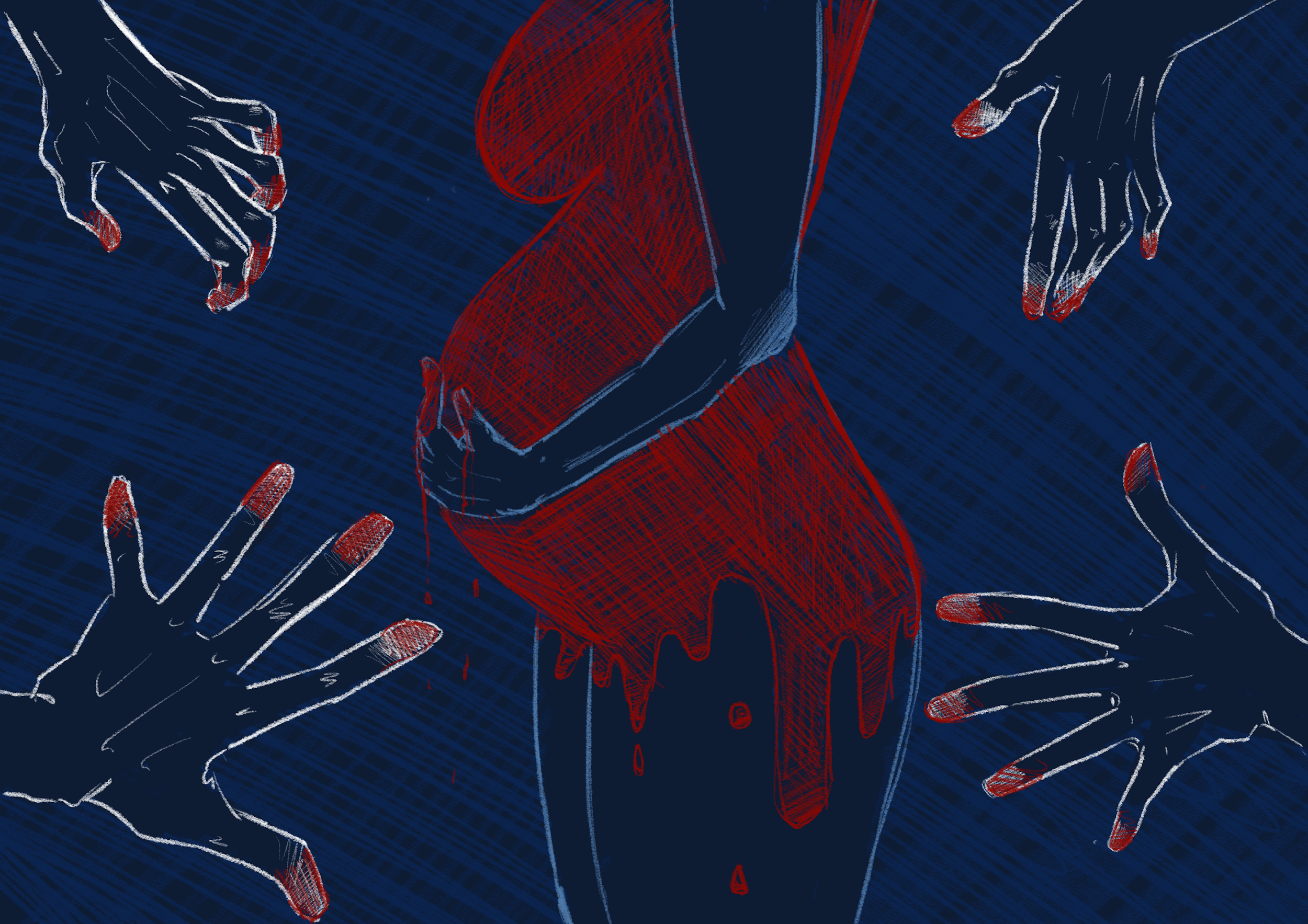
“Ele bateu na minha perna e disse ‘Não vai nascer não? Aguenta! Faz força nessa p...’. Em seguida ele pegou uma agulha e furou a bolsa, subindo em cima da minha costela e empurrando o bebê pela barriga. Fizeram episiotomia também. Me lembro do dia seguinte - as costelas roxas, pontos em todo lugar e muita dor.” conta Marilene Martins Quirino, vítima de violência obstétrica durante o nascimento de sua segunda filha.
Normalmente, a intervenção médica em partos deve ocorrer somente em casos específicos. Mas a realidade é outra, sobretudo no Brasil, que é o segundo país do mundo em número de cesarianas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 2018, 55,7% do total de nascimentos foram cirúrgicos, atrás apenas da República Dominicana, com 58,1%. Embora salvem vidas quando necessárias, as cesáreas também têm riscos. A recomendação do órgão é que não excedam 15% do total de partos, de modo a reduzir os índices de mortalidade da mãe e do bebê. No setor privado, a proporção de cesáreas chega a 88% dos nascimentos; no público, a 46%.
O parto é um processo natural. Porém, ainda não deixa de ser complexo. Em casos de complicações e riscos, as intervenções médicas são necessárias, como a cesárea. Contudo, nos últimos anos, as taxas de intervenção aumentaram de forma significativa, transformando a exceção em regra. Quando realizada sem necessidade, a cesárea pode ser considerada uma forma de violência obstétrica. Mas ela não vem sozinha: a cirurgia é absorvida no meio de turbilhões de outras violências- nem sempre tão invasivas - mas ainda muito traumáticas.
Uma comprovação fatal da falta de informação a respeito do parto é a própria posição em que este é normalmente recordado - a parturiente com as pernas abertas e deitada de barriga para cima. Essa posição, no entanto, foi uma ordem do rei Luís XIV para sua esposa - porque desta forma ele poderia ver o nascimento de forma mais “clara”. Ainda que essa seja a forma mais dolorosa de parir, permanece sendo a mais utilizada em partos não-humanizados.
Segundo a Recien - Revista Científica de Enfermagem - “A violência obstétrica é frequente no Brasil, sendo praticada por médicos e profissionais da enfermagem, em especial, na forma de negligência, violência verbal e/ou física”. Ela nasce de uma sociedade patriarcal - que enxerga mulheres como números dentro de um sistema. Uma sociedade em que, no minuto em que o feto é descoberto no ventre, deleta a humanidade, a feminilidade e a individualidade da mãe.
Entrevistamos Larissa Leal Gonçales, profissional doula há mais de 14 anos. Ela conta que “o parto é um processo fisiológico. É algo que o corpo faz. E saber como o parto funciona é essencial para a tranquilidade do processo. A mulher normalmente chega refém - mas quando se entende o parto como um processo íntimo, fisiológico, sexual e familiar da vida da parturiente - o protagonismo da mulher é o que faz diferença no desfecho”. Por isso a informação é a base para um parto humanizado e consciente.
A profissional ainda explica que o parto humanizado se baseia em 3 premissas: protagonismo da mulher, bases em evidências científicas e uma equipe profissional diversificada para melhor assistência do parto. Esse tipo de assistência tem como objetivo garantir que o bebê nasça sem intervenções desnecessárias - evitando traumas tanto para a mãe quanto para o bebê.
O problema da violência obstétrica é que ela não é um fenômeno isolado e sim produto de um sistema de médicos incapazes de sentir qualquer coisa que não seja o som do dinheiro caindo no bolso. Além disso, práticas violentas ainda são lecionadas e incentivadas em faculdades de medicina e a falta de informação faz com que esses procedimentos não sejam questionados, ainda que aplicados desnecessariamente.
A violência obstétrica é física, psicológica e também sistêmica - porque é o sistema atual que contribui para que essa violência seja invisibilizada e tratada como rotina dentro da vida das parturientes.
Essas situações vivenciadas por futuras mães prestes a dar a luz - e que as fazem vítimas dos mais variados tipos de violências - justamente por estarem indefesas e reféns desse sistema as tornam presas fáceis para seus algozes.
200 anos de uma suposta independência se passaram. Isso porque esse momento histórico, muitas vezes visto como símbolo de mudança, autonomia e liberdade, não mudou os trajetos de um país onde ainda reina o preconceito, o feminicídio, a opressão de povos nativos, leis patriarcais, a fome e a dependência externa - o que soa o mais irônico possível.
O dia que marcou a independência do país fez nascer um Brasil que dependia da escravidão para manter-se economicamente. E mantêm, até hoje, pretos e pretas dependentes de reparações históricas irreparáveis. Há mais tempo de escravidão na história do Brasil do que de Independência proclamada. E isso diz muito.
Aliás, se a anunciação de D. Pedro foi dada às margens do Rio Ipiranga, ela ainda não desembocou nos rios amazônicos, nos ouvidos de tantos povos indígenas.
Enquanto isso, mais uma vez, militares e milícias celebram o que parece ser um dia imaginário, gritando que nossa bandeira nunca será vermelha, enquanto tingem ruas e comunidades do vermelho mais gritante. De um sangue tão vermelho e antigo como tintura de Pau-brasil. Um vermelhão gritante de dor, preconceito e injustiça, que ecoa das gargantas de mães, pais e amigos, mas não alto o suficiente para o mundo ouvir.
Às margens dos direitos
No evento “Bicentenário da Independência do Brasil: Soberania, Democracia e Decolonialidade”, realizado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o professor e historiador Alberto Luiz Scheneider explica que a vinda da Família real portuguesa provoca a abertura dos portos, um primeiro passo do processo de independência. No entanto, com o desenvolvimento do comércio agora em maior demanda, mais mão de obra foi necessária. Ou seja, mais africanos foram escravizados.
Até na arte é explícito aqueles que ficaram às margens - e não só do Rio Ipiranga. O povo preto não poderia fazer parte desse momento de independência para além de seus serviços forçados. Não havia independência para a pele preta, nem na arte nem na vida real.
E isso alcança também os povos indígenas: “O silêncio continua nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas pesquisas. Muitos deles diziam que não há espaço para os indígenas nessa sociedade, que não são brasileiros nem cidadãos e que nunca serão”, como denuncia Edson Kayapó, doutor em Educação Histórica, Política e Sociedade.
Mesmo assim, ainda que ditos como “’povos que seriam extintos pela força de sua incapacidade física, biológica e cultural de acompanhar o progresso nacional’, tantos povos resistem e continuarão resistindo”, garante Kayapó.
Outro grupo por debaixo dos panos – e planos – da independência são as mulheres. Afinal, que independência é essa em que somos livres para trabalhar ganhando menos, apanhando em casa e com medo do estupro?
Ruth Manus, escritora e advogada, atenta também para como a exploração feminina repassada a mulheres mais vulneráveis ainda é um equívoco de independência feminina: “Não adianta falar que a mulher privilegiada não tem dupla jornada se tem outra mulher no teu lugar trabalhando em casa, mal paga, sem registro. Isso não é emancipação feminina, é simplesmente exploração de uma mulher menos privilegiada no seu lugar”.
"Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil"
O hino da independência é quem nos diz. No entanto, não se morre pelo Brasil. Se morre por causa do Brasil, suas instituições assassinas e sua elite opressora.
“Vossos peitos, vossos braços, são muralhas do Brasil”. Essas muralhas brasileiras que o hino vos fala estão mais para alvos. Estes nossos peitos são muralhas derrubadas com balas perdidas – ou muito bem achadas. As muralhas que caem, fortalecem as da desigualdade, que resistem e se edificam.
Se “Zombou deles, o Brasil”, zombaram dos brasileiros quando decidiriam que 7 de setembro é sinônimo de liberdade.
E se, com tudo isso, ainda cantam o hino da independência, cantam para abafar os gritos e choros que tocam ao fundo, ao ritmo das metralhadoras que disparam e sob o comando da orquestra policial da morte. Se for branco, homem e cis, você está no camarote. Se for mulher, preto ou indígena, você tem lugar reservado. E assim, Dom Pedro mal imaginava que havia dado início a um novo show de horrores - nem tão novo assim.
E como todo brasileiro canta, “o show tem que continuar”. Mas dessa vez, gostaríamos que fechassem as cortinas, punissem os diretores e atores principais e acendessem as luzes do iluminismo democrático mais uma vez.

O Presidente da República foi condenado pelo Tribunal Permanente dos Povos (TPP) nesta quinta-feira (1/09) pelo júri internacional de defensores dos Direitos Humanos. Em sessão de leitura da sentença realizada no Salão dos Estudantes no Largo São Francisco, setores da sociedade civil presenciaram a primeira condenação contra Bolsonaro no âmbito dos Direitos Humanos.
Sob a cautela justificada a modo de “não banalizar o conceito de Genocídio”, o Tribunal não se comprometeu em condenar o atual Presidente por esse crime e adicionou que a deliberação e decisão deveriam ser feitas no Tribunal Penal Internacional de Haia. A decisão foi fortemente rejeitada por Sônia Guajajara, representante dos povos indígenas, uma das últimas a discursar: “O que mais precisa acontecer para que esse governo seja considerado Genocida? O TPP nega a condenação. Não posso sair daqui feliz com essa sentença parcial”, afirma a candidata a Deputada Federal pelo PSOL.
O evento contou com a presença de personalidades como o Ex-Secretário de Direitos Humanos Paulo Sérgio Pinheiro, a Ex-Procuradora-geral da República Raquel Dodge, o Senador Humberto Costa (PT) e o Ex-Secretário de Justiça do Governo de São Paulo Hédio Silva - figuras de especialidades distintas, mas defensoras do Estado Democrático de Direito.
Foto: Giulia Aguillera
A sentença lida pelo Júri internacional revelou que “o cerne da acusação é o abuso dos poderes feito pelo governo de Bolsonaro que transformou a pandemia em uma ocasião para atacar populações tidas como descartáveis dificultando o acesso dessas aos Direitos Humanos e à dignidade”.
É entendida também a intenção de responsabilização pessoal de crimes contra a humanidade durante a gestão da pandemia que saiam da culpabilização do governo e seja atribuída a pessoas específicas, como é o caso de Bolsonaro, que neste Tribunal ocupou, pela primeira vez, a cadeira do réu. Como consta na Sentença oficial recebida na íntegra pela Agemt:
“Ao contrário da maioria das sentenças do nosso Tribunal Permanente dos Povos, esta sentença refere-se à responsabilidade pessoal, ou seja, à responsabilidade penal de uma única pessoa: à culpa do presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro por crimes contra a humanidade.”
Até o momento, as sentenças feitas pelo TPP dedicaram-se a fenômenos criminosos não atribuíveis a pessoas em específico, classificados como “crimes de Sistema”, coisa que mudou com a decisão lida hoje. Para o Tribunal, essa implica em uma “resposta pessoal de crime contra a humanidade”, além de que “não se trata de responsabilidade política, mas responsabilidade penal”.
Sobre o evento, Celso Campilongo, diretor da Universidade de Direito da USP, afirmou que é um “orgulho para a faculdade receber esse evento e essa sentença tão importante”. Campilongo mencionou que esta ocasião foi o “último pedido do Professor Dalmo Dallari”, professor emérito da USP falecido em 8 de abril deste ano, e que a diversidade do público ali presente ganha magnitude devido à atual conjuntura do país.
Raquel Dodge, Ex-Procuradora-geral da República, afirma em discurso que “todos os Seres Humanos são portadores da mesma dignidade e direitos inalienáveis". Diz também que a Constituição veio para interromper o passado de diferentes regimes ditatoriais que “usavam da força para impedir os direitos e a liberdade”, estimulando que os governos subsequentes utilizem da razão para governar e construindo uma “memória coletiva para lembrar do que não podemos mais tolerar”.
Para o Tribunal, os crimes de Bolsonaro contra a humanidade foram dolosos: “o ato [de negligenciar a gestão da pandemia] não pode ser atribuído ao descuido, foi claramente doloso”, mas, o que fez não foi caracterizado por Genocídio. “O Tribunal considera que seria apropriado levar o caso ao Tribunal Internacional para que decida se é Genocídio”, afirma a leitura da sentença.
Esta foi a primeira ocasião na qual o atual Presidente da República foi condenado e ocupou a cadeira de réu. Para a organização, há um sentimento de esperança que considera que esta condenação será a “primeira, não a única”, já que o caso foi levado ao Tribunal Penal Internacional de Haia para ser avaliado e possivelmente julgado. “Políticas homicidas são crimes, devemos dar a elas os nomes que têm, ou seja, crimes de violação dos Direitos Humanos”, afirma o leitor da Sentença.
Entretanto, a não condenação de Bolsonaro em nenhuma outra instância até o momento, para a Comissão Dom Paulo Evaristo Arns, revela a incapacidade da justiça brasileira de fazer frente às ações criminosas do atual presidente, assim como o posicionamento omisso da Procuradoria geral da República (PGR) e dos presidentes da Câmara revelam um apoio a esses crimes.
Maurício Terena, representante do povo Terena (presente no MS, MT e em SP) que depôs contra Bolsonaro nas sessões realizadas em Maio deste ano, celebrou o fato de que a uma semana da independência do Brasil, o TPP trouxe a primeira condenação do presidente. Afirmou também que a política de saúde durante a pandemia foi utilizada para causar a morte - como na ocasião na qual a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) proibiu a entrada de Médicos Sem Fronteiras em tribos indígenas. “Os nossos corpos são feitos para a morte com ou sem pandemia. A lógica do Brasil é essa: nos matar. O presidente deve pagar por isso”.
Foto: Giulia Aguillera
Foto: Giulia Aguillera
Terena questiona: “quando alguém vai ser condenado por genocídio? Eu tenho esse compromisso de fazer essa pergunta”, completa.
Shirlei Marshal, que também depôs contra o Presidente nas primeiras sessões do Tribunal, retorna ao pleito representando os profissionais de saúde que estiveram presentes na luta contra a pandemia de Covid-19, diz que “hoje nós demos o primeiro passo” e que sua classe de trabalho optou por “defender a vida enquanto o governo optava por defender a morte”.
Foto: Giulia Aguillera
Daniela Mercury também esteve presente na ocasião e foi entrevistada pela Agemt. A cantora esteve trabalhando há alguns anos como ativista social além de estar junto ao Observatório de Direitos Humanos junto com a Comissão Arns. “Nós nos mobilizamos durante a pandemia. Fizemos cartas para todos os órgãos governamentais pontuando nossas preocupações em relação ao atraso da compra das vacinas, aos atos antidemocráticos , ao negacionismo… questões tratadas no TPP”, afirma à agência.
A atual política de cotas garante metade das vagas a alunos da rede pública para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e população de baixa renda. Pela legislação, o processo de revisão deve ser feito 10 anos após a sanção, que ocorreu em agosto de 2012.
Saiba como o candidato à presidência Ciro Gomes, se posiciona sobre a questão:
No dia 19 de junho, Ciro postou em uma rede social, que o Partido Democrático Trabalhista (PDT) havia entrado com uma ação no STF para "proteger a tão importante política de cotas para o acesso às universidades brasileiras".
Em seu programa de governo, um trecho relacionado à população negra diz que "a ação mais urgente é o acesso as universidades públicas e as vagas nos concursos públicos, mais especificamente ao sistema de cotas".
"Pedimos ao STF que qualquer revisão seja para melhoria do programa e que não se permitam retrocessos. Todos temos de ficar atentos e vigilantes!", escreveu o candidato.
À Globo, o candidato afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a Lei "foi muito bem-sucedida e deve prosseguir com as mesmas características" em seu governo.
A sessão foi mobilizada pelo vereador Eliseu Gabriel em defesa do jornalismo profissional, da liberdade de imprensa e da democracia, e foi sediada na Câmara Municipal na terça-feira (23). Contou com a homenagem a jornalistas defensores da liberdade de imprensa, dentre os quais estava Dom Philips, assassinado na última semana na Amazônia.
Discursos emotivos relembraram a vida de Audálio Dantas (jornalista brasileiro premiado na ONU pela defesa dos direitos humanos) e de Elifas Andreato enquanto marcavam o momento pelo qual a classe dos jornalistas passa atualmente no país. Perseguição, dignidade para exercer a profissão, liberdade de imprensa e a importância dessa profissão para a manutenção da democracia foram alguns dos temas tratados nos discursos.
Também foi mencionado o caso da extradição de Julian Assange (jornalista criador do Wikileaks hoje preso no Reino Unido por exercer sua profissão) e o como o trabalho realizado por ele foi importante para informar a população sobre o que acontece em regiões como Guantánamo e Afeganistão - crimes de guerra relatados pelo site Wikileaks e que têm como infrator o Estado dos Estados Unidos. Ainda sobre Assange, foi dito que a perseguição implacável que é feita contra ele não se limita apenas a ele, mas uma ameaça a toda a classe de jornalistas.
Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas, também discursou. Abriu sua fala enfatizando que não há muitos motivos para comemorar, quando o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos por exercerem suas profissões e seus ofícios. Diz que os jornalistas merecem dignidade e respeito ao exercer a profissão e que “devemos lutar contra a opressão do passado e contra a opressão do presente”.
Por mais que o assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips tenham tido destaque nos discursos da sessão, não foram as únicas reivindicações presentes. Discursos evidenciaram as dificuldades que a região amazônica passa e que mortes de Defensores da Floresta são recorrentes, que “temporadas de caça” contra esses defensores ocorrem todos os anos e que, por não serem brancos e não terem “passaporte inglês”, não ganham o destaque que merecem e precisam.
Daniel Pereira, representando os Repórteres sem fronteiras, enfatiza que o Brasil é o segundo país no continente americano que mais mata jornalistas, além de insultos e estigmatização contra essa classe serem marcas registradas do governo atual. Daniel segue seu discurso dizendo que a defesa e a segurança do jornalista não dependem apenas da pessoa que exerce a profissão, mas também de instituições, pois “é um compromisso político constitucional”.
A Sessão Solene também foi marcada por presenças ilustres do jornalismo brasileiro nas pessoas de Sérgio Gomes e José Alberto Lovetro (Jal). Ambos emocionados, relembraram a vida de seus mentores e amigos e a morte de jornalistas pelas mãos de “covardes atrás de armas que matam heróis que não se escondem atrás delas”, como disse Jal em seu discurso.
Após a fala dos representantes e membros dos sindicatos, houve um momento de homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, assassinados no começo do mês de junho na região do Vale do Javari.
Por meio da leitura do texto "Com a tragédia de Dom Phillips e Bruno Pereira, um limite foi ultrapassado na Amazônia — a nós, que estamos vivos, só cabe a luta” de Eliane Brum, publicado em 17 de junho, a atriz Georgette Fadel deu voz aos sentimentos da jornalista, verbalizados com auxílio do coro Luther King. O coro prestou homenagem a dupla e a diversos outros nomes do jornalismo, através de trechos cantados e as mãos pintadas de tinta vermelha, simbolizando a violência sofrida pela categoria.

Sérgio Gomes cobra a presença de jornalistas do Consórcio, ausentes na sessão, e questiona a timidez com a qual foi recebido o hino da Proclamação da República: Estão com medo de quê? De gritar Liberdade, Liberdade, Liberdade? Termina seu discurso enunciando Ernest Hemingway dizendo que “coragem é a dignidade sob pressão; o resto é covardia”.
Com a presença tímida de estudantes e a ausência de jornalistas do consórcio o evento se encerra em tom emotivo; vidas de amigos e colegas da classe de trabalho foram homenageadas e relembradas nos discursos, parte da memória e do futuro da profissão foram ali passados aos ouvintes.