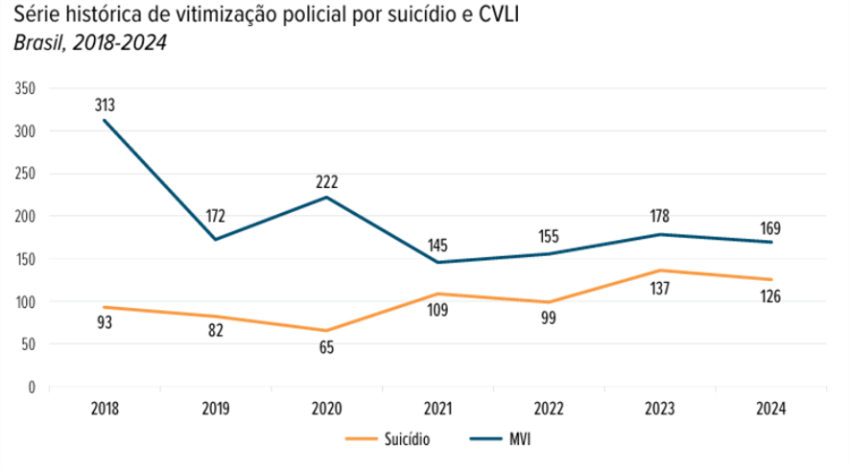Nesta terça-feira (21), aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Jornalista e da Liberdade de Imprensa, celebrados em 07 de abril e 03 de maio, respectivamente. O evento reuniu vereadores da Comissão de Educação e Cultura do parlamento paulistano, presidida pelo vereador Eliseu Gabriel (PSB) e contou com as vinte e cinco entidades representantes dos direitos e interesses dos jornalistas no Estado. Também estavam presentes os Centros Acadêmicos Benevides Paixão (PUC-SP), Vladimir Herzog (Cásper Líbero) e Lupe Cotrim (ECA-USP), que integram o núcleo do troféu Audálio Dantas em conjunto com o Projeto Repórter do Futuro da Oboré e da Família Kunc Dantas. Os supracitados estiveram unidos na ocasião após a carta aberta feita aos professores e alunos de jornalismo, elaborada pelos componentes das organizações estudantis mencionadas.
A cerimônia iniciou-se às 19h com a apresentação da banda da Guarda Civil Metropolitana, nesta ocasião o medo que permeia a sociedade brasileira foi evidenciado após a execução do Hino da Proclamação da República que conclama “liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”. “Que liberdade é essa que as pessoas têm medo de cantar?'', questionou Sérgio Gomes, jornalista, professor e um dos fundadores da Oboré. No momento de falas dos componentes da mesa da solenidade, o presidente do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, Caio Mello, também fez alusão à canção: ”Não adianta clamar pelas asas da liberdade, sem olhar a quem todos os dias trabalha dentro e fora das instituições para cortar essas asas”.
Em consonância com a defesa da imprensa, o teólogo e escritor Leonardo Boff comentou em depoimento que os jornalistas “anunciam os fatos da realidade, especialmente aqueles que os poderosos querem esconder, e denunciam os desvios, as corrupções e as maldades que se fazem contra o povo. Isso tudo é uma ajuda para a democracia e resguarda a dignidade do nosso país. Temos que apoiar essa articulação das entidades jornalísticas”.
O episódio foi um tributo aos trezentos jornalistas que integram o Consórcio de Veículos de Imprensa, criado para divulgar os dados sobre a pandemia no país, a partir da omissão do Governo Federal. Entretanto, houve homenagens a figuras específicas, sendo elas as de Elifas Andreato, Julian Assange, Dom Phillips e Bruno Pereira. O primeiro nome foi um ilustrador que através da sua arte lutou e denunciou os crimes da Ditadura Militar. Andreato faleceu em março deste ano. “Elifas é dessas pessoas que nunca morrem e seguirão eternamente vivas em nossas memórias, em nossos corações. Nos inspirando a atuar pela construção de um país melhor”, declarou Rogério Sottili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog.
Julian Assange teve sua trajetória destacada pela representante do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos, Carmen Diniz. A coordenadora explicou que o jornalista detido na penitenciária de Belmarsh, nos arredores de Londres, foi preso por divulgar crimes de guerra e restrição de direitos cometidos pelos Estados Unidos e países aliados em combates no Iraque e Afeganistão, e agora corre risco de morte, pois o governo britânico assinou o decreto de extradição de Assange para os Estados Unidos. Diniz ainda acrescentou que “o pouco há para se fazer” pela liberação do australiano é necessário, uma vez que "juntos somos fortes". Além de Julian Assange, os repórteres do Consórcio de Veículos de Imprensa também foram homenageados com o Troféu Audálio Dantas - Indignação, Coragem e Esperança em cerimônia realizada na Praça Memorial Vladimir Herzog no dia 9 de abril.
Por fim, a última condecoração feita foi a de Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados pelo crime organizado e pela conivência do governo federal, enquanto exerciam seu trabalho em defesa do acesso à informação e da Amazônia e seus povos originários. Para tal, a atriz Georgette Fadel juntamente com o coral Luther King interpretaram o texto da jornalista Eliane Brum. A leitura do relato da consagrada profissional da imprensa frente às mortes de Dom Phillips e Bruno Pereira, foi um dos momentos mais marcantes da sessão solene.
Após a apresentação, Vanira Kunc, jornalista e viúva de Audálio Dantas, propôs que Eliane Brum fosse homenageada com o Troféu Audálio Dantas, em categoria especial. A sugestão foi aprovada por unanimidade pelas entidades e pessoas presentes. Como a autora mora em Altamira (PA), a atriz Georgette recebeu em seu nome e já está providenciando a entrega.
Entrevista com Vincius Lima, jornalista e co-fundador da ONG SP Invisível, sobre as pessoas em situação de rua e as ações do Estado mediante a essa situação. Assista a entrevista. Links para doação para o SP Invisível: https://linktr.ee/spinvisivel e Paróquia do Arcanjo (Padre Julio Lancellotti): https://www.oarcanjo.net/site/apoio-moradores-rua/
Na quinta-feira passada (02) aconteceu o Seminário “Ditadura Nunca Mais! – O Brasil e o descumprimento das condenações internacionais por Violações de Direitos Humanos”, promovido pela Faculdade de Direito e os Centros Acadêmicos Benevides Paixão e Reconvexo de jornalismo e direito, respectivamente, da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).
A primeira parte do seminário teve a participação de Amélia Teles, presa política na ditadura e membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, a ex-prefeita de São Paulo e Deputada Federal, Luiza Erundina (PSOL), Rosalina Santa Cruz, professora de Serviço Social da PUC-SP, presa política durante a ditadura e membro da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e Adriano Diogo, ex-deputado estadual e Presidente da Comissão da Verdade Rubens Paiva (ALESP/SP).
Ao falar sobre os casos de tortura durante a ditadura, a Dep. Luiza Erundina disse que “a ditadura nunca acabou durante esse tempo. Do período de 21 anos da vigência da ditadura militar” e seus desdobramentos contemporâneos, Erundina lembrou do caso de Genivaldo de Jesus Santos, 38, torturado e morto por policiais rodoviários federais em viatura da corporação após sofrer golpes e pontapés dos agentes e ser colocado no porta-malas do carro impregnado com gás lacrimogênio.
“Chegamos à dois, três dias atrás, num crime horrendo, que não se imaginava que em uma civilização, em um país dito democrático, se pudesse registrar um crime tão terrível, tão brutal, tão desumano, daquele cidadão lá em Sergipe. Nos deixa todos muito mal, nos deixa de uma certa forma nos perguntando, o que deixamos de fazer ou o que fizemos de errado para que as coisas chegassem a esse ponto”, lembrou a Deputada.
Amélia Teles começou falando sobre o papel que a universidade teve como palco de resistência no regime, “espaço democrático mesmo em tempo de ditadura”, citando o episódio que ficou conhecido como a Invasão da PUC, ocorrido em 1977. Naquele ano, tropas da polícia militar invadiram a universidade, à mando do Secretário de Segurança Pública do Estado, Erasmo Dias. “Aqui o Erasmo Dias invadiu a PUC, teve estudantes queimadas, mas a luta continuou. Então isso aqui tem muita história”, recordou Teles.
Representando a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, Teles comentou da ação promovida por Erundina à frente da Prefeitura de São Paulo, realizando a abertura das valas clandestinas do Cemitério Dom Bosco, conhecido com Cemitério de Perus, zona norte da capital.
Para ela foi fundamental a abertura da Vala, principalmente quando a Comissão, ao lado de organizações de direitos humanos, entrou com uma ação contra o Brasil, no caso conhecido como “Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil”, que diz respeito aos mortos e desaparecidos políticos na Guerrilha do Araguaia.
No ano de 1990, após a descoberta feita pelo jornalista Caco Barcellos sobre corpos de militantes políticos executados pela ditadura serem enterrados no Cemitério Dom Bosco, a então prefeita decidiu instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Municipal de São Paulo, para investigar os crimes cometidos durante a ditadura.
“Isso impulsionou e abriu possibilidades jurídicas. Porque a Vala de Perús trouxe uma informação que a sociedade não tinha, a gente falava em desaparecido e ficava uma coisa abstrata. De repente desaparecido tinha crânio, tinha esqueleto, tinha osso. Então isso deu credibilidade e legitimidade à nossa luta, porque a opinião pública passou a acreditar naquilo que a gente falava”, lembrou Teles.
Participaram da segunda mesa Débora Duprat, ex-Subprocuradora Geral da República, do Ministério Público Federal (MPF), Marlon Alberto Weichert e Eugênia Gonzaga, ambos Procuradores da República do MPF e Gabriel Sampaio, advogado e coordenador do Programa de Enfretamento à Violência Institucional da Conectas Direitos Humanos. O principal tema discutido por essa mesa foi as tomadas de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) após ações construídas pela sociedade civil contra o Estado brasileiro.
De início, Duprat levantou um ponto importante para pensar alguns casos da justiça brasileira envolvendo violações aos direitos humanos: como o judiciário brasileiro se mantêm sem nenhuma alteração desde o fim do regime militar. “Como uma Constituição, portanto, de direito interno e direito internacional, tão forte, mantêm o mesmo judiciário da época da ditadura, nenhuma singela alteração, nenhuma”, disse Duprat.
Um dos casos citados por Duprat foi o “Favela Nova Brasília”. Entre 1994 e 1995, em decorrência de ações policiais na comunidade Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, 26 pessoas morreram e três adolescentes foram vítimas de violência sexual durante o ocorrido. Mais de dez anos depois, em 2017, decisão da CIDH condenou o Estado brasileiro por violência policial nesse caso. O Estado reconheceu a condenação sofrida.
“A gente continua tendo o Jacarezinho [ação policial, conhecida como Chacina do Jacarezinho, ocorrida na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 28 pessoas, incluindo um policial, em 06 de maio de 2021], 28 mortes, 24 inquéritos arquivados”, falou Duprat.
Em seguida mencionou o caso da “ADPF das Favelas”, uma “decisão banana”, segundo a subprocuradora. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, é uma petição assinada por diversas organizações da sociedade civil e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que visa reduzir as ações executadas pela polícia da cidade nas favelas e comunidades, diminuindo a letalidade e a violência nas regiões.
“No momento em que o Supremo [Supremo Tribunal Federal] não consegue mais fazer cumprir as suas decisões. Esse caso das favelas é uma evidência, o Supremo faliu na sua capacidade de cumprir as suas decisões”, completou a subprocuradora.
Em sua participação, a Procuradora Eugênia Gonzaga falou sobre o vídeo da campanha #ReinterpretaJáSTF, organizado pelo Movimento Vozes do Silêncio e entidades de direitos humanos. A campanha tem a participação de vítimas da ditadura, familiares de mortos e desaparecidos políticos e tem o intuito de “sensibilizar o STF”, de acordo com Gonzaga, acompanhado de um manifesto que teve cerca de 5 mil assinaturas colhidas em poucos dias do lançamento.
A Comissão Dom Paulo Evaristo Arns realizou, na manhã desta quarta (1/06), uma reunião com o representante do Alto Comissariado da ONU na América do Sul com o fim de entregar um relatório oficial de crítica à crescente violência policial no Brasil.
Convocada pela mesma comissão, uma semana após o Tribunal Permanente dos Povos , a reunião teve um caráter urgente e contou com a presença de Jan Jarab, representando o Alto Comissariado da ONU, que estava de passagem pelo Brasil. Jarab já desempenhou diferentes funções na comunidade internacional de direitos humanos como no Escritório de Direitos Humanos da República Tcheca, além de ter atuado como Comissário do Governo para Direitos Humanos.
Com a entrega do relatório às mãos do representante, e com a saída deste, a reunião foi aberta à presença virtual de veículos de imprensa, junto dos quais se encontrava a Agemt.
Laura Greenhalgh, uma das componentes da Comissão Arns presentes na reunião, abriu a comitiva de imprensa afirmando que a reunião ocorreu para demonstrar à comunidade internacional “providências que a [Comissão] Anrs tomou contra a chacina na Vila Cruzeiro a à tortura e morte de Genivaldo, em Sergipe”.
Jarab foi recebido com os relatos da violência policial crescente no Brasil e, além de ouví-los, compartilhou parte de sua experiência de passagem no país nos últimos dias e relatou sua visita a comunidades indígenas no norte, região também afetada pelo aumento da violência. Segundo a Comissão, as denúncias foram muito bem recebidas e continuarão sendo feitas.
Paulo Sérgio Pinheiro afirma que seria útil que o Alto Comissariado lembrasse o Brasil de suas obrigações e que “é evidente para nós e ele [Jan Jarab] que a violência é pré-existente, mas tende a se agravar pelas homenagens feitas pelo presidente aos agressores”.
José Vicente, membro fundador da Comissão Arns e reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, completa a fala de Pinheiro ao relembrar que, no caso de Genivaldo, a comunidade brasileira estava diante de um flagrante de homicídio e relaciona a crescente atuação da Polícia Rodoviária Federal em diferentes operações à autorização de Sérgio Moro sobre as operações conjuntas.
Quanto a possíveis ações da ONU, Greenhalgh diz ser evidente que a Comissão não pode reivindicar ações, mas acionar diferentes canais que possam, por sua vez, intervir, além de dizer que o Alto Comissariado se encontra em sintonia com a Arns em relação à atual situação do Brasil.
Sobre a PRF, foram feitas considerações acerca da retirada da formação de Direitos Humanos do currículo e o como esta acarreta em táticas cada vez mais violentas e em situações tais como a operação na Vila Cruzeiro e a tortura e morte de Genivaldo. Victória Benevides (Comissão Arns) afirma ser um retrocesso a retirada da formação em direitos humanos do currículo de qualquer instituição, ainda mais de uma que lida com conflitos. Paulo Sérgio Pinheiro acrescenta: “é uma situação deprimente; a PRF era aliada nas lutas de repressão ao tráfico de mulheres e meninas pelo país. É trágico”.
Em resposta à Agemt, a Comissão afirma que existem razões para esperar um futuro melhor e que tornou-se evidente, após o Tribunal Permanente dos Povos, que a consciência brasileira sobre a história atual do país está melhorando. Entretanto, afirma que, aos olhos de instituições internacionais de respeito, o Brasil se tornou um anti exemplo, uma “grande vergonha”.
Sobre o Relatório redigido pela Comissão Arns:
O documento enviado ao Alto Comissariado da ONU foi recebido na íntegra pela Agemt e trata dos crescentes casos de violência policial durante o período de Jair Bolsonaro à frente da presidência. Confirma que, entre 2019 e 2021, 18 mil e 919 pessoas foram mortas pela polícia no país (das quais cerca de 80%, em 2020, eram negras). Traz também condutas de apoio de Bolsonaro às operações policiais como as de Vila Cruzeiro, sobre a qual parabenizou policiais por terem neutralizado pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico, ou como a operação em Jacarezinho, que deixou 28 mortos (também parabenizada pelo presidente).
Quanto à ampliação indevida do escopo das operações da Polícia Rodoviária Federal, retrata que as atribuições originárias limitadas ao patrulhamento das rodovias foram “indevidamente ampliadas pelo Ministério da Justiça” durante o atual governo.
Seus requerimentos ao Alto Comissariado são: instar as autoridades do Estado Brasileiro para cumprir os compromissos que prometeu obedecer; reforçar a necessidade de incrementação de um controle externo das atividades policiais; condenar a ampliação do escopo de atuação da PRF; e atentar a atos para-institucionais que incitem a violência e atuação ilegal por parte das polícias.

(Imagem: arquivo pessoal)
“O que vemos é que pouquíssimos hospitais (menos de 60 em todo o país, provavelmente) oferecem o aborto legal para os casos de estupro”, afirma a ginecologista e obstetra Helena Paro. No entanto, em 2013, foi promulgada a “lei do minuto seguinte”, que obriga todos os hospitais do SUS a prestarem atendimento integral, multiprofissional e emergencial a vítimas de violência sexual no Brasil (Lei 12.845/2013). Dessa forma, o aborto – que é legalizado em casos de estupro, riscos de morte à mulher e anencefacilia fetal – continua sendo de difícil acesso no país. Os dados comprovam esta dificuldade: segundo pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), menos de 4% dos municípios brasileiros realizam o procedimento, resultando na sua falta de seu acesso por quase 60% das mulheres do país.
De acordo com Helena, outra razão pela qual não se tem oferta ao aborto legal é o fato de "não conseguirmos mudar a realidade complexa da violência baseada em gênero apenas com leis”. Na verdade, a raiz desse problema está na existência de uma sociedade misógina e patriarcal, em que é recorrente a banalização da violência sofrida pela mulher e a culpabilização da vítima pelo o que viveu. “Muitas mulheres não denunciam as agressões sofridas porque sabem que diversas vezes serão novamente vítimas de uma violência institucional nesses espaços que deveriam ser de acolhimento (serviços de saúde, de segurança pública e de justiça)”, afirma a médica.
Ligado a isso, a obstetra conta que o direito da mulher à interrupção de sua gravidez é muitas vezes negligenciado pelos próprios médicos, e que isso a motivou a fazer parte do atendimento à vítimas de violência sexual: “ficou claro para mim que, diante da escassez criminosa (justificada por ‘objeção de consciência’) de médicos que assistem mulheres em situação de aborto por gravidez decorrente de estupro, eu tinha o dever de lutar pela melhoria da qualidade do cuidado dirigido a essas meninas e mulheres.” Esta negligência na área médica está diretamente ligada ao sexismo e o patriarcalismo enraizados e institucionalizados na sociedade.
É nesse sentido que traços culturais muito enraizados, como a objetificação, hipersexualização e assédios verbais e físicos sofridos desde a infância pelas mulheres trazem a ideia machista de que todos, menos a própria mulher, têm propriedade sobre o corpo dela. Dessa forma, desencadeando a opinião comum de que abortar seria um absurdo, pensamento vindo muitas vezes de pessoas que nunca passaram por uma situação em que sentiram a necessidade de abortar.
Além disso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 73 milhões de abortos são realizados no mundo todo ano, sendo estimado que 1 milhão destes são no Brasil – menos de 2000 dentro de condições legais. O resultado: a cada dois dias, calcula-se a morte de uma mulher em função de um procedimento mal feito. Esses dados colocam em evidência o impacto negativo da criminalização da prática sobre a saúde das mulheres e a importância de sua descriminalização.
Com estas estatísticas em vista, é fato que criminalizar o aborto não reduz em hipótese alguma suas taxas, mas empurra as mulheres às clínicas clandestinas, colocando mais vidas em risco. Afinal, como explica o ginecologista Jefferson Ferreira em entrevista para o jornal Brasil de Fato: “o que faz a mulher buscar não é se a lei permite ou proíbe; o processo para evitar uma gravidez indesejada vai muito além da lei. Ele passa pelo planejamento reprodutivo de alta qualidade, pela redução da violência de gênero, uma educação sexista… Enfim, passa por um monte de coisas que não necessariamente têm a ver com a proibição.”