À medida que a tecnologia avança, outras partes da vida pessoal também são determinadas por ela, e o romance não escapou dessa vez. Antigamente, o romantismo não era algo para se descartar, pelo contrário, os casais tinham um compromisso maior com os valores e família, mas também demonstravam que o amor era real. Com o tempo, tudo mudou, e por bem ou por mal, os relacionamentos também.
Só o Tinder -- um dos aplicativos de namoro mais usados no mundo -- coleciona mais de 75 milhões de usuários ativos mensais. E suas motivações para buscar relações através de APPs são diversas, inclusive por impulsividade, auto estima ou realmente a de encontrar um namorado ou namorada. Em entrevista para AGEMT, um usuário do Tinder que preferiu não ser identificado, não descarta a opção de conhecer um futuro namorado (a) pelo aplicativo: "Eu acho que as pessoas que estão em um aplicativo de namoro, estão querendo algo mais casual, para matar a carência. Mas mesmo assim, tem pessoas que estão buscando algo mais sério nesses aplicativos. Eu já me relacionei emocionalmente em alguns APPs de relacionamento que deram muito certo, e foi muito bom”, declarou.
Segundo uma pesquisa da Pew Research de 2023, cerca de 50% de todos os adultos com menos de 30 anos já usaram algum site ou aplicativo de namoro. Mas ao longo do tempo, esses apps de paquera foram saturando, principalmente porque os matchs eram baseados em fotos, reforçando um estereótipo. Agora, a maioria deles está usando Inteligência Artificial para que as combinações sejam mais perfeitas. Alguns usam testes de personalidade e de tipo físico para que os filtros fiquem cada vez mais certeiros na hora de dar um match com a pessoa ideal.
Eles estão cada vez mais inovadores em suas funções de cupido, mas será que é possível que possam identificar uma verdadeira conexão amorosa? O rastreamento de emoções não é algo totalmente fora da realidade, muitas empresas e aplicativos já fazem isso através de relógios que calculam frequência cardíaca, por exemplo. Mas essas ferramentas não conseguem dizer uma das maiores questões para os casais: saber se um relacionamento pode durar.
Para a estudante de psicologia e usuária ativa do Tinder, Maria Laura Souza, o aplicativo abre portas, mas se mal utilizado, vira um APP de pessoas descartáveis. “Na era do amor líquido e dos relacionamentos virtuais, os indivíduos passam a manter vínculos afrouxados a fim de desfazê-los rapidamente", é um trecho do artigo “O amor nos tempos do Tinder". Algumas pessoas acabam se validando por quantos matchs possuem, ou se as pessoas que elas gostam, curtem ela de volta.”, disse ela.
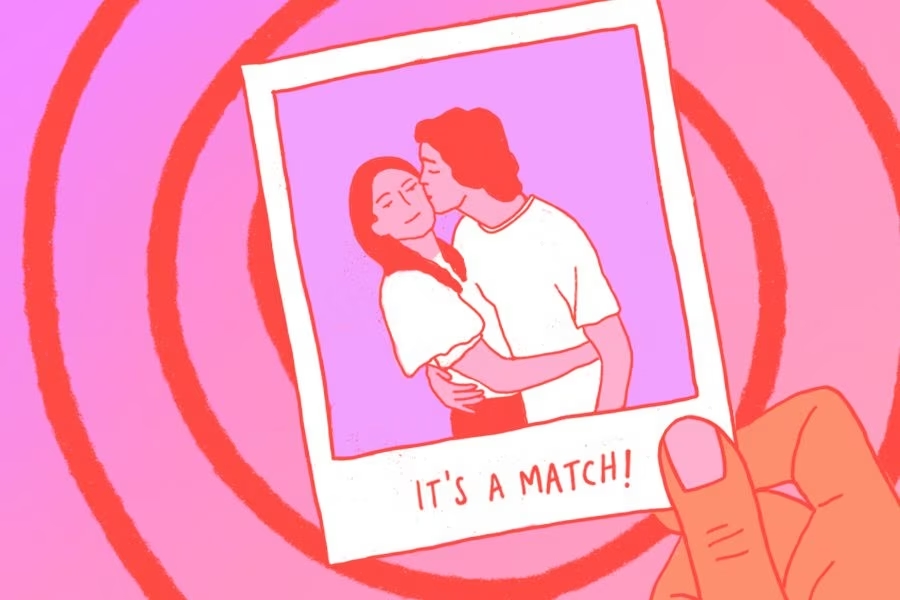
Um dos exemplos mais recentes sobre a combinação IA e amor, é o aplicativo Aimm, um tipo de casamenteiro digital que usa uma assistente virtual para realizar avaliações intensas de personalidade antes de “conduzir” o usuário a um casamento. Ele ajuda a encontrar a combinação ideal. Mas como um computador pode saber o que é o verdadeiro amor humano? A paixão pode ser traduzida perfeitamente através de uma máquina?
Só o futuro poderá dizer. Até hoje, os computadores funcionam através de bases de dados e algoritmos, juntando todas as informações sobre um usuário e suas atividades dentro do aplicativo. Se as inovações continuarem nesse ritmo, não seria impossível um computador identificar um sentimento.
Os APPs de relacionamento usam uma tecnologia chamada aprendizado por reforço, que aprende com o mecanismo de avaliação dos próprios usuários na plataforma e relatos sobre as experiências nos encontros. Além dele, as plataformas podem adotar ainda, mecanismos de rastreamento baseados no comportamento do usuário dentro do aplicativo, como a frequência de mensagens, tipos de perfis visitados e a duração das interações. Tudo que é captado vai para a base de dados do aplicativo, e cada vez mais, há a chance de acontecer um match muito bem combinado.
Para o usuário anônimo, os aplicativos de relacionamento não servem para substituir sentimentos e atitudes reais, mas eles vêm para somar. “Eu acho que as coisas acontecem naturalmente mesmo quando é online. Acredito que até hoje existe um tabu sobre conhecer as pessoas online, como se fosse algo ruim, pejorativo. E eu acho que encontrar pessoas na rua, no dia a dia, na vida real, é mais legal, tem uma certa mágica. Mas as relações que se constroem não dependem do como você conheceu a pessoa, a única coisa que muda é essa magia do primeiro encontro, por exemplo. Eu acho que pouco importa como você a conheceu na hora de construir uma relação.”, conclui.
A educadora sexual e especialista em relacionamentos, Sham Boodram toca em um ponto importante na série O Futuro (Netflix, 2023). Ela diz que "mesmo que a inteligência artificial seja uma ótima ferramenta para ensinar as pessoas a ter boas conexões, ela pode acabar evitando que essas pessoas aprendam a fazer boas relações por si só: Elas tem um programa que vai fazer isso pra elas, ao invés de você mesmo fazer”, diz Sham.
Há um certo medo implícito em ficar dependente dessa tecnologia nas relações pessoais e amorosas, principalmente por ser uma ferramenta frequentemente usada para conhecer pessoas novas e sair do seu próprio círculo social, o que pode ser um grande problema. Esses APPs ainda não são capazes de impedir completamente problemas como encontros frustrados, discriminação, racismo e assédio e podem reforçar pré conceitos que usuários não demonstravam antes deles.
A tecnologia pode ser vista como um facilitador de muitas tarefas diárias, até para o amor. Maria acredita que eles apresentam certos benefícios como o de iniciar novas conversas e ciclos, e expor pessoas a lugares que seu ciclo social não as levaria. “Um malefício, eu diria a superficialidade das relações, a sensação de que você pode ser descartado e a necessidade de validação por ter o melhor perfil para poder encontrar outras pessoas.”, concluiu a estudante.
É difícil prever as próximas inovações da IA dentro dos aplicativos de relacionamento, mas que vão facilitar o encontro de duas pessoas compatíveis, é algo certo. Cada vez mais certeiros nos matchs, os aplicativos podem ser um ponto de partida para um bom romance ou para uma grande decepção amorosa, coisas que só os humanos conseguem sentir, por enquanto. Agora, basta esperar e ver (ou experimentar) qual será a próxima descoberta que as IAs farão no mundo do amor.
A morte é algo presente na vida de todo ser humano. Esse fenômeno desperta diferentes emoções, reflexões e crenças em diferentes culturas, religiões e indivíduos. Recentemente, com ajuda da inteligência artificial, diversas pessoas têm a possibilidade de serem “recriadas”. Apesar de parecer loucura, bastam apenas áudios e imagens e diversas ferramentas podem “renascer” alguém. Esse novo “avanço” colocou em pauta a discussão sobre a permissão do uso da ferramenta e como diferentes culturas poderiam ser impactadas.
Para o povo Trojan, que vive em uma região central em uma das milhares de ilhas da Indonésia, é comum ver os cadáveres dos entes que já partiram dentro das casas. Isso acontece para que a família possa arrecadar o dinheiro suficiente para organizar um funeral digno. Em outras regiões do sudeste asiático, os defuntos são vestidos e levados para fazerem atividades que eram rotineiras na vida da pessoa, como por exemplo fumar um cigarro ou assistir ao pôr-do-sol. Em uma reportagem da BBC Brasil, a equipe foi até a região onde habitam os Trojans e visitaram uma das casas.
Ao chegar lá, a equipe pergunta se pode falar com o pai de uma das meninas. A jovem trata o já falecido pai como se ainda estivesse vivo, mesmo tendo partido a mais de 10 anos: “Pai, o senhor tem visita. Espero que você não se incomode.”

No Brasil, um dos recentes casos de recriação de falecidos ganhou notoriedade. Trata-se do produtor João Lee, de 44 anos, que utilizou da ferramenta para recriar a voz de sua mãe, a famosa cantora Rita Lee, que faleceu em maio deste ano. É muito comum encontrar recriações, principalmente vocal, de famosos nas redes sociais, majoritariamente no Tik Tok. Não é raro ver vídeos onde o já falecido Michael Jackson canta músicas do artista Bruno Mars ou até mesmo cantando músicas em português. Até mesmo o astro brasileiro Neymar Jr. virou cantor na rede social.
Outro país que tem uma ligação cultural muito forte com a morte é o México. No país latino, ao contrário de muitos países, o feriado do Dia dos Mortos é uma data feliz. Tradicionalmente, nos dias 1º e 2 de novembro, milhares de pessoas saem pelas ruas fantasiadas, com músicas e comidas típicas. Apesar dessas culturas passarem por diversas gerações, a possibilidade de recriar uma pessoa que faleceu, através da inteligência artificial, poderia mudar essas comemorações para sempre. Com isso, buscamos entender e buscar a opinião de pessoas que vivem nestes países e nessas culturas.
Em entrevista para a AGEMT, o mexicano Axel Solalinde, de 22 anos, opinou sobre a possibilidade das pessoas falecidas serem recriadas por inteligência artificial: “Acho que é uma forma muito legal de homenagear os falecidos, pois com a tecnologia poderíamos recriá-los em qualquer fase da vida deles”. O jovem também comentou sobre como essa nova tendência poderia impactar na tradicional cultura mexicana do Dia de Los Muertos: “Eu não acho que isso mudaria, mas seria uma ‘atualização’ do que já conhecemos. Não vejo problemas em usar a tecnologia atual, já que a celebração consiste em lembrar que a morte, que faz parte da vida, e em honrar a memória de nossos entes queridos. Podemos usar a inteligência artificial para inovar esta celebração”.

De fato, no caso da cultura mexicana, a inteligência artificial pode dar uma “nova versão” à tradicional comemoração. Entretanto, é necessário a permissão dos familiares ou a permissão do próprio falecido, em um testamento ainda em vida. Definitivamente, o futuro sobre as comemorações típicas da morte e como as culturas seguem suas tradições é incerto. A tecnologia é uma grande aliada para essa e para as próximas gerações, mas é impossível assumir se a recriação de pessoas que já faleceram fará ou não parte da cultura e do dia a dia das pessoas.
Todos os dias, por volta das 7h00min, André chega no trabalho, toma café e se posiciona em sua mesa. Depois de uma reunião com o restante da equipe, começa a escrever - é assim que ele e outros do ramo da programação chamam a prática de desenvolver linhas de códigos. Em meio a trabalhos mais abstratos e diferentes, surgem demandas mais básicas, que precisam de mais execução que criatividade; nesses momentos, ferramentas de inteligência artificial são acionadas. André Luís deixou o Recife-PE há quase quinze anos. Em São Paulo, encontrou oportunidades de estudo e trabalho. Trabalha na mesma empresa, do ramo de tecnologia, desde 2018, em muitas funções. Já foi auxiliar administrativo, mas hoje trabalha numa função que lhe agrada mais: é um desenvolvedor júnior, responsável pela programação de softwares para outras empresas, fato que comprova o crescimento do mercado tecnológico.
Essas tecnologias estão assumindo cada vez mais protagonismo na área de programação - e assustam: uma pesquisa recente da Microsoft aponta para esse cenário: 49% dos entrevistados estão preocupados com a possibilidade de serem substituídos por inteligência artificial. Economistas do banco Goldman Sachs, estimam que 300 milhões de empregos poderão ser totalmente automatizados com esse tipo de ferramenta. O setor de programação e desenvolvimento, entretanto, não é o único mercado afetado pela tecnologia nos últimos anos. Ricardo Antunes, sociólogo, escritor e professor da Unicamp, considerado o maior especialista em trabalho do Brasil, conta que alguns dos muitos trabalhadores impactados por tecnologia são os entregadores e motoristas de aplicativo.
Esses profissionais passam por um processo chamado de “trabalho intermitente”. Os aplicativos dão duas escolhas ao trabalhador: ou recebe, ou descansa. Se o entregador parar para descansar e fechar o app, não será recomendado para uma entrega tão cedo; se o motorista recusa corridas para almoçar, idem. “Entre o almoço e a janta, e entre o café da manhã e o almoço, são horários com menos demanda. Eles [entregadores] ficam parados e não recebem. É criminoso, mas é assim que funciona. E o fato de ser intermitente faz com que os algoritmos paguem o que quiserem, explica Ricardo Antunes.
Apesar das críticas, o pesquisador diz não ser contra o avanço tecnológico, e sim contra o modelo capitalista vigente. “A tecnologia existe na humanidade desde o primeiro microcosmo familiar. O capitalismo mudou a tecnologia para ser um instrumental para acumulação de mais riqueza”, afirma.
UNIVERSO DA PROGRAMAÇÃO
André é especialista em “C#” (a pronúncia é C Sharp), uma das várias linguagens de programação existentes, assim como Java, HTML e Python, por exemplo. Ele conta que a parte mais difícil de seu trabalho não é escrever os códigos, e sim decifrar como “traduzir” uma ideia inicial na linguagem de programação. “Você tem que escrever algo que outros programadores possam entender, pra que eles não gastem dias tentando decifrar seus códigos”, conta. Há algumas estratégias para isso.
As inteligências artificiais ajudam, principalmente, na execução de tarefas repetitivas que demorariam muito mais para serem concluídas sem o uso delas. André conta que, quanto mais específico o pedido para a IA, maiores são as chances de um desempenho satisfatório. A assertividade de uma inteligência artificial depende dos dados que ela recebe. Vinicius Cassin, 29, também é desenvolvedor e trabalha como SRE (sigla em inglês para engenheiro de confiabilidade de sites) para a BEES, célula tecnológica da Ambev. Ele passou a utilizar inteligência artificial no dia a dia do trabalho há seis meses; desde então, o ganho foi tanto que a empresa resolveu adquirir uma versão do ChatGPT, da Open AI, para uso interno - e parar de fornecer dados para a versão aberta do site.
“O ChatGPT é assustador”, conta Vinicius. “Há muita coisa que eu não sei, e que em vez de comprar um curso para resolver um problema, eu só digitava lá e ele fazia para mim”. Ele relata que usa a IA como um bom apoio no desenvolvimento de sua função.
O MEDO
Em recente visita ao Brasil, Sam Altman, cofundador da Open AI, empresa criadora do ChatGPT, admitiu que, sim, o mercado de inteligência artificial vai causar desemprego: "Achamos que muitos empregos vão desaparecer, isso acontece em toda revolução tecnológica, mas muitos empregos vão melhorar. Eu acho que vamos ver impacto em todos os lugares. A sociedade pode regulamentá-la, mas não vai impedir isso de acontecer", afirmou o ex-executivo que foi contratado pela Microsoft para desenvolver projetos de IA.
Apesar do uso majoritariamente positivo das IAs, André Luís admite que essas tecnologias assumem funções básicas que anteriormente eram realizadas por programadores humanos. O GitHub Copilot, por exemplo, é um serviço de inteligência artificial que pode substituir facilmente um auxiliar ou um funcionário de suporte em alguns casos.
Ricardo Antunes afirma que, mesmo com seus evidentes benefícios, as inteligências artificiais tem um objetivo claro: substituir o trabalho humano - e isso pode causar um desemprego monumental. Para ele, as IA's são "um demônio contra a humanidade" quando poderiam ser um instrumento favorável - isso, porém, depende do sistema que molda a inteligência artificial. Hoje, é o "capitalismo destrutivo". Ele também conta que o cenário é mais preocupante do que a Open AI assume ser, e dá um exemplo hipotético: para cada 100 empregos eliminados, surgirão outros dez. A conta não fecha. É por isso que Elon Musk, dono do Twitter, e outras grandes high techs como Google, Microsoft e Amazon assinaram uma carta (divulgada em março de 2023) pedindo que os laboratórios de IA “parem imediatamente” o treinamento de sistemas mais poderosos que o ChatGPT4. É muito fácil se iludir com os primeiros passos. O capitalismo agora teme sua criação.
Por Davi Garcia (texto) e Matheus Santariano (audiovisual)
Letícia Dias tem 24 anos e é mais conhecida como “let”. No silêncio da noite, sentada em sua cadeira, ela tem um único objetivo e os olhos vidrados na tela de seu computador. O brilho do monitor reflete em seu rosto e mostra uma grande determinação, ele não está jogando apenas um jogo, está perseguindo um sonho de competir nos maiores palcos virtuais do mundo. Nos últimos anos, os esportes eletrônicos, ou e-sports, emergiram na indústria global em um enorme crescimento, atraindo jogadores de todas as idades e origens. No entanto, por detrás do glamour dos torneios, do dinheiro e da fama dos profissionais dos games, há histórias pessoais de sacrifício, resiliência e superação, que exigem muito do psicológico de quem escolhe essa carreira.
Let é jogadora profissional de VALORANT e já participou dos maiores campeonatos do Brasil, chegando em oito finais e conquistando três títulos. Quebrando qualquer estigma ou predefinição da sociedade, conheceu e se apaixonou pelos FPS (first person shooting) ainda com 12 anos. Não teve muito a presença de amizades femininas em sua adolescência, devido a estar sempre em lan houses assistindo seu irmão.
Foto: Reprodução / B4
À medida que viajamos através de suas experiências, vamos mergulhar no cenário atual dos e-sports, onde o brilho das competições é equilibrado pelas complexidades da saúde mental e a pressão de sustentar famílias. Para os jogadores novos, o caminho parece ser longo e cheio de desafios. A desconfiança dos pais pode ser um grande obstáculo difícil de ser superado antes que os resultados apareçam. Muitas vezes eles desejam um futuro estável e tradicional para seus filhos, e a ideia de seguir uma carreira “jogando videogame” pode ser vista com ceticismo. A paixão e o comprometimento que o jovem leva para o jogo são os primeiros passos em direção ao seu sonho e o principal “combustível” para assim conseguir convencer os familiares. Com dedicação, comunicação e mostrando o potencial que o atleta possui, ele pode gradualmente conquistar a confiança de seus pais e provar que este é um caminho válido e promissor. Mas pode haver problemas a enfrentar.
Let conta que seu início não foi nada fácil, principalmente com a desconfiança das pessoas que mais ama, quando chegou a largar o competitivo para cursar Medicina Veterinária. Porém, com o lançamento de VALORANT na pandemia, a hora de Letícia tinha chegado. Por fim, também conta de seu início complicado no Counter-Strike: Global Offensive, onde estava na fase considerada decisiva para estudos e seus pais eram contrários, com o argumento de ser algo sem futuro e que não dava um rumo para a vida. Contudo, Let queria ser diferente, não desistiu até chegar ao seu sonho e conseguir mostrar para seus pais que conseguiu
Foto: Valorant ZONE / Loud
Quando chegou o lançamento do VALORANT, era a sua hora. Ela começou a ter uma carreira profissional, com salário, apoio na área de saúde, escritório para treinamentos, então só assim os pais da jovem reconheceram os E-sports como uma profissão, e que Letícia Dias poderia viver disso. Seu pai virou seu maior fã, tendo uma coleção de camisa de todos os times que passou. Além da desconfiança dos pais, os jogadores muitas vezes se deparam com preconceitos presentes no mundo dos games. É um cenário onde estereótipos de gênero, idade e até mesmo habilidade podem criar barreiras. Como mulher, essas situações se agravam drasticamente, com diversos comentários misóginos sendo direcionados às atletas. Ainda assim, Let se mantém esperançosa e firme nessa batalha, vendo como algo que é de muito tempo dentro dos jogos, onde já se teve uma evolução, mas que a luta não pode parar de jeito nenhum. Mesmo o preconceito incomodando e mexendo com aquelas que querem uma carreira nos esportes eletrônicos, a vontade de vencer de Let é ainda maior, e ela já provou isso.
Foto: Reprodução / LOUD
.
É fundamental lembrar que talento e paixão não têm gênero, idade ou cor. À medida que eles avançam em suas jornadas, podem se deparar com comentários desagradáveis ou resistência de outros jogadores e espectadores. Afinal, em uma posição de imagem pública que os atletas ficam, estão suscetíveis ao linchamento virtual e golpes baixos no psicológico. Let sabe que não é fácil, ainda assim, toma todos os cuidados possíveis para se manter nos trilhos, indo atrás de cuidados para a saúde mental em lidar com a toxicidade do público no cenário inclusivo, onde chega a ser muito pior, para que não a afete tanto. Com o passar dos tempos existem mais pessoas que se unem para combater esses preconceitos, o cenário está evoluindo. Quem está começando agora têm a oportunidade de desafiar essas normas antiquadas, demonstrando que o talento e a dedicação são as únicas métricas que realmente importam. À medida que ganham experiência e constroem suas reputações, criam um grande legado pelo caminho. Essas histórias, repletas de desconfiança, sacrifícios financeiros, e uma paixão inabalável, revelam um lado do mundo virtual que muitas vezes passa despercebido.
Por Rodolfo Dias (texto) e Ian Valente (audiovisual)
Os melhores dias para visitar o Louvre são na segunda e na quinta, como ele fecha às terças, na quarta-feira é lotado, assim como na sexta e fim de semana, o museu mais famoso do mundo recebe cerca de 190 mil visitantes por semana, para aproveitar suas 35.000 exposições. Na minha primeira visita ao site oficial do “forte” Francês, a primeira imagem que me deparo é com a Mona Lisa, a inestimável pintura de Leonardo da Vinci com os dizeres “Welcome to the Louvre”. A arte mais famosa do mundo marca o Renascimento, as técnicas usadas com a genialidade de seu criador a tornam única, e a estranheza de suas histórias que passam por roubos, tentativas de destruição e por ser pintada em madeira são o atrativo para a maioria dos visitantes do museu, que lotam a Salle des États o maior salão do local.
Continuando o tour pelo site, saindo do que seria os pontos altos do local, rolando um pouco o mouse para baixo, me deparo com a aba Louvre at home, como uma visita ao espaço sem precisar estar na frança, de casa é possível conhecer as lendárias paredes do museu. Entre as atrações possíveis de “visitar” em casa está a tal da Mona Lisa, porém em realidade virtual, um jeito de conhecer a mística criação sem precisar visitar a Europa, pegar horas de fila e enxergar por trás de um vidro espesso a prova de balas, a bela Mona Lisa.
A constante mudança na forma de fazer arte impacta diretamente na forma de vendê-la, para uma instituição como o Louvre a renovação de algo criado a 500 anos atrás é necessária, apesar do alto número de visitas feitas à obra, e seu valor em dinheiro inestimável, são muitos os motivos que levam o museu a adotar uma estratégia de interação digital, visto como um paradigma a artistas que trabalham com a tecnologia contemporânea, a utilização da internet é capaz de aproximar as pessoas da arte - É esse lugar que eu tento desvendar com a arte, a gente não pode negar que ela ajuda o desenvolvimento - Comenta Fernando Velázquez, expoente artista visual de São Paulo.
Velázquez além de artista é curador e professor, nascido em Montevidéu (Uruguai) atualmente reside e trabalha em São Paulo, suas principais expressões artísticas vão de encontro com o desenvolvimento tecnológico presente na sociedade contemporânea. Multimidiático, suas obras misturam os aspectos que ligam a arte à tecnologia. Com objetos interativos, elementos audiovisuais e a sustentação do algoritmo nas lógicas de programação, a arte do uruguaio é responsável por reunir a capacidade de percepção intrínseca ao corpo humano com os meios tecnológicos, misturando a arte com fatores científicos, filosóficos e antropológicos.
O artista afirma que a criação de artes relacionadas com a tecnologia é algo intrínseco na sociedade, que a sua evolução depende da relação dos artistas com as diferentes formas de inovar o seu trabalho com tais tecnologias. Considerar a arte como um complexo de ‘’coisas’’ conclui Velázquez, para ele é impossível defini la, já que caso ela seja, o seu caráter subjetivo, o de cada indivíduo interpretar de uma determinada forma, morrerá, impedindo a formação de um campo humano que trabalha justamente com imaginário.
A tecnologia constantemente associada como sinônimo de progresso, ressaltando a sua capacidade de compartilhar conhecimentos de forma instantânea e por permitir a interação entre vários setores, países, culturas e opiniões de forma global, pode apresentar perigos existentes nos meios tecnológicos, sobretudo com o desenvolvimento das Inteligências Artificiais (IA’s), capazes de reproduzirem algoritmicamente características até então monopolizadas pelos seres humanos, a mesma tecnologia capaz de auxiliar o desenvolvimento sociocultural é capaz também de cercear o fator humano das fontes relacionados ao desenvolvimento cultural.
Por serem criadas pelos humanos, esses meios estão, também, propícios a repetir nossos próprios erros e preconceitos. Como o seu desenvolvimento ocorreu de forma mais acelerada nos países colonizadores, elas, consequentemente, foram infectadas com a perspectiva de que o mundo está à mercê do homem branco europeu ocidental que segue tendo o protagonismo da humanidade. Ou seja, as Inteligências Artificiais podem ter alta capacidade de reproduzir o racismo, a homofobia, o machismo, entre outras mazelas, o assunto gera polêmica, mas para Velazquez a construção disso carrega responsabilidades, como indivíduos consumidores destas tecnologias intrínsecas na sociedade, é necessário pensar e analisar o viés desta inteligência.
Um terreno vasto e ainda muito inexplorado que depende de caminhos criativos para, por enquanto, dominar uma arte sem preconceitos. Em sua exposição Rituais da Complexidade, Velázquez consegue expressar artisticamente uma dualidade entre o passado e o futuro, o humano e tecnológico. Nela, imagens são criadas a partir de experiências que envolvem o uso das IA’s obtidas a partir de algoritmos manipulados pelo autor que aprendem e geram novas figuras através do hibridismo, resultado do encontro de estéticas diferentes, como a grega com a africana que, posteriormente, foram impressas por impressoras 3D e expostas. Refletindo sobre a Pós-modernidade, cria-se uma manifestação crítica a respeito de um passado que sequer existiu, bem como de um futuro que mistura arte e tecnologia de outras fontes de conhecimento que fujam de qualquer perspectiva eurocentrista.
Em um panorama, as manifestações artísticas estão sempre ligadas ao objetivo imagético de seu autor, as tecnologias que disparam na atualidade e dominarão potencialmente o futuro destas demonstrações culturais, acompanham as motivações de seus criadores, oligopólios massivos dominam o que há de mais novo no quesito tecnológico, empresas como Google, Microsoft e Meta são alguns nomes consideradas “Big Techs” que detém as melhores e mais novas ferramentas para impulsionar os avanços como lhes convém. Fernando Velázquez conclui falando sobre o papel dos artistas independentes que, diferentemente do Louvre, devem usar as tecnologias para “quebrar” sua lógica programada, criar processos que fujam a todo custo de uma ideia hegemônica e impositiva.



