Em menos de um mês, mais de 160 nações se reunirão na cidade de Belém, capital do Pará, para discutir ações necessárias para mitigar as consequências das mudanças climáticas. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, será palco de negociações em relação à diminuição de emissão de carbono e a restauração da camada florestal. Na agenda oficial, não há nenhuma menção específica sobre destruição ambiental em conflitos armados. É importante notar que o mundo enfrenta ao menos 130 conflitos armados, de acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em diferentes medidas que atacam diretamente a saúde e as condições do meio ambiente. Dessa forma, ambientalistas e pesquisadores da área reforçam a importância de abordar o tema, a responsabilização dos crimes e, sobretudo, como o assunto pode ser levantado em eventos paralelos.
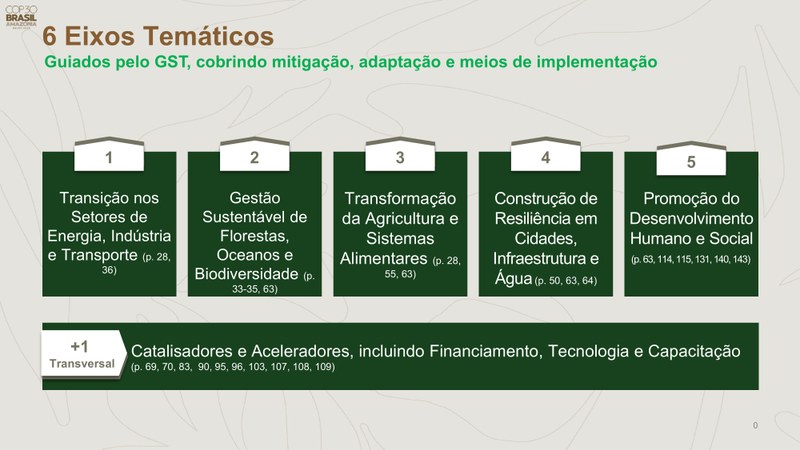
Em fevereiro de 2022, forças armadas russas ocuparam a região próxima à usina de Kakhovka, na Ucrânia. Em outubro, a hidrelétrica foi destruída. Além de 80 localidades estarem sob risco de inundação, entre elas casas, fábricas, prédios e parques, as minas, artilharias explosivas usadas em guerras e carregadas de metais pesados, contaminaram quilômetros dessas águas. Outras 600 toneladas de petróleo bruto vazaram das instalações industriais, provocando mais uma vez destruição ao ecossistema.
A Rússia pode ser penalizada pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por utilizar o meio ambiente como arma de guerra, segundo autoridades ucranianas. A Ucrânia acusa o país inimigo de ter provocado a explosão da barragem Kakhovka que resultou na contaminação das águas por agentes químicos - é o que informa a REACH, organização humanitária que coleta dados durante ataques e desastres ao meio ambiente.
Em Gaza, fontes de bombeamento de água foram atacadas por Israel e mais de 200 mil redes de esgotos estão inutilizáveis, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas). Os poços foram contaminados com mercúrio e outros agentes químicos referentes às bombas militares, deixando as pessoas sem acesso à agua potável.
De acordo com o Direito Internacional Humanitário, é crime atacar o meio ambiente ou utilizá-lo como método de guerra para atacar a população. No entanto, ambientalistas não acham que a punição apenas durante a guerra seja o suficiente. Segundo Tarciso dal Maso, consultor legislativo do Senado para assuntos internacionais e ex-consultor jurídico do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o que eles defendem é que as consequências e penalidades desses crimes não sejam isoladas e contabilizadas apenas em momentos de guerra. Qualquer ataque generalizado contra a natureza deve ser julgado, de acordo com os ativistas. “Há um movimento de criar um Direito Penal Ambiental Internacional", afirma dal Maso. De acordo com esse especialista, XXX reivindicam que os crimes contra o o meio-ambiente seja qualificado como “Ecocídio”.
Para a Stop Ecocide Foundation, um movimento internacional, criado em 2017, que aconselha representantes e organizações políticas sobre o desenvolvimento sustentável, o “‘ecocídio’ significa atos ilegais ou arbitrários cometidos com conhecimento de que há uma probabilidade substancial de danos graves, generalizados ou de longo prazo ao meio ambiente serem causados por esses atos.” Essa mudança cria, segundo a fundação, uma “responsabilização aos tomadores de decisão” e uma melhor investigação sobre os perigos e as ameaças realizadas. Desse modo, será possível criar protocolos de segurança adequados para a proteção tanto da natureza, quanto das pessoas.
"Têm vários episódios que colocam a destruição ambiental como uma estratégia no conflito armado”, destaca Terra Budini, professora de Relações Internacionais e do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais na PUC-SP. Ela relembra a utilização de Agente Laranja, herbicidas e químicos, utilizados pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e em outras guerras civis na América Central.
Budini e Dal Maso concordam que a discussão do crime contra o meio ambiente na COP30 não –é protagonista porque envolve interesses econômicos e políticos. Esse tema aparece em eventos paralelos, como a Cúpula dos Povos, que “tendem a acolher debates mais amplos, mais críticos e a conectar esses temas com a discussão de Justiça climática, direitos da natureza e defesa dos territórios”, afirma a internacionalista.
Na visão da internacionalista, há três razões principais pelas quais o “ecocídio” não seja debatido de forma mais presente: a dificuldade de comprovar a intencionalidade do uso do meio ambiente como arma de guerra, as consequências desse tipo de destruição ficarem evidentes a médio ou a longo prazo e a modernidade tratar o ambiental com menos emergência. “O regime internacional humanitário sempre priorizou as consequências humanas mais imediatas dos impactos dos conflitos, como ataque contra civis, refugiados, deslocamentos forçados, e mortes”. Budini não destaca a importância da urgência.
Até o momento, nenhum país ou pessoa foi condenado por destruição ambiental em um contexto de guerra. “Isso se deve em parte à definição vaga no direito internacional”, destaca Aaron Dumont, pesquisador de questões ambientais no direito internacional na Universidade Ruhr de Bochum, na Alemanha, para a imprensa local, DW.
Por Vítor Nhoatto
Andando pela rua já não é tão difícil se deparar com o rodar silencioso de um carro movido a bateria (BEV). Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a venda deles no Brasil mais que duplicou de 2022 para 2023. Além disso, os emplacamentos no ano passado atingiram 61.615, o triplo do ano retrasado. Por fora, pode ser que essa tendência de mercado não seja tão perceptível. Muitas das versões elétricas dos modelos são iguais às suas movidas a combustível (ICEV) na aparência. Mas alguns de fato chamam a atenção, como conta Leandro, motorista de aplicativo que decidiu embarcar na onda da eletricidade há um ano.
Logo quando o BYD Dolphin GS se aproxima, a ausência de barulho e o tranco ao diminuir a marcha fazem muitas pessoas sorrirem, conta ele. E do lado de dentro já é como um ritual um “wow” e a pergunta se o carro é elétrico, enquanto o hatch parece flutuar no asfalto deixando os outros veículos no semáforo para trás com o torque instantâneo do motor. Apesar disso, a invenção não é recente, pelo menos a sua origem. Foi ainda no século XIX que Gaston Planté inventou as baterias recarregáveis, e a tecnologia se tornou lei no mercado de veículos até cerca de 1910. Barulhentos e sujos, os ICEV minguavam, até que a descoberta de reservas de petróleo, os interesses geopolíticos, e a invenção do acionamento automático dos motores fez o jogo virar, e as baterias de chumbo dessa época foram abandonadas.
Em meio a décadas de fumaça, poluição, lobbies entre petrolíferas e governos, e a necessidade de combate às mudanças climáticas, a tecnologia foi retomada no século 21. Os carros passaram de um bem de luxo, para objeto de paixão, até necessidade diária, tal qual Leandro vê o seu Dolphin, e o setor dos transportes responde por um quarto de todo CO2 emitido no mundo segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). É só olhar para as ruas, quanto mais estrada, mais carro. Com isso, em 2008 a Tesla lançou o primeiro BEV do século 21, agora com uma bateria de íons de lítio, o Roadster, e em 2010, o Nissan Leaf se tornou o primeiro elétrico do mundo produzido em grande escala.
Falando em grandezas, não é possível que todo esse conforto, desempenho, sustentabilidade e tecnologia venha de graça. Leandro comenta que muitos lhe perguntam ainda como deve ser caro comprar um BEV. Olhando para a oferta de mercado, hoje no Brasil o elétrico e o ICEV mais baratos do país são o Renault Kwid, vendido por R$99.990 na versão E-tech, e R$67.290 para a versão Sce Flex. A diferença no custo inicial de aquisição ainda é considerável, e no caso de Leandro, que tinha como companheiro de trabalho há sete anos um Chevrolet Onix, ele teve que colocar boa parte a mais em dinheiro para fazer a troca.
No entanto, a dinâmica de mercado vem mudando, e por isso mesmo que as vendas crescem e muitos motoristas vêm apostando nisso. De acordo com levantamento da empresa de consultoria JATO dynamics, o preço médio dos BEVs vem caindo consideravelmente nos últimos anos, chegando a 15% e 25% entre 2018 e 2024 na Europa e nos Estados Unidos respectivamente.

Para entender melhor essa equação, o preço se deve principalmente pelas baterias, que representam quase metade do valor do veículo e tem sua produção envolta por questões geopolíticas, e o país asiático detém as maiores reservas de minerais e a maior concentração de fábricas de imãs e baterias. O Departamento de Tecnologia dos Estados Unidos apontou que com isso, entre 2008 e 2023 o preço de produção das células de energia dos elétricos caiu 90%, indo de $1.415 dólares por cada kilowatt (kW) para apenas $139 dólares. Além disso, projeções indicam que até 2027 o custo de produção dos BEVs será menor que dos ICEVs, chegando então à equiparação nos preços de aquisição.
Agora de volta à prática, e ao banco do motorista do Dolphin de Leandro atualmente, já com 45 mil quilômetros rodados, esse valor já se paga sozinho. Ele conta com um sorriso de alegria e até um ar de astúcia pela decisão que tomou ao comprar um elétrico, que antes com o Onix, gastava em média R$2 mil de combustível por mês, e agora nada. Fazendo em média 30 viagens por dia, ele explica que carrega o carro à noite em casa, e possui placas solares, não pagando mais conta de energia. Nesse caso, a sua economia já chega perto de R$24 mil nesse primeiro ano, e em 4 anos, o tempo que ele geralmente fica com um carro, vai chegar a R$96 mil. Enfim, ele frisa bem que isso literalmente paga qualquer custo que ele possa ter a mais.
Até mesmo ao calcular uma economia real para a maioria dos brasileiros sem placas solares, que segundo Leandro é enorme mesmo que se pague a energia que o carro consome, chega-se a seguinte razão: levando em conta o preço da energia em São Paulo em outubro de 2025 (R$7,87 por 100kWh) e a bateria do Dolphin GS (44,9 kW de capacidade), cada recarga completa custaria menos de R$3,90. Em um mês carregando todo dia, o gasto seria de R$117, menos que um tanque cheio de etanol de um Chevrolet Onix, por exemplo.
Mas não é só de reabastecimento que um carro sobrevive, e a manutenção programada deve ocorrer e acaba pesando no bolso. O nome disso é valor efetivo total por quilômetro rodado, e que também é menor nos elétricos, pelo menos na teoria. O Departamento de Energia dos Estados Unidos estipula. O custo de manutenção para cada milha rodada em um ICEV era de cerca de $0.10 dólares em 2021, enquanto que para um BEV, apenas $0.60 dólares. Por não possuírem fluidos e peças como óleo de motor, correia dentada, filtro de motor e velas, demandam também revisões menos periódicas.
Comparando por exemplo a versão elétrica e flex do Renault Kwid, em ambos a manutenção programada deve ocorrer a cada 10 mil quilômetros ou um ano, mas o preço das três primeiras revisões do BEV é de R$160, R$204 e R$204 respectivamente, ao passo que para o motor 1.0 Sce é de R$556, R$622 e R$622, mais que o triplo.
Partindo para a prática, em mais uma viagem silenciosa esse monte de números refletem uma realidade bem tentadora no mínimo. São seis horas da tarde em plena capital paulista e o momento do show é totalmente do trânsito em horário de pico. Um trecho que se faria em 20 minutos leva não menos que uma hora, e em meio a isso, motores explodindo, queimando dinheiro parados. Mas para Bruno Nunes não mais.

Também motorista de aplicativo e proprietário de um Dolphin GS, responde com tranquilidade quando lhe perguntam sobre a manutenção do veículo, relaxando os ombros e começando com um “ah” de alívio. O hatch já com 2 anos de uso, 50 mil km rodados, e há três meses com Bruno sempre teve as revisões realizadas, e de graça, oferecida para os clientes BYD nos primeiros cinco anos, e nenhum problema inesperado ou barulho indesejado.
Seu carro anterior era justamente um modelo japonês, conhecidos pela durabilidade e confiança, no caso dele um Toyota Etios, mas que como qualquer carro, a manutenção programada é essencial. Mas além disso, nos veículos elétricos a frenagem transforma a força cinética das rodas em energia elétrica, recarregando a bateria e preservando a vida útil dos freios, e em média um elétrico tem 20% das peças de um ICEV.
O principal motivo para Bruno ter trocado seu Toyota flex por um elétrico foi essa questão da durabilidade somada à economia. Se hoje ele roda por São Paulo em horário de pico, é graças ao novo companheiro de trabalho. Antigamente ele trabalhava no período da madrugada para economizar combustível, já que mesmo parado, o combustível não para de queimar. Foram anos nessa vida, ele conta com os olhos mareados, e muitos momentos perdidos com a esposa, algo que ele não queria desperdiçar mais, ainda mais com uma filha que está por vir.
Segundo um estudo de 2024 da Atlas Public Policy a pedido do Natural Resources Defense Council (NRDC), a economia no custo total de propriedade de um veículos elétrico ao longo de um ciclo de vida de 7 anos chega a $10 mil dólares comparando um Toyota Corolla e um Chevrolet Bolt por exemplo. A base de cálculo leva em consideração justamente tudo que possuir um carro engloba: o preço inicial de compra, desvalorização média dos modelos levando em conta a Tabela FIPE, os custos de manutenção e reparo, seguro e impostos. Além disso, o órgão reitera que casos de contas absurdas de reparo das baterias são muito raros, e a segurança das células de proteção garantem esta integridade e não faz sentido levá-las em consideração na ponta do lápis.
Chegado o fim de mais uma viagem de Bruno, e o asfalto agora já visível com o fluxo em horário de descanso, o motorista volta para casa, agora como em um horário de emprego convencional graças ao elétrico. Sem arrependimentos da sua decisão, lembra que a eletricidade já é o presente, e o medo do senso comum em torno da bateria até podia preocupá-lo antes do seu Dolphin, mas não mais.
Ansiedade chamada de necessidade
Ao mergulhar nessa questão das baterias, de fato pode parecer intrigante. A experiência com elas é majoritariamente a que se tem com os celulares, e todos sentem como a duração diminui entre as corridas para lá e pra cá. Imagina-se então que isso ocorra também com os BEVs, só que aqui sendo um objeto muito mais caro e que deve rodar muitos anos.
Falando em andar, Maurício Barros é especialista nesse quesito, e garante risonho que nesse sentido, um carro não é como um celular gigante com quatro rodas. Proprietário de um Peugeot e-208 entre 2021 e 2023, rodou mais de 50 mil quilômetros com o seu primeiro elétrico, tendo viajado pelos quatro cantos do Brasil, e até para o Uruguai. Hoje ele desbrava o continente com um BYD Yuan Plus, também elétrico, e conta empolgado como foi realizar a viagem mais longa já realizada com um BEV na América do Sul, passando por dezenas de países.

Dias e noites, culturas diferentes e muita poeira durante a aventura, que já havia realizado de maneira parecida de moto e camionete diesel anteriormente. Maurício conta que saiu de São Paulo com o hodômetro do Yuan Plus de seu amigo marcando 160 mil km e 92% de capacidade da bateria, segundo medição da fabricante. Depois de 39 dias, e quase 20 mil km a mais, o mesmo teste foi realizado e estava exatamente com os mesmos 92.
Segundo estudo de 2025 da companhia de telemática automotiva Geotab, que reporta desde 2019 a durabilidade na prática de BEVs, uma perda de apenas 1.8% na capacidade é esperada por ano, corroborando no caso do Yuan Plus aqui tratado. Essa diminuição é apontada como um assentamento natural da química das baterias e diminui ao longo do uso, apontando para uma vida útil das baterias na maioria dos casos em 20 anos ou mais, ultrapassando inclusive os 15 anos estimados dos ICEVs. Nesse estudo foram analisados 10 mil veículos, e concluiu-se também que o carregamento rápido de corrente contínua (DC) não degrada na prática as baterias como se pensava, e o uso de elétricos de alta performance e por longas distâncias também é insignificante.
Diferente dos celulares, o gerenciamento térmico das baterias dos carros é muito mais eficiente, resistente e necessário. E isso é importante porque é especialmente a temperatura que afeta a durabilidade e desempenho das baterias. Não é por acaso que as marcas de celulares recomendam prestar atenção se o aparelho esquenta demais. No caso dos carros, esses sistemas de gerenciamento de carregamento e refrigeramento das marcas evoluíram muito, por exemplo, a degradação natural de um Nissan Leaf era de 4.2% ao ano em 2015, e em 2019 já havia diminuído para 2.3% apenas.
Corroborando com esses dados, a maioria das marcas que vendem elétricos hoje em dia oferecem garantias de 8 anos ou mais, como a BYD do Yuan Plus de Maurício. Se a bateria do carro apresentar problemas de funcionamento ou atingir menos de 70% de capacidade nesse período, ou com menos de 500 mil quilômetros rodados, ela é trocada gratuitamente pela marca, desde que as manutenções periódicas tenham sido realizadas.
Porém, há muito se sabe que quebrar preconceitos e educar a população é algo que demanda bastante tempo e ações. Por isso que a desvalorização dos elétricos ainda é mais alta que dos carros a combustão. De acordo com a ferramenta Preço e Referência de Mercado (PRM) da Bright Consulting, em 2024 a desvalorização média dos BEVs foi de 9% ao ano, enquanto a dos ICEVs se manteve em 6%, devido principalmente a insegurança em adquirir uma tecnologia ainda muito nova e em constante evolução.
Sobre isso Maurício lembra de quando vendeu o seu Peugeot em 2023, por menos da metade do valor que pagou em 2021. Como ele comenta, na época foi frustrante, mas com um leve risco de algo que já era de se esperar, ele destaca que é o comportamento de toda inovação que chega às massas e vê um aumento de concorrência absurdo. O Kwid E-Tech quando lançado em 2022 custava R$142.990, e o elétrico mais barato no Brasil há sete anos era ainda mais caro que isso, o que mudou também pela ascensão da China nesse tabuleiro.
Quando o BYD Dolphin e o GWM Ora 03 foram lançados no Brasil em julho e agosto de 2023 por R$149.990 respectivamente, muitos rivais derrubaram o preço de seus modelos. Anunciado em abril de 2023 pela Hyundai por R$289.990, o Kona elétrico passou a custar em agosto R$100 mil a menos, por exemplo. Em seguida, a francesa Peugeot fez o mesmo com o e-2008, anunciado em novembro de 2022 por R$259.990, reduzido para R$209.990 em julho de 2023 e R$169.990 em dezembro.
Tudo isso fez visivelmente o preço despencar, e quem pagou o preço caro de antes, arcou inevitavelmente com a guerra de preços que se configura no mercado com o aumento da oferta, como explicou Maurício. Hoje com um BYD, inclusive, conta que optou pela marca justamente pelo custo benefício do carro, mais potente, com maior autonomia, mais equipado e maior que o seu antigo e-208, o qual na época custou mais caro que o chinês.

Com esse amadurecimento de mercado e do consumidor a disparidade na desvalorização vai se estabilizar, portanto. Tomando como base os dados da Tabela Fipe de setembro de 2025 dos modelos a combustão e elétricos mais vendidos do Brasil para se ter uma ideia, a diferença se mostra em queda realmente. A Fiat Strada Endurance 1.3 flex ano 2026 é avaliada em R$102.326, com uma perda de R$9.027 perante o modelo zero km. Já o BYD Dolphin Mini perdeu apenas R$6.480, avaliado em R$113.513, uma porcentagem menor, inclusive.
Por fim, nessa conta o medo de ficar sem “combustível” e um “posto” também tem peso, como apontou uma pesquisa de novembro de 2023 da Bain & Company. A falta de postos de recarga e a falta de informação sobre os BEVs foram o segundo e terceiro obstáculos na compra de um elétrico, atrás apenas do preço, o que para Maurício é mais ansiedade que realidade. Ele, que trabalha no setor da tecnologia, criou um perfil nas redes sociais para compartilhar as suas experiências quilométricas com os elétricos, desmistificando os mitos citados acima, e oferece ainda assessoria para os interessados em embarcar na eletrificação.
Em relação às autonomias dos modelos e as necessidades habituais da população, a quantidade de autonomia é mais que suficiente. A média dos BEVs mais vendidos do país gira em torno de 300 km segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), suficiente para quase 100% dos trajetos anuais dos motoristas, como revelou um estudo de 2011 publicado na revista científica ResearchGate. Analisando dados da companhia de tráfego americana, ele apontou que a média dos percursos anuais de uma pessoa é de 71,9 km, e apenas 9 viagens chegam a 240 km, ainda assim trajeto menor que a autonomia de um Dolphin Mini, por exemplo. Além disso, esse deslocamento é ainda menor no Brasil, na casa dos 40 km rodados diários, segundo pesquisa de 2019 da KBB Brasil.
No caso dos interessados em viagens mais longas, como Maurício, ou apenas aquelas pessoas que possuem família no interior ou outro estado, por exemplo, o problema permanece mais no imaginário popular que na estrada de fato. O viajante conta que de fato um planejamento prévio maior é necessário ao viajar com um elétrico, mas que é algo superestimado e nunca o impediu de ir para onde queria. Tal qual qualquer modelo, não se anda na estrada até o carro parar no acostamento sem gasolina. Uma programação é necessária, para carregar o carro dentro de uma margem segura.

Todos os modelos elétricos comercializados no Brasil hoje possuem a possibilidade do chamado carregamento rápido (DC), que pode variar entre 30 minutos ou algumas horas de acordo com a potência dos carregadores públicos. Mas mesmo em situações de emergência, a maioria dos modelos vem com um carregador portátil para carregamento em qualquer tomada 220V. E para se planejar, uma série de aplicativos mostram pontos de recarga por todo o Brasil, e calculam quando e onde parar para carregar, como o ABRP, sempre em uso no celular de Maurício.
Em relação aos carregadores públicos, a ABVE registrou em fevereiro de 2025 12.137 pontos de carregamento no país, um avanço de 22% comparado ao ano anterior, mas realmente, a quantidade ainda é muito baixa, e pode e deve melhorar, como enfatiza Maurício. Ao analisar a relação de carregadores e carros elétricos em circulação no Brasil, existe um carregador para cada seis elétricos, e a presença deles se dá em apenas 25% dos municípios. Na China, por exemplo, essa relação segundo a Administração Nacional de Energia é de um para cada 3 carros, sendo ainda menor em países do norte da Europa.
De acordo com a International Energy Agency, a expansão dessa rede é crucial para a popularização dos elétricos em conjunto a preços de compra mais baixos. O levantamento de 2024 cita que a maioria das pessoas carregam em casa seus veículos, o que irá se manter, mas a infraestrutura precisa acompanhar a evolução das baterias, para derrubar preconceitos por parte do público ao aproximar o tempo de recarga ao de abastecimento convencional.
Ao citar apenas algumas das dezenas de empresas e soluções em desenvolvimento, há a bateria da gigante do setor, CATL, que desde 2023 é capaz de receber uma recarga de 200 km em apenas 5 minutos, além da Super-e Platform da BYD, anunciada em 2025 com recarga de 400 km no mesmo período. Além disso, em 2018 a agência aponta que o número total de carregadores ao redor do mundo era cerca de 510 mil, um número que havia aumentado quase 11 vezes quando comparado a 2017.
Não dá para negar, os elétricos são uma tecnologia em amadurecimento, e expansão,e essa estrada tem buracos e imperfeições. Porém, tal qual as mudanças climáticas, um caminho sem volta, e que a solução não é se isolar do resto do mundo, mas aproveitar o rodar sereno e encantador que desperta sorrisos nos passageiros de Leandro, que possibilita novos caminhos para Bruno, e que traz recordes para o currículo de Maurício.
Atualmente, o Aeroporto Campo de Marte, localizado na zona norte de São Paulo, está sob comando da concessionária Pax Aeroportos, também responsável pela operação e infraestrutura do Aeroporto de Jacarepaguá (RJ). A empresa vai gerir o Campo de Marte por 30 anos a partir do momento em que assumiu o controle, em 15 de agosto de 2023.
Aeroporto mais antigo da cidade, o Campo de Marte recebe aviões e helicópteros gerais, executivos e de táxi aéreo. De acordo com o relatório anual da Pax, 70.567 pousos e decolagens ocorreram no ano de 2024.
Para aumentar a área do aeroporto, quase 200 árvores foram derrubadas. As obras começaram em junho deste ano e estão previstas para terminar em maio de 2026. Além de reformar as pistas e implementar um sistema de luzes, o principal objetivo é a melhoria na segurança dos voos.
Os pousos e decolagens atuais são feitos através da visualização do piloto sobre a pista, sem a ajuda de nenhum equipamento. Segundo a Pax, ao final das obras, o aeroporto será capaz de receber voos com instrumentos que auxiliarão o piloto. Dessa forma, a tendência é que os movimentos das aeronaves aumentem no Campo de Marte.

Impacto do número de árvores retiradas
O engenheiro ambiental e especialista em gestão ambiental pela UFPR, Hian Silva, afirmou não ter conhecimento sobre este caso até dias antes da entrevista, visto que obras civis que envolvem supressão de vegetação nativa não são isoladas e acontecem com certa frequência.
“Minha posição é sempre de preocupação e atenção. Embora seja importante garantir a segurança e a infraestrutura do aeroporto, é crucial que essas obras não ignorem os impactos ambientais de longo prazo. Acredito que é possível e necessário buscar um meio-termo, onde desenvolvimento urbano e preservação caminhem juntos”, declarou Silva.
Para ele, a retirada de quase 200 árvores causa um impacto significativo e imediato na fauna e flora local e no entorno urbano. Inclusive, ressaltou que a perda desse patrimônio natural representa também a perda de memória e identidade do espaço urbano, já que muitas dessas árvores tinham valor histórico e paisagístico, algumas com mais de 100 anos.
“Em uma cidade com poucos fragmentos florestais como São Paulo, essas árvores funcionam como parte de um ecossistema complexo: habitat, fonte de alimento e corredores ecológicos para aves, insetos e pequenos mamíferos. A remoção repentina desse habitat pode levar à perda de biodiversidade e ao deslocamento de espécies que nem sempre conseguem se adaptar a novos locais. Além disso, a vegetação regula temperatura, umidade e qualidade do ar. A supressão tende a aumentar o calor da área, reduzir a infiltração de água no solo e afetar o bem-estar da população vizinha”, afirmou o engenheiro ambiental.
Moradora na região, Yasmin Mafei, 33, não gostou da retirada das árvores: “a cidade está cada vez mais sem árvores, precisamos dos bairros mais arborizados”. Paulo Xavier, 69, outro vizinho da área, acreditava que essas obras eram destinadas à construção do futuro Parque Municipal Campo de Marte. Mesmo assim, ele minimizou a derrubada e comentou que há outras áreas em São Paulo para o plantio de árvores como uma forma de compensação.
Nota de autorização para supressão das árvores
No dia 7 de março de 2025, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) emitiu uma nota para comunicar o deferimento parcial da solicitação da derrubada das árvores. Com assinatura de Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi, Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, um trecho do comunicado diz: “AUTORIZO, em caráter excepcional, com fundamento no Artigo 14, incisos III, IV e VIII da Lei Municipal n° 17.794/2022, a supressão de 194 (cento e noventa e quatro) exemplares de porte arbóreos, sendo 30 (trinta) exemplares secos/morta”.
O texto indica que haverá a iniciativa de replantio de 194 mudas em outras áreas de São Paulo, além de reaproveitar os resíduos gerados pelo desmatamento. Segundo a nota, o plantio substituto será fiscalizado pela SVMA por meio de um relatório técnico fotográfico após doze meses, ou seja, apenas em 2026.

Silva também comentou sobre a nota. Ele acredita que a avaliação dos impactos cumulativos no ecossistema urbano não ficou totalmente clara, e que seria importante comunicar de forma mais transparente os critérios usados para definir quais árvores seriam retiradas e de que maneira o impacto seria reduzido.
“Na natureza, a balança não é tão simples. Não basta retirar 200 árvores de um lado e plantar 200 mudas em outro para que tudo fique equilibrado. A ideia de replantar é essencial e demonstra uma tentativa de suavizar os impactos da supressão, mas não se trata de uma solução simples ou perfeita. Árvores centenárias, com raízes profundas e ecossistemas associados, não podem ser simplesmente transferidas – o replantio ocorre por meio de mudas, o que significa que um ambiente construído ao longo de décadas ou séculos é perdido”, opinou o especialista em gestão ambiental, sobre o plantio substituto que será realizado.
Os locais em que as mudas serão replantadas são: Parque Municipal Campo de Marte, Refúgio da Vida Silvestre Anhanguera, em Perus, e no Projeto Rio do Peixe, em Socorro (SP). O Parque Municipal Campo de Marte fica ao lado do aeroporto e ainda está na fase inicial, porém o projeto já está assinado, conforme disse no mês passado, Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo.
Silva acredita que o plantio em locais distantes – caso da cidade de Socorro, localizada a 132 quilômetros de São Paulo – pode comprometer a adaptação das espécies, pois condições de solo, clima e hidrologia variam significativamente.
“A taxa de sobrevivência dessas mudas também não é garantida, exigem monitoramento constante, irrigação e equipes técnicas especializadas. Por fim, mesmo que todas as mudas vinguem, o tempo necessário para que se estabeleça um ecossistema comparável ao anterior é extremamente longo, e os benefícios ambientais imediatos proporcionados pelas árvores centenárias são insubstituíveis a curto e médio prazo. Aqui cabe o cuidado dos órgãos competentes em acompanhar cada caso e entender a real necessidade das ações”, completou.
Por Amanda Campos
A Cop 30 é um evento global que reúne líderes mundiais para discutir ações contra a crise climática, mas o Brasil enfrenta um dilema: enquanto o mundo olha para o País como um player chave nas negociações, a realidade interna revela uma nação já castigada pelos efeitos devastadores do aquecimento global. Tornado que devasta cidade, enchentes que destroem municípios inteiros, queimadas que devoram florestas e ondas de calor que esgotam até os mais resilientes no semiárido não são mais previsões distantes — são tragédias diárias que afetam milhões de vidas, forçando famílias a reconstruírem suas rotinas em meio ao caos e ao medo. A COP30 poderia ser uma chance de o Brasil liderar mudanças reais, mas o histórico de conferências passadas, como o Acordo de Paris, que ficou aquém das promessas, gera ceticismo. Muitos países, em vez de avançarem, recuaram em seus compromissos, deixando os nações do Sul Global, como o Brasil, pagando o preço mais alto por uma crise que não criaram.
Para ilustrar essa dor humana, basta olhar para as enchentes devastadoras que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Famílias inteiras acordaram com a água invadindo suas casas, carregando móveis, lembranças e sonhos de uma vida estável. Pessoas que perderam tudo o que tinha construído em décadas, ou jovens pais que nadaram para salvar seus filhos das correntezas impiedosas, testemunharam a impotência diante de uma natureza furiosa. Essas enchentes não foram apenas um desastre natural; foram o resultado de anos de negligência, de cidades crescendo sem planejamento adequado, de rios poluídos e de governos que ignoraram alertas científicos. Milhões de pessoas sofreram, com comunidades inteiras desalojadas, economias locais destruídas e cicatrizes emocionais que marcarão gerações. É nessas histórias pessoais, de perda e resiliência, que vemos o verdadeiro custo da crise climática, a angústia de quem viu sua casa virar lama e sua esperança afundar nas águas.
Essa urgência climática no Brasil é sentida na pele de quem vive aqui, mas as respostas governamentais têm sido insuficiente e desigual. A ciência brasileira oferece ferramentas valiosas, como satélites que rastreiam queimadas e tecnologias que ajudam a prever chuvas extremas, mas grande parte desses esforços se concentra na proteção da agricultura, deixando a população comum exposta aos riscos. Em vez de transformar conhecimento em ações preventivas, o sistema muitas vezes reage apenas às catástrofes, com custos altos e resultados lentos. Guilherme Kiraly, internacionalista e especialista em ciência, tecnologia e inovação pela Universidade Federal da Bahia, vê nessa crise não apenas um fenômeno natural, mas o resultado direto de escolhas políticas e econômicas que exploraram recursos sem considerar o impacto nas pessoas. Ele argumenta que o que vivemos hoje é fruto de decisões que priorizaram o lucro imediato sobre a sobrevivência coletiva, deixando comunidades inteiras à mercê de desastres evitáveis.
O Brasil participa de acordos internacionais sobre clima, mas a lacuna entre o que é prometido e o que acontece na prática é enorme. Muitos tratados ficam no papel, sem metas claras, orçamentos definidos ou benefícios reais para quem mais sofre. O país monitora o clima há décadas, mas depende de soluções importadas, adaptando equipamentos estrangeiros em vez de investir em inovações próprias. Guilherme critica essa dependência, dizendo que ela torna o sistema caro e ineficaz, focado em respostas emergenciais em vez de prevenção. Tecnologias como barragens de contenção ou softwares de previsão existem, mas não impedem que famílias sejam desalojadas por enchentes ou que florestas sejam consumidas pelo fogo. O que falta, segundo ele, são políticas públicas que transformem a ciência em proteção concreta para as pessoas, não apenas para os negócios.
Há alternativas promissoras que poderiam aliviar os impactos, mas elas são ignoradas em favor do agronegócio. Parques alagáveis em cidades como Curitiba e São Paulo, por exemplo, ajudam a conter enchentes, enquanto experiências de agrofloresta recuperam terras degradadas. Guilherme destaca que, além da tecnologia, há lições valiosas nos saberes tradicionais de povos indígenas e comunidades do semiárido, que convivem com secas há séculos adaptando-se à natureza em vez de combatê-la. Integrar essa sabedoria à ciência moderna poderia criar caminhos mais sustentáveis e humanos, respeitando a vida das pessoas e dos ecossistemas. Mas o maior obstáculo permanece: acordos internacionais frágeis, sem cronogramas, metas ou financiamentos garantidos, fazem com que projetos acabem parados na fase inicial. A cooperação entre países, que poderia gerar soluções compartilhadas, se resume a declarações vazias.
Essa fragilidade reflete uma contradição dolorosa no Brasil: enquanto os impactos climáticos se aceleram, as respostas políticas andam em ritmo de tartaruga. O País acumula tratados assinados, mas poucos projetos efetivos, revelando uma falta de compromisso real. Ainda assim, há sinais de esperança. Universidades, organizações da sociedade civil e movimentos sociais estão pressionando por mudanças, mostrando que soluções locais podem ser rápidas e eficazes, mesmo quando fóruns globais falham. Comunidades indígenas, por exemplo, demonstram que estratégias coletivas de organização e solidariedade podem enfrentar desafios compartilhados de forma duradoura, independentemente de fronteiras. Guilherme observa que esses povos cooperam entre si há séculos, provando que é possível lidar com problemas comuns em rede, algo que os Estados deveriam aprender, em vez de competir ou ignorar.
O desafio é garantir que países como o Brasil tenham voz nas negociações, para que as decisões globais considerem as necessidades dos mais afetados. O futuro diante da crise climática exige uma mudança profunda de perspectiva: não apenas reagir a desastres ou cumprir acordos superficiais, mas construir uma cultura de prevenção e harmonia com a natureza. É preciso integrar ciência, tecnologia e saberes tradicionais para valorizar soluções locais que respeitem as comunidades e os ecossistemas. Enquanto o aquecimento global avança sem piedade, o Brasil e o mundo enfrentam uma escolha crítica: continuar apagando incêndios ou criar, de forma colaborativa e estratégica, defesas que protejam vidas e recursos naturais antes que seja tarde demais.
Por Helena Haddad
Os Data Centers - centros de processamento de dados - são instalações físicas que sustentam a infraestrutura digital contemporânea. Na era digital, informação e internet são centrais no cotidiano, e com o crescimento das IAs e da digitalização, a demanda por essas infraestruturas tem aumentado significativamente. No contexto global, a América Latina surge como uma “nova fronteira” para investimentos, e o Brasil busca se destacar no setor, embora a construção dessas instalações levante questionamentos sobre sua sustentabilidade.
O projeto do Data Center do TikTok, uma empresa chinesa, em Caucaia, no Ceará, já aprovado mas sem data de inauguração, gera polêmica. Os indígenas Anacé pedem a derrubada do licenciamento ambiental, alegando ausência de estudos claros sobre impactos ambientais e alertando para o risco ao aquífero de Dunas, considerado vulnerável. Eles também questionam o alto consumo de energia e água, que poderia pressionar recursos locais. Por outro lado, a Casa dos Ventos, responsável pela obra, afirma que a licença foi obtida com base em estudos técnicos conduzidos por especialistas. Outra crítica recai sobre a exclusão do Ministério do Meio Ambiente das negociações iniciais, apesar de seu papel central na avaliação de impactos.
Carlo Pereira, especialista em sustentabilidade, reconhece que os Data Centers demandam grande quantidade de energia, mas lembra que no Brasil esse consumo pode ser atendido por fontes renováveis. Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, alerta, porém, que a indústria da inteligência artificial cresce mais rápido que a geração elétrica, e sem políticas públicas claras há risco de desequilíbrio e até colapso. O alto consumo de água e energia reforça a necessidade de planejamento para não comprometer recursos finitos.
Além disso, a presença de empresas estrangeiras evidencia uma dimensão geopolítica. Cerca de 60% dos dados brasileiros são processados fora do país, o que submete parte da vida econômica, social e política do Brasil a legislações e interesses de outras nações. A instalação de um Data Center do TikTok levanta a questão de quem realmente terá controle sobre dados críticos.
Soberania digital não significa fechar o mercado, mas exige estratégias claras. Segundo Pereira, isso passa por atrair players globais com contrapartidas — exigindo energia 100% renovável, integração a ecossistemas locais, formação de talentos e armazenamento de certos dados em território nacional; fortalecer operadores brasileiros com incentivos fiscais e zonas especiais que estimulem a competição; e estabelecer regulação estratégica para garantir que dados críticos — saúde, defesa, governo e infraestrutura — permaneçam sob jurisdição nacional.
Por fim, a chamada “nuvem”, embora pareça imaterial, depende de recursos físicos como solo e água, que são finitos. A expansão dos Data Centers no Brasil oferece oportunidade de atrair investimentos e consolidar o país como polo digital, mas impõe desafios relacionados à sustentabilidade, governança e soberania digital. O futuro do setor dependerá da capacidade do Brasil de conciliar desenvolvimento econômico, proteção de recursos naturais e autonomia sobre sua infraestrutura crítica de dados.







