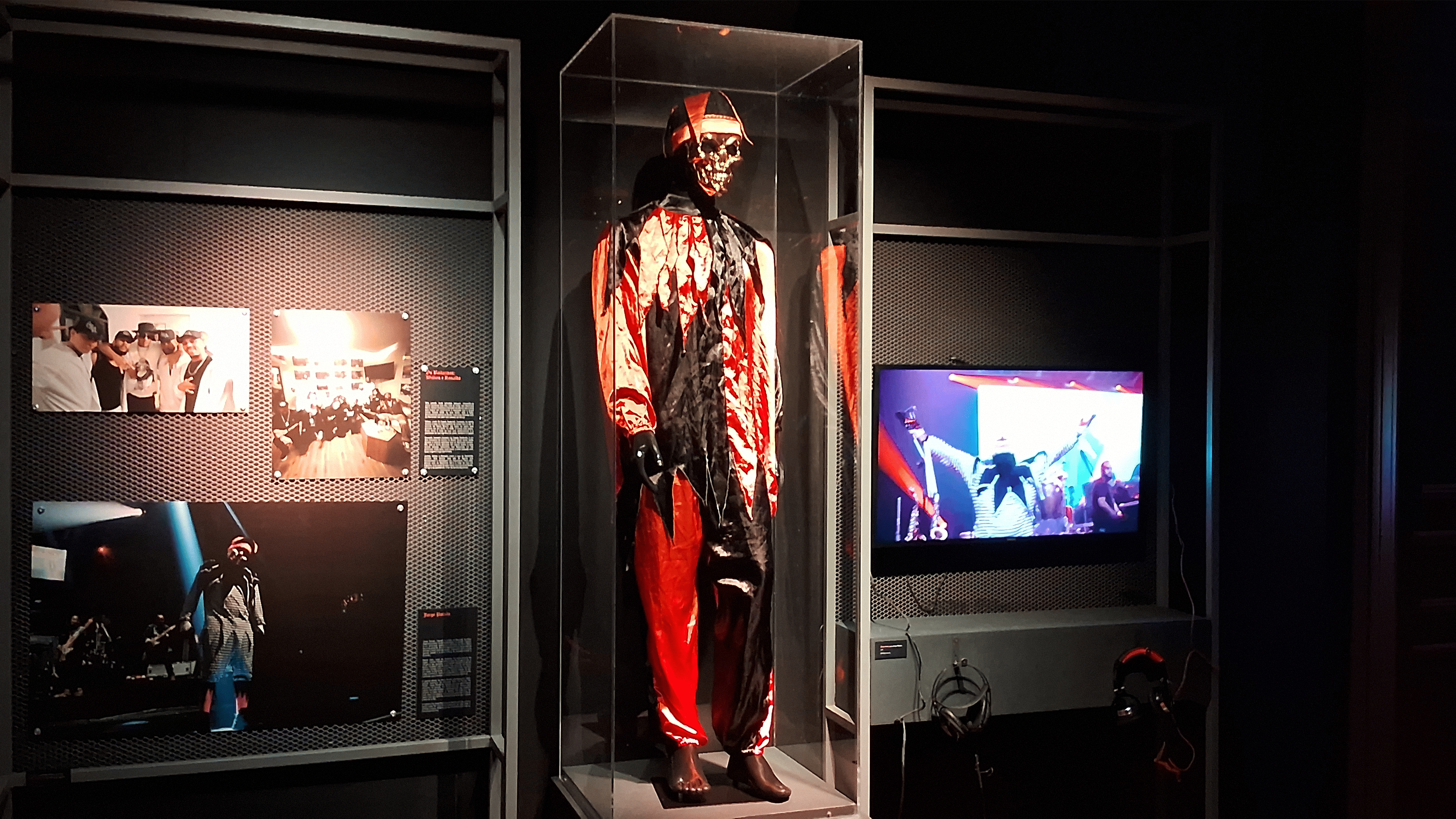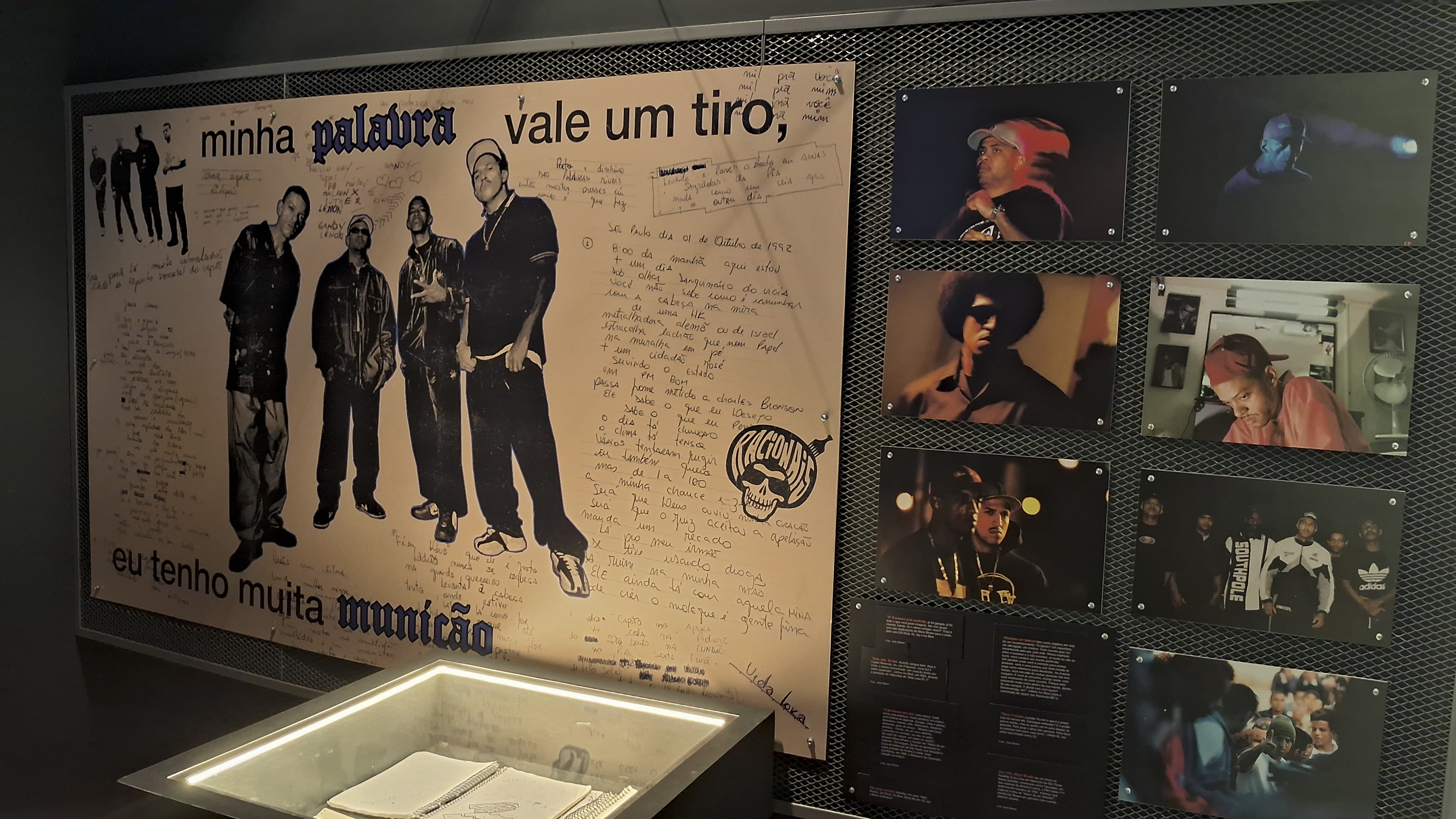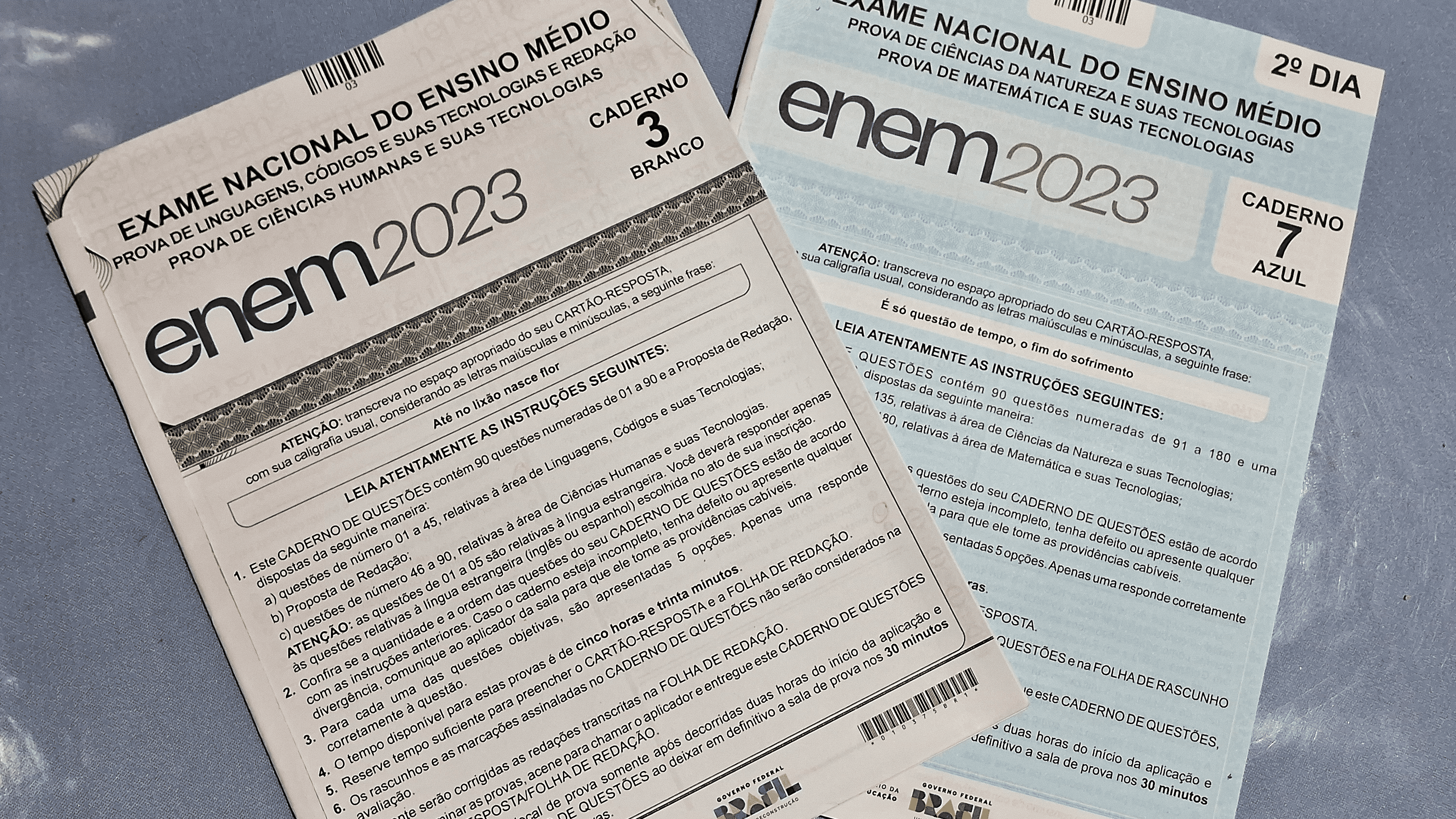João Santana é uma voz forte e dedicada na luta contra o racismo no Brasil. Ele deu uma palestra em um painél de discussão sobre pautas antirracistas, no último dia 20/10, em um espaço comunitário no centro de São Paulo com a participação de acadêmicos, ativistas e líderes comunitários, que compartilharam suas experiências. Fez essa palestra com um intuito de promover a conscientização e a ação contra o racismo.
João é uma figura que inspira. Em uma conversa, ele compartilhou sua jornada pessoal na busca por igualdade e justiça. “Minha jornada na luta contra o racismo começou cedo. Eu percebi as desigualdades gritantes que afetam a comunidade negra no Brasil. Cresci em uma família que sempre enfatizou a importância de se orgulhar de nossa herança afro-brasileira e de lutar por igualdade. Desde então, tenho trabalhado incansavelmente para desafiar os estereótipos e as estruturas racistas que permeiam nossa sociedade.”
João enfatizou a importância da educação na luta contra o racismo. “Devemos investir em programas educacionais que promovam a igualdade racial, ensinando a história real do Brasil, que é profundamente enraizada na contribuição afro-brasileira. Além disso, é crucial que as empresas e instituições adotem políticas de inclusão e diversidade, proporcionando igualdade de oportunidades para todos os brasileiros, independentemente de sua cor de pele.”
O papel das manifestações e da conscientização pública também foi discutido. João ressaltou que essas ações desempenham um papel fundamental na luta antirracista, chamando a atenção para as questões muitas vezes ignoradas. “As vozes dos manifestantes devem ser ouvidas e levadas a sério pelas autoridades e pela sociedade em geral. Além disso, a conscientização precisa se transformar em ações concretas, como políticas antidiscriminatórias e medidas que garantam a igualdade de oportunidades.”
Para aqueles que desejam se envolver na luta antirracista, mas não sabem por onde começar, João ofereceu orientações. “Começar na luta antirracista pode parecer avassalador, mas cada pequeno esforço faz a diferença. Comece educando-se, lendo livros e artigos sobre o tema. Converse com pessoas negras e ouça suas experiências. Participe de grupos e organizações que trabalham pela igualdade racial. E, acima de tudo, não tenha medo de confrontar o racismo quando o encontrar, mesmo que seja desconfortável. A mudança começa com a conscientização e a ação individual.”
Ao concluir a entrevista, João expressou seu agradecimento por ter a oportunidade de compartilhar suas ideias e experiências. “A luta antirracista é uma jornada contínua, e espero que possamos trabalhar juntos para criar um Brasil mais justo e igualitário para todos.”
“As mulheres são mais da metade da população, as pessoas negras no Brasil são 56%. Então, ter representatividade nos órgãos de poder significa ter mais democracia.” declara Mônica de Melo, a professora e pró-reitora de Cultura e Relações Comunitárias na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Além disso, ao lado de Lucineia Rosa dos Santos, ela é uma das mulheres negras cotada para assumir a cadeira de Rosa Weber na mais alta cúpula do judiciário, o STF.
A ministra, que se aposentou oficialmente em 2 de outubro aos 75 anos de idade, destacou em seu discurso de despedida a desigualdade de gênero na corte, que antes contava com apenas outra mulher, Cármen Lúcia. Também deve ser levado em consideração a ausência de ministros negros na atual constituição do STF.
A partir dessa falta de diversidade, o presidente Lula enfrenta hoje uma pressão dos movimentos sociais para que uma mulher negra seja indicada ao cargo. Em sua primeira indicação, o presidente ignorou os apelos da campanha e a própria representatividade do povo no governo na simbólica caminhada pela rampa do Palácio do Planalto em sua posse, ao indicar Cristiano Zanin, um homem branco, que atuou em sua defesa nos processos da Lava-Jato.
Lucineia Rosa dos Santos é Doutora em Direitos Humanos pela PUC-SP e docente universitária na área jurídica. Hoje, além de atuar como advogada, é professora e ministra disciplinas de Direitos Humanos, Direitos Humanos dos Refugiados, Direito da Criança e do Adolescente, bem como Direito de Igualdade de Gênero e Racial, na Pontifícia.
“O que se debate hoje, já era posto em casa há muitos anos. Eu era criança, mas ouvia”, conta Lucineia sobre o contato com discussões pautadas em sindicatos ainda quando era criança através de seus tios. Desde muito jovem, entendeu que o ensino poderia transformar a sua realidade, e expõe que, “No Brasil, o racismo ditava meus espaços e minha ascensão profissional.”
Para Lucineia, a ausência de alguém negro na corte não impede que questões raciais sejam discutidas, porém, a ponderação das demandas são debatidas sem a consciência e a experiência do que é ser uma pessoa negra no Brasil. A jurista afirma ainda que, somente com essa consciência no debate, é possível modificarmos a estrutura.
A entrevistada declara também que “se o Lula quer, de fato, mudar o que temos há séculos, o poder institucional nas mãos dos mesmos, é agora.”.
Mônica de Melo é a outra mulher cotada para a vaga no STF, e, além da vida acadêmica, é defensora pública. A professora de direito constitucional pertence também a várias organizações que têm como pauta principal a defesa dos direitos das mulheres, combate a discriminação racial e a democratização do sistema de justiça.
Ao falarmos da representatividade negra em um ambiente mais próximo como o da universidade, Mônica conta sobre o projeto que prevê a contratação de mais docentes negros e afirma: “Eu estive à frente desse projeto. Acho que é super importante para a universidade, porque a gente tem um quadro docente majoritariamente branco”, e acrescenta “, é uma forma de buscarmos o enegrecimento da PUC. “
Sucesso em sua primeira edição, o Prêmio Gastronomia Preta se torna, em 2023, um evento nacional. Desta vez, acompanhado de um festival que celebra o trabalho e a ancestralidade do povo preto na gastronomia nos dias 25 e 26 de Novembro, no Rio de Janeiro. “São 30 stands, que vão da confeitaria até a cozinha quente, passando pelo churrasco e pelo baião de dois. É a nossa gastronomia e é isso que estamos celebrando. Não é só comida de África, queremos mostrar que essas pessoas são plurais e diversas, com muito conhecimento e técnica também”, conta Breno Cruz, idealizador e organizador do evento.
O Premio Gastronomia Preta surge em 2022 como uma proposta local no Rio de Janeiro, com o intuito promover a diversidade e evidenciar as pessoas pretas no universo gastronômico, dentro de 23 categorias. Breno Cruz, que também é professor de gastronomia da UFRJ, dá inicio ao prêmio com a proposta de passar a mensagem para todo o Brasil que as pessoas pretas estão presentes na cozinha profissional e precisam ser reconhecidas. “Para o povo preto nunca foi fácil, né? A gente acredita, a gente é resistência, tem que fazer para ser visto. As dificuldades são grandes mas está acontecendo, muito com a ajuda dos patrocinadores que acreditam no projeto. É extremamente importante a gente compreender que as pessoas pretas fazem a gastronomia acontecer mas que muitas vezes não são vistas.”
Assim como a iniciativa, o investimento na ideia foi primeiramente do próprio Breno. “É muito difícil fazer um evento desse acontecer. Primeiro tem o meu investimento financeiro, de tempo e de trabalho. Em 2022 o prêmio aconteceu sem nenhum patrocínio financeiro, eu investi o dinheiro sozinho por acreditar e poder fazer acontecer naquele momento.” Após muitas recusas, o Prêmio Gastronomia Preta, e agora o Festival, conquistaram parceiros importantes: Nestlé, Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho, a marca Cacildis, que é a bebida oficial do evento, além da Globo como uma parceira de mídia.
A escolha dos finalistas e vencedores do Prêmio também é feita de maneira estratégica. Há um edital e a primeira fase é por indicação popular. Depois desta primeira seleção, os profissionais, são analisados de acordo com a sua determinada categoria por um time de seis curadores, que leem as histórias de vida e trajetórias profissionais dos inscritos. A partir desta consideração, são selecionados três finalistas para cada categoria, que passam por entrevistas e provas práticas. Somente depois de todo este processo, os jurados, que não são os curadores, determinam o vencedor do prêmio. “A questão da justiça para mim é muito importante, eu já fui injustiçado no passado. Então pensando nisso existe toda uma metodologia tanto para a indicação dos finalistas como para a escolha final. A coisa é muito bem feita para sermos o mais justos possível. Vai ganhar quem realmente se destacar na entrevista e na prova prática.”
O Festival Gastronomia Preta, que acompanha o prêmio, terá sua primeira edição este ano e estão confirmadas diversas atrações. “É um festival maravilhoso feito com muito amor e carinho. Vamos ter como foco o samba, que conta muito bem a nossa trajetória e tem relação com a comida. Fechando o evento no segundo dia teremos a bateria da Beija Flor de Nilópolis, que é a escola oficial do festival. A banda arruda vai estar presente nos dois dias de evento.” O espaço conta também com a presença do Movimento Mães Negras pelo Brasil, falando sobre África e ancestralidade para o público infantil e a Cozinha Show Benê Ricardo, homenageando a primeira mulher a receber um diploma de chef de cozinha no Brasil. “É um evento completo. Olhem para a gente. A gente existe e faz um trabalho lindo neste país. Vamos celebrar essas pessoas e a nossa ancestralidade”, reforça Breno.


Localizado na Vila Itororó, no bairro Bela Vista, em São Paulo, o Centro de Referência para a Promoção da Igualdade Racial (CRPIR) é responsável por acolher vítimas de racismo, intolerância religiosa e xenofobia. O Centro oferece atendimentos psicossociais, psicológicos e jurídicos de segunda à sexta, das 9h às 18h, em salas cedidas pelas casas de cultura das diferentes zonas da cidade. O CRPIR possui somente um polo físico, localizado na Cidade Tiradentes, no extremo leste paulista.
A atuação dos Centros de Referência está atrelada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, encarregada de efetivar o Plano de Promoção da Igualdade Racial, instituído em 2018, com o objetivo de reduzir as desigualdades étnicos-raciais da cidade de São Paulo. Atualmente, os polos do CRPIR são dirigidos pelo Instituto Social Espaço Negro, uma ONG conveniada, por contrato, com a Prefeitura.
Talita Laureano, psicóloga do polo da Vila Itororó, ressaltou que, embora tenha experiência como psicóloga na assistência social, não conhecia o CRPIR até receber o convite para fazer parte da equipe de atendimento. “A população não acessa os serviços do Centro porque não conhece”, afirmou Talita sobre a falta de divulgação desse serviço municipal. A profissional comentou o público-alvo dos atendimentos: “atualmente, muitas mães e responsáveis relatam situações de racismo escolar, mas casos de racismo institucional, sofrido no ambiente de trabalho, também são comuns.”
A psicóloga esclareceu que não é possível oferecer um acompanhamento terapêutico contínuo, somente atendimentos pontuais. Talita explicou que, a depender da gravidade dos casos, é combinado o tempo de retorno e novos encontros são marcados. Sobre os demais serviços, ela exemplificou: “os atendidos não serão representados judicialmente pela advogada do CRPIR, mas ela pode acompanhá-los até o DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância). O atendimento jurídico orienta, por exemplo, a procura da Defensoria Pública ou de um advogado particular.”

Os atendimentos podem ser realizados online, à domicílio ou presencialmente. No entanto, conforme ressaltado por Talita, os polos do CRPIR carecem de infraestrutura. As salas ocupadas pelo Centro na Vila Itororó, por exemplo, não possuem acessibilidade às pessoas com deficiências. Além disso, o espaço onde acontecem os atendimentos é compartilhado pelas profissionais: “nós tratamos casos carregados de sofrimento psíquico, em situações específicas, eu solicito que minha colega saia da sala para garantir o sigilo e o conforto do atendido.”
“Falta muito para chegarmos em um nível de atuação efetiva, mas a gente percebe a importância dos serviços nos atendimentos. O espaço é para as pessoas se identificarem conosco e veem como uma tábua de salvação”, comenta Talita. Além disso, a profissional demonstra a satisfação do serviço para os atendidos “Muitos relataram que ficaram felizes de conhecer o trabalho, porque não se sentiam sozinhos e tiveram suas vozes ouvidas plenamente.”
Embora trabalhe há pouco tempo no Centro, reconhece a importância da iniciativa e da permanência dos serviços para a comunidade. Talita comenta que “Além de trabalhar as questões do racismo estrutural, arraigado, fortalecer, empoderar, fazer com que essas pessoas almejam outras posições, um STF da vida, ser médico, advogado… nosso trabalho tem esse papel também.”

Apesar de existirem centros de acolhimento para pessoas vulnerabilizadas socialmente, é importante denunciar casos de racismo, xenofobia, intolerância religiosa, dentre outras discriminações sociais. De acordo com o Portal Geledés, a Ouvidoria da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania paulista recebeu 174 denúncias de discrimanação racial nos primeiros 4 meses deste ano frente a 155 ao longo de todo o ano passado. Para mais informações sobre denúncia:
- Disque 100 - Violências no Geral
- Disque 156 - Atos de Racismo
- Portal de atendimento: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?servico=892
- Outros tipos de denúncias, acesse o site do governo federal: https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/servicos/grupo-vulnerave
Para saber mais sobre as localidades dos centros, acesse o portal da CRPIR na Prefeitura de São Paulo: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/igualdade_racial/rede_de_atendimento/index.php?p=270197
Cleidiane Costa de Jesus, 37 anos, nasceu no interior da Bahia no município de Jequié. Desde pequena Cleide se identifica como negra e afirma que: “morena não estava no meu vocabulário, até hoje quando me chamam de morena eu não respondo porque eu sou negra”. Ela sempre achou a cor negra muito linda e tinha uma grande admiração por seu avô materno e seus tios que eram negros.
Cleide nasceu e cresceu dentro da igreja católica. “Deus é o centro da minha vida. Em casa rezo sozinha e busco fortalecer a minha fé na igreja, preciso comungar, é o pão vivo que desceu do céu”. Cleide desde sempre foi extrovertida, brincalhona e autoconfiante. Na escola era líder de torcida, participava das gincanas e desfilava nas paradas do feriado de 7 de setembro. Tinha muitos amigos, boas relações com os professores e era apelidada de preta, neguinha e negona.
Todavia, seu jeito sociável e divertido incomodava algumas pessoas que a julgavam de metida. Cleide nunca se importou e diz: “Nem Jesus agradou todo mundo, não era eu que iria agradar”. Cleide conta que ouvia “piadas” racistas na escola, mas ela não ligava e rebatia as falas preconceituosas.
Cleide se formou na escola com 18 anos e viveu em Jequié até os 25 anos, quando se mudou para São Paulo. Durante esses sete anos ela começou a trabalhar como babá e quis se mudar para a metrópole paulista em busca de trabalho. Ela opina que em SP existem vantagens e desvantagens, “você ganha mais dinheiro mas vive uma vida corrida e na Bahia as pessoas ganham menos mas são mais felizes e se divertem mais”.
Ao chegar em São Paulo, Cleide teve um pouco de dificuldade em frequentar a igreja porque não tinha com quem ir, mas conseguiu se estabelecer e agora vai à missa todos os finais de semana. Em 2019 virou catequista e há 4 meses iniciou um trabalho voluntário com moradores de rua na Comunidade Católica Shalom. “Não é só levar o alimento, é você olhar para as pessoas e ver Jesus, amar Jesus no irmão”.
Ela conta que no voluntariado vê pessoas que ficaram muito fragilizadas pelo racismo que sofrem e alguns acabam se machucando. “Precisamos sempre lutar contra o racismo, ele causa muitos danos e dores”.
Cleide se lembra de poucas situações em que sofreu preconceito. Ela afirma que duas vezes não foi atendida em lojas por estar vestida de forma simples. Além disso, quando Cleide sente que estão olhando ou seguindo ela no mercado ela logo questiona o que está acontecendo.