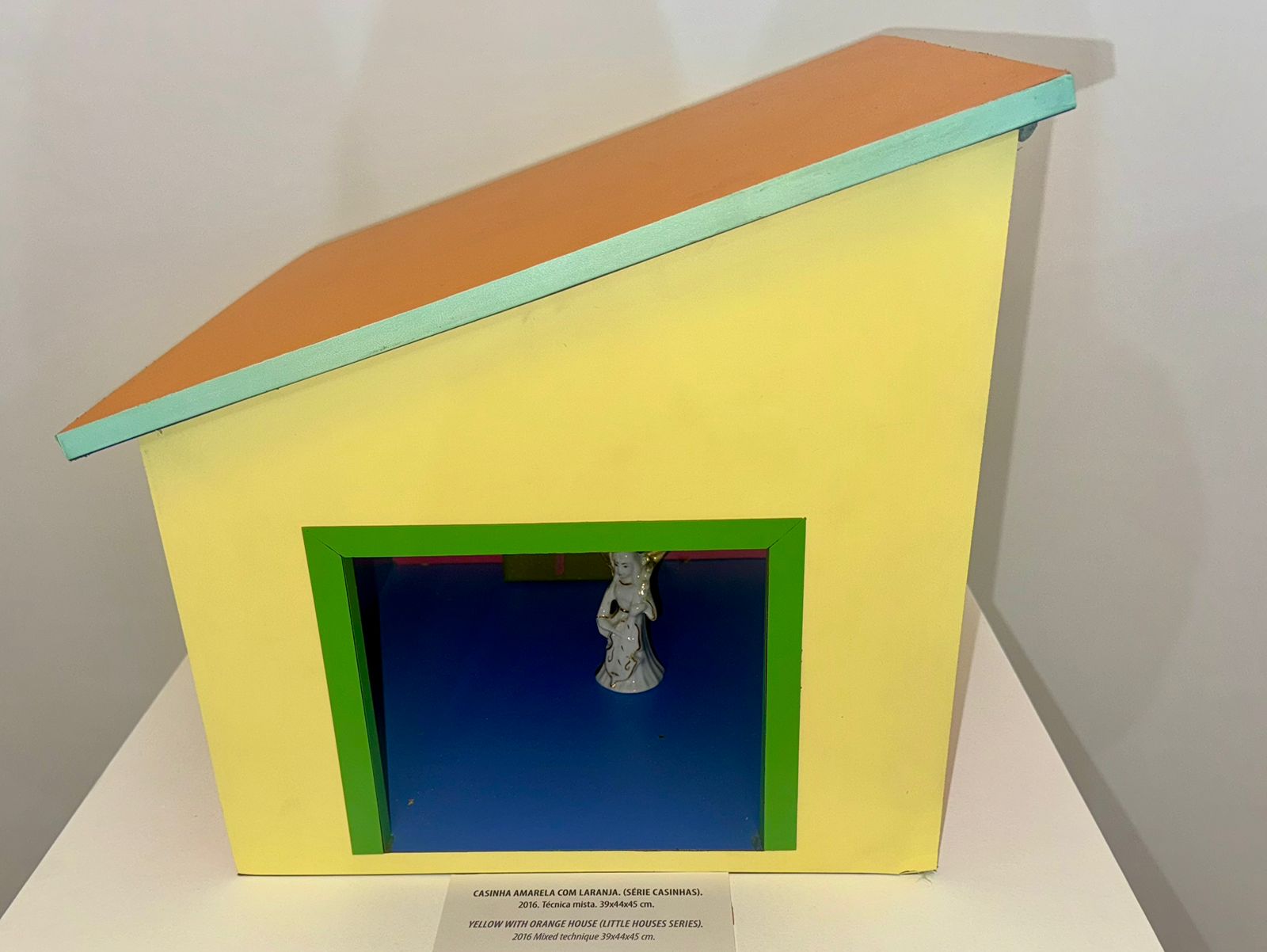O primeiro bar da cozinheira-empresária Manuelle Ferraz, também dona do restaurante “A Baianeira”, localizado no MASP, foi aberto em abril de 2024. O “Boteco de Manu” está situado onde as ruas se cruzam na Barra Funda, mais precisamente na Rua Lavradio, 235, em meio à intensa Avenida Pacaembu. A forte identidade do bar já é percebida em seu nome. O “de” Manu faz jus ao modo de falar no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, bem perto da Bahia, local onde a chef nasceu.












A mais prestigiosa mostra de arte contemporânea da América Latina, a Bienal de Arte, abriu as portas no último sábado (6) no icônico Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, reunindo obras de cerca de 120 artistas de aproximadamente 50 países. A expectativa é atrair até 800 mil visitantes durante os quatro meses de exibição, estendido até janeiro de 2026 para favorecer o acesso, especialmente de crianças e jovens, e chegar à meta de 100 mil participantes em seus programas educativos.
A edição de 2025 leva como título um verso do poema de Conceição Evaristo, Da calma e do silêncio: “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática”. Essa frase alimenta o conceito central da Bienal, que propõe repensar a humanidade como um verbo ativo, uma prática viva, fluida e transformadora.
A curadoria é liderada pelo Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, curador e diretor do Haus der Kulturen der Welt, em Berlim. Camaronês radicado na Alemanha, Ndikung é uma das vozes mais respeitadas da crítica cultural internacional e define a Bienal como uma tentativa de construir um "novo humanismo", descentralizado e plural.
“O humanismo eurocêntrico que moldou o mundo moderno está esgotado. Precisamos falar de humanidades no plural, de múltiplas maneiras de existir e cuidar umas das outras”, afirma o curador.

Módulos temáticos
A Bienal é estruturada a partir da metáfora do estuário, onde correntes diversas se encontram e produzem um espaço de coexistência fértil. Na edição de 2025, seis núcleos temáticos organizam a experiência:
- Frequências de chegadas e pertencimentos – com um “jardim vivo” da artista Precious Okoyomon, repleto de plantas medicinais e invasoras, fontes de água e topografias que remetem ao parque nas cercanias.
- Gramáticas de insurgências – obras que resistem à desumanização e provocam o espectador a se ver no outro (exclusão, identidades, etc).
- Sobre ritmos espaciais e narrações – tema que dialoga com memórias históricas, colonização e transformação, ilustrado pela “nova Arca de Noé” de Moffat Takadiwa, feita com resíduos plásticos e metálicos.
- Fluxos de cuidado e cosmologias plurais – que questiona as narrativas dominantes e propõe formas de conhecimento não coloniais.
- Cadências de transformação – obras em mutação contínua durante a mostra.
- A intratável beleza do mundo – onde a beleza funciona como ato de resistência diante da crise estética contemporânea.
Além disso, o design da expografia, desenvolvido por Gisele de Paula e Tiago Guimarães, propõe uma experiência sensorial e pausada, com cartelas discretas que minimizam a mediação textual, privilegiando o contato íntimo com as obras.
Arte como ferramenta de transformação
Mais do que uma grande exposição de arte, a 36ª Bienal se apresenta como uma plataforma de escuta e transformação coletiva. A Fundação Bienal ampliou os programas de acessibilidade, agendamentos educativos e ações com escolas públicas, buscando envolver especialmente crianças, adolescentes e comunidades periféricas.
“A Bienal não quer ensinar. Quer escutar. E, ao escutar, provocar outras formas de estar no mundo”, resume Ndikung.
O espaço da escuta, da experiência e do não-saber
Uma das decisões mais notáveis da curadoria da 36ª Bienal de São Paulo é a ausência de textos explicativos junto a grande parte das obras. Em vez das tradicionais cartelas, que costumam apresentar o título, o ano, o material e uma breve descrição, o público encontra os trabalhos sem intermediações, sem instruções, sem orientações sobre como "compreender".

Reprodução: Manuela Dias
A escolha é intencional e revela um dos princípios da proposta curatorial deste ano: criar um espaço de escuta e sensibilidade, onde o visitante é estimulado a construir seu próprio encontro com a arte. Para os curadores, a experiência estética não deve ser conduzida pela lógica da decodificação imediata, mas sim por um tempo mais lento, aberto à contemplação e à dúvida.
“É um gesto de confiança no público”, afirmou Ndikung em coletiva de imprensa, “acreditamos que as pessoas são capazes de se relacionar com a arte sem a necessidade de explicações que já digam o que elas devem pensar ou sentir”. Segundo ele, a intenção é criar um ambiente em que o olhar, a escuta e o corpo possam operar como ferramentas legítimas de entendimento.
A decisão causou surpresa em parte do público, especialmente entre os visitantes acostumados com exposições mais didáticas. Para alguns, a ausência de informações gera estranhamento. Para outros, é uma libertação. “No começo me senti um pouco perdida, mas depois percebi que era uma chance de me conectar de outra forma. Eu me permiti não entender tudo, e isso foi bom”, comentou a estudante de jornalismo Mariana Lopes, de 24 anos, após visitar a mostra.
Programação e endereço
A entrada é totalmente gratuita para a 36ª Bienal de São Paulo, que acontece de 6 de setembro de 2025 a 11 de janeiro de 2026, no Pavilhão da Bienal, dentro do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A mostra está aberta ao público de terça a domingo, com horários estendidos aos fins de semana e uma vasta programação educativa e acessível.
Terça a sexta-feira: das 10h às 19h (entrada permitida até 18h30)
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 20h (entrada até 19h30)
Fechada às segundas-feiras, exceto quando forem feriados.

Reprodução: Manuela Dias
O documentarista Silvio Tendler, de 75 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (05), no Rio de Janeiro (RJ). Ele estava internado no Hospital Copa Star, no bairro de Copacabana, e sua morte, causada por uma infecção generalizada, foi confirmada pelo Instagram da Caliban, produtora fundada pelo cineasta.
Silvio ficou conhecido como o “cineasta dos sonhos interrompidos” por se dedicar a contar histórias de João Goulart, Juscelino Kubitschek, Carlos Marighella, Glauber Rocha, entre outras personalidades históricas e políticas.
Em seus mais de 50 anos de carreira, produziu e dirigiu mais de 70 filmes e 12 séries televisivas. Entre eles, "Os Anos JK – Uma Trajetória Política" (1981), "O Mundo Mágico dos Trapalhões" (1981), "Jango" (1984), “Marighella, retrato falado do guerrilheiro” (2001), “Glauber, labirinto do Brasil” (2003) e “Tancredo: A travessia” (2010).

“A minha paixão por cinema vem daquela geração que tinha 14 anos em 1964. Era uma geração que teve a cabeça feita por Glauber, Godard, Truffaut, Joaquim Pedro, Leon. E eu me apaixonei por cinema”, diz Tendler no quinto episódio da série “Cineasta do Real”, criada por Amir Labaki e produzida pelo Canal Brasil.
O velório está marcado para o domingo, dia 7, às 11h, no Cemitério Comunal Israelita do Caju, na capital fluminense. Silvio Tendler deixa a esposa, Fabiana Fersasi, a filha, a produtora Ana Tendler e um neto.
Quem foi Silvio?
Nascido no Rio de Janeiro em 12 de março de 1950, Tendler começou seu trabalho como cineasta já na década de 1960, e em 1968 se tornou presidente da Federação de Cineclubes do Rio, segundo o portal da produtora Caliban. No mesmo ano, após conhecer o Marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata (1910), gravou seu primeiro documentário sobre o levante. O filme acabou queimado pela ditadura militar e nunca foi exibido.

Tendler chegou a se exilar no Chile e na França no período da ditadura militar brasileira, e passou a fazer filmes sobre o cenário político do país sulamericano, como “La Cultura Popular Vá!” (1973), sobre o governo de Salvador Allende, e “La Spirale” (1975), produzido na França sobre os eventos até o golpe de Estado chileno. No final da década de 1970, voltou ao Brasil e integrou a equipe docente do curso de Comunicação Social da PUC-Rio, onde lecionou por mais 40 anos.
Em 1981, sua carreira ficou marcada pelo alcance de 1,8 milhão de espectadores que assistiram ao longa-metragem “O mundo mágico dos Trapalhões”, que explora a rotina do grupo de comédia mais famoso do Brasil, e até hoje tem o recorde de documentário com maior público nos cinemas.
De família judia com raízes ucranianas e bessarabianas, ele viveu grande parte de sua vida na Tijuca e em Copacabana. Silvio lidava com problemas de mobilidade em consequência de uma grave doença desde 2012.
No instagram de sua produtora, há uma das citações de Silvio que é “para colecionadores”: “Luto pelos Direitos Humanos, pelos Direitos da Natureza, e faço da Arte instrumento de luta contra a fome e pela Justiça Social"
Entre os dias 9 e 12 de outubro, no Distrito Anhembi em São Paulo, acontece a 16° edição da Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina e segunda maior do mundo. Para este ano, grandes nomes já estão confirmados como Naoki Hamaguchi - diretor da série “Final Fantasy VII remake” - e Yoko Shimomura - conhecida como "a mais famosa compositora de videogames do mundo". No entanto, o principal convidado e mais aguardado pelo público é Hideo Kojima.
Nascido no Japão, o designer de jogos é conhecido principalmente pela produção de “Metal Gear” e seu jogo autoral “Death Stranding”. No The Game Awards 2023, Kojima e Jordan Peele anunciaram um novo jogo, intitulado “OD”. O jogo é estrelado por Sophia Lillis, Hunter Schafer e Udo Kier.
No perfil oficial da BGS, o designer disse estar ansioso para vir ao Brasil e compartilhar sua paixão com os fãs:
A BGS 2025 contará com uma vasta lista de expositores, incluindo grandes nomes da indústria dos games e da tecnologia. Empresas como Nintendo, Devolver, Sega, Ubisoft, Gartic, Paramount, Hoyoverse e Intel estarão presentes. O evento também reúne novidades no cenário da tecnologia, bem como divulga novos jogos, produtos e campanhas no universo dos games.
A feira também abrirá espaço para desenvolvedores independentes, oferecendo uma plataforma para que pequenas empresas e startups mostrem seus jogos e produtos ao público. Além disso, a BGS contará com palestras, campeonatos de e-sports e competição de cosplays.

Os ingressos ainda estão à venda, já no 7° lote, a partir de R$ 144. Qualquer visitante da feira pode entrar no evento pagando meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.
Brasil Game Show
Quando: de 9 a 12 de outubro
Onde: Distrito Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo
Ingressos: de R$ 144 a R$ 2,4 mil, disponíveis pelo site
No final de agosto, aproveitando o embalo da Gamescom, evento anual de jogos que desta vez aconteceu na Alemanha, a desenvolvedora Team Cherry finalmente divulgou a data de lançamento do seu mais recente título. Hollow Knight: Silksong.
Para quem era fã da franquia desde o primeiro jogo, lançado em 2017, foi difícil esperar tanto tempo para ter notícias da sua sequência, anunciada pela primeira vez em 2019. Em entrevista para a Agemt, Amelie Strasburg, funcionária em um restaurante e fã da franquia, brincou: “Eu aproveitava apenas o engajamento e as piadas feitas pela comunidade, adorava a Hornet com cabelo e narizinho de palhaço”. A piada era piada comum entre os fãs do jogo que ansiavam por notícias.
Apesar de ser uma decisão consciente dos desenvolvedores, o silêncio de seis anos foi perigoso, já que a espera diminuiu o ânimo que muitos fãs sentiram ao ver o primeiro trailer. Foi o caso de Gabriel Merino, estudante e também fã do primeiro jogo. Ele contou que estava ansioso para o lançamento, mas foi “desanimando” conforme o tempo passava: “Nunca deixei de querer o jogo, mas senti que fomos deixados no escuro.”

A história de Hollow Knight
Hollow Knight é um jogo no estilo “Metroidvania”, caracterizado por seções de plataforma e pela exploração de um mapa grande e interconectado, com salas que só podem ser acessadas até que o jogador consiga algumas melhorias. Com personagens que são insetos, o jogo te coloca para explorar um reino devastado por uma doença misteriosa.
Você joga com “o cavaleiro”, uma pequena criatura mascarada que não tem memórias de sua criação. E ao chegar de surpresa no reino de Hallownest, descobre lentamente os mistérios e o que fez aquelas terras sucumbirem à infecção.

A jogabilidade e história, somados aos gráficos inteiramente desenhados à mão, contribuíram para o sucesso do jogo, que se tornou um dos mais amados pelo público. Para Gabriel, por exemplo, os principais fatores para o sucesso foram a volta da categoria metroidvania para o mercado; a coragem dos desenvolvedores de fazer algo diferente; e a história e a estética do jogo em si. Além disso, comandos precisos e confrontos dinâmicos e divertidos foram detalhes decisivos.
Amelie já teve uma experiência diferente, ela conta que se apaixonou duas vezes pelo jogo: “uma foi quando decidi dar uma chance pela insistência do meu irmão, mas desisti por raiva e falta de paciência. E a outra foi um ano depois, quando decidi dar mais uma chance e acabei pegando ambos os finais.”
Uma das personagens apresentadas na narrativa, a Hornet - que apesar da palavra significar "Vespa" em inglês, não representa nenhum inseto específico - será a protagonista do novo título - idealizado inicialmente como conteúdo adicional para o jogo de 2017.

O primeiro trailer do novo jogo, em 2019, foi o suficiente para surpreender a comunidade e deixar os fãs animados para jogar com uma personagem tão amada, além de poder explorar um novo reino e conhecer as exclusivas mecânicas da Hornet.
Em todos os eventos de jogos era possível encontrar internautas ansiosos por mais notícias, que só chegaram realmente a partir de junho deste ano. Em agosto, os rumores esquentaram. A Team Cherry confirmou na conferência de abertura da Gamescom que o jogo sairia ainda em 2025 e estreou o trailer do jogo no canal oficial do Youtube da empresa. A movimentação foi suficiente para devolver os internautas ao jogo, revivendo os anseios e as expectativas em relação à sequência, que havia desaparecido.
Mas em meio a tanta alegria, surgem também algumas preocupações. O preço de Silksong, se seguir a tendência de mercado, deve ser elevado. Sobre isso, Amelie dispara: “sinto que agora vou precisar guardar dinheiro pra comprar”. Já para Gabriel, a felicidade não está garantida: “Me preocupo por causa do estado em que os jogos têm vindo ultimamente, recheados de bugs, mal otimizados e incompletos.”
Motivos para a demora
Diferentemente do que alguns fãs especulavam, o jogo nunca enfrentou estagnação em seu processo de desenvolvimento. Em entrevista exclusiva para o jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, Ari Gibson e William Pellen, fundadores da Team Cherry disseram que queriam ter a certeza de que estavam fazendo o melhor.

Os desenvolvedores também comentam sobre como estavam constantemente tendo ideias novas para o jogo e que, se seguissem assim, poderiam levar até mesmo mais de dez anos para finalizá-lo. Um dos fundadores da empresa, Willian Pellen comentou o processo de criação: “Você está sempre pensando em um item novo, uma área nova, um chefe novo. É simplesmente por concluir o jogo que estamos parando.” Gibson até diz que precisou parar de esboçar a partir de um certo ponto, porque todas as suas ideias acabavam sendo adicionadas ao jogo.
Quanto à divulgação de novidades sobre o desenvolvimento, diferente do que foi feito na época do primeiro jogo, quando Gibson e Pellen publicavam constantemente os avanços, desta vez eles sentiram que fazer isso saturaria os fãs. Afinal, tudo o que eles tinham para falar era, nas palavras de Gibson, “Ei! Nós estamos trabalhando no jogo”.
Para William Pellen, os seis anos de espera evidenciam o amor de uma equipe pequena pelo próprio projeto: “Nós estávamos nos divertindo, não era algo lento que queríamos que passasse logo, e sim um espaço prazeroso no qual queríamos perpetuar o projeto com cada vez novas ideias.”
Agora é sanar a curiosidade dos fãs. Amelie disse que suas expectativas estão grandes: “Espero que o jogo esteja perfeito! Nível de ganhar a premiação de jogo do ano! Estou com vontade de só jogar.” E Gabriel também está ansioso: “Espero que tragam mais do que eu aproveitei no primeiro jogo: mapas, chefes, inimigos, além de aprofundar mais a história da Hornet.”
A equipe de Silksong se apegou tanto ao jogo, que confirmou que vem aí também uma série de conteúdos pós-lançamento.