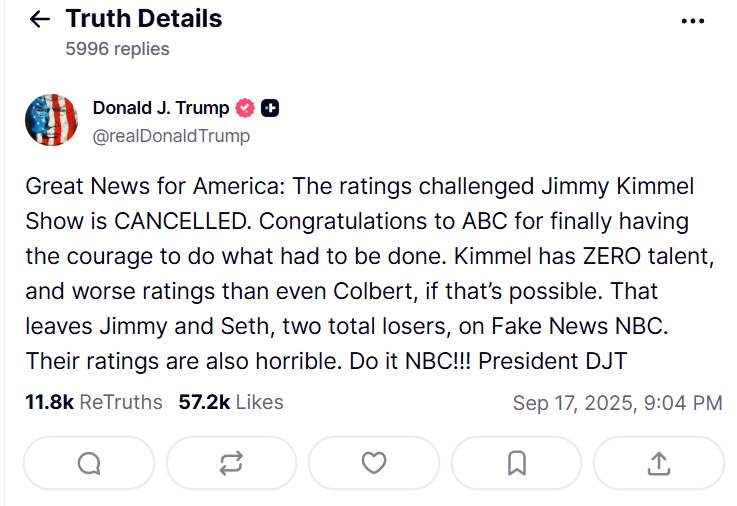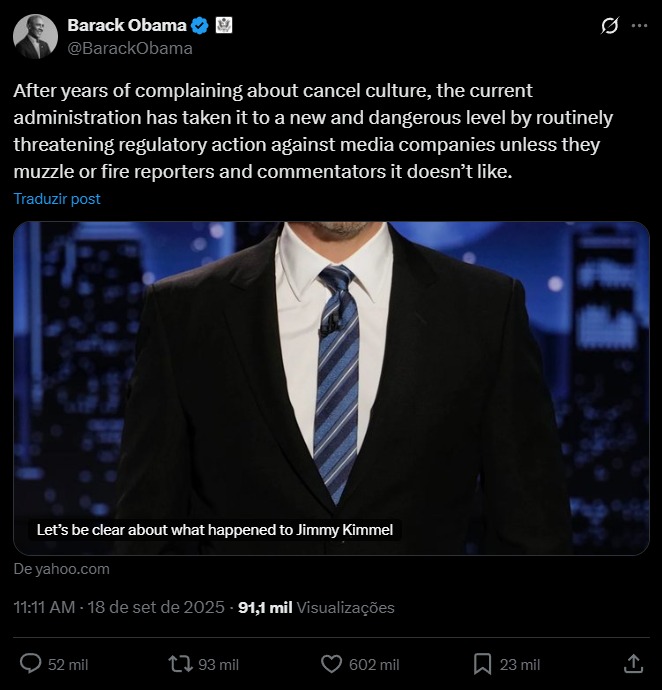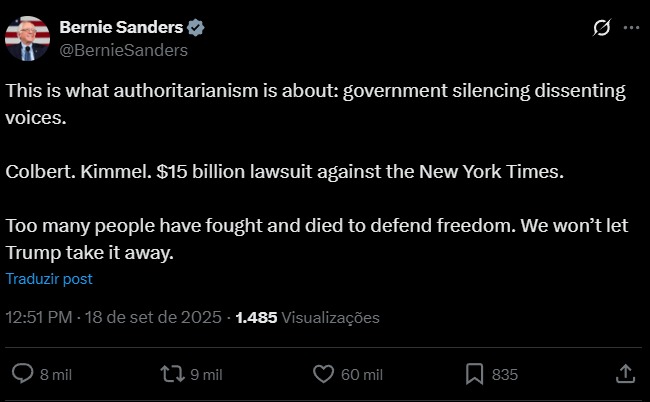No dia 11 de abril, o governo dos Estados Unidos enviou uma carta a Harvard exigindo uma reforma administrativa, auditorias com dirigentes, professores e alunos, além do encerramento dos programas de diversidade, equidade e inclusão. A Casa Branca também determinou a proibição do uso de máscaras — uma medida vista como direcionada aos protestos pró-Palestina, os quais têm sido tratados pelo governo como manifestações movidas por antissemitismo.
Três dias depois, foram congelados os contratos e subsídios federais da instituição, bloqueando cerca de US$2,3 bilhões (13,5 bilhões de reais). No mesmo dia, Alan Garber, presidente da universidade, declarou que as exigências extrapolam os direitos garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.
“Nenhum governo — independentemente do partido que estiver no poder — deve ditar o que universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir ou contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir”, disse Garber em um comunicado para os alunos. “Esses objetivos não serão alcançados por meio de imposições de poder, desvinculadas da lei, para controlar o ensino e a aprendizagem em Harvard e ditar como operamos”, completou.

Ainda em abril, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) afirmou que Harvard poderia perder a autorização para matricular estudantes estrangeiros caso não cumprisse as exigências do governo Trump. Na época, a secretaria do DHS enviou uma carta à universidade exigindo que, até o dia 30 daquele mês, fosse apresentado o registro das chamadas 'atividades ilegais e violentas' praticadas por estudantes estrangeiros com visto. Caso contrário, Harvard perderia o privilégio de matricular novos alunos internacionais.
Na carta enviada à instituição, o DHS declarou: “E se Harvard não puder comprovar que está em total conformidade com seus requisitos de notificação, a universidade perderá o privilégio de matricular estudantes estrangeiros”.
No dia 22 de maio, o governo Trump cumpriu a ameaça e cancelou a certificação do Programa de Estudantes de Intercâmbio de Visitantes da universidade. Com isso, ficou impedida de matricular novos alunos estrangeiros, e cerca de 6,8 mil estudantes internacionais, que representam 27% dos alunos da universidade, foram orientados a buscar transferência para outras instituições.
Um dia depois, após Harvard entrar com uma ação contra o governo, a Justiça dos Estados Unidos decidiu derrubar a proibição. Com isso, os estudantes já matriculados e os novos ingressantes voltaram a ter autorização para obter o visto de estudante no país.
Em entrevista à AGEMT, Danilo Linhares, estudante de Direito de Harvard, afirmou que o objetivo da proibição é causar um estrago imediato nas universidades. “A ilegalidade da medida é tão gritante que é difícil acreditar que o próprio governo ache que tem chance real de vencer na Justiça. Mas acho que o objetivo deles nem é exatamente ganhar. É causar um estrago imediato — muita universidade menor não tem recursos nem disposição para comprar essa briga nos tribunais e, talvez, acabe cedendo às exigências."
Donald Trump justificou as medidas afirmando que Harvard “perdeu o rumo” e que a universidade “só ensina ódio e estupidez”.
Nas audiências realizadas nos dias 27 e 29 de maio, a juíza Allison Burroughs prolongou a suspensão da decisão do governo, permitindo que Harvard continue recebendo estudantes internacionais até que os dois lados apresentem seus argumentos no tribunal.
Nesta quinta-feira (08), a fumaça branca da Capela Sistina anunciou ao mundo o fim do conclave e a escolha do novo líder da Igreja Católica. Poucos minutos depois, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi apresentado como Papa Leão XIV. A escolha surpreendeu e gerou debates globais, especialmente por Prevost ser o primeiro papa americano da história.
“Estamos falando de um Papa estadunidense, que é um país com tradição protestante. Acho curioso, especialmente no atual contexto geopolítico”, comentou Giulia Siqueira, ex-aluna de Psicologia da PUC-SP. A nacionalidade do novo papa levantou questionamentos sobre sua postura diante dos conflitos e tensões internacionais, como a recente volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

Para muitos, a eleição de Leão XIV representa uma continuidade da linha progressista iniciada por Francisco. “Eles mantiveram a ideia de um Papa que apoia causas sociais”, afirmou Joab, aluno da PUC-SP. Ele espera que o novo pontífice mantenha o diálogo aberto com minorias e continue a defender pautas como o combate à pobreza.
Giulia reforça a importância de uma liderança religiosa conectada às urgências sociais. “É interessante que o Papa atue como resistência aos extremos. O papel dele é se colocar à disposição do povo e não acima dele.” Entre as prioridades de seu pontificado, ela aponta as tensões no Oriente Médio, os conflitos na Europa e os direitos da comunidade LGBTQIA+.

Apesar de não representar oficialmente seu país, Leão XIV carrega consigo a simbologia de uma liderança americana em um cenário global conturbado. “Ele pode ajudar a descentralizar e descolonizar o olhar da Igreja sobre o mundo. Espero que se posicione de forma ativa sobre os conflitos e ajude a educar para a paz”, finaliza Giulia. Com um cenário internacional delicado, as decisões de Papa Leão XIV serão observadas com atenção por fiéis, políticos e líderes de todo o mundo.
Na terça-feira do dia 6 de maio, as autoridades indianas afirmaram que realizaram bombardeios em nove locais que hospedam terroristas na Caxemira controlada pelo Paquistão. O Paquistão, por sua vez, apresentou uma narrativa distinta: informou que houve ataques aéreos em seis áreas, todos voltados a alvos civis, resultando em oito mortes, incluindo a de uma criança. O governo paquistanês comunicou aos meios de comunicação que conseguiu derrubar cinco aeronaves e um drone indiano. O governo indiano responsabilizou o Paquistão, que negou estar envolvido. Os bombardeios foram desencadeados após um ataque que ocorreu em abril na Caxemira indiana, onde 26 vidas foram perdidas devido a uma ação armada em uma área turística.
As Forças Armadas do Paquistão, na véspera, reivindicaram a destruição de cinco caças indianos na porção da Caxemira sob administração de Nova Délhi. Embora as autoridades indianas não tenham confirmado oficialmente as perdas, uma fonte ligada às forças de segurança, que preferiu não se identificar, informou que três aeronaves militares foram abatidas.
Ao conversar com o cientista político e ex-professor de Relações Internacionais na UERJ, FGV e Candido Mendes, Maurício Santoro, o profissional nos explica sobre a crescente do conflito da Caxemira desde 1947, as políticas que os países confrotam nos dias atuais e como podemos entender melhor essa história. Veja a reportagem
Nesta terça-feira (13), faleceu José “Pepe” Mujica, ex-líder do Uruguai. Aos 89 anos, ele travava uma batalha contra um câncer no esôfago desde abril do ano anterior. A causa exata da morte ainda não foi informada.
Na rede social X, o atual presidente do país, Yamandú Orsi, confirmou a notícia: “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e companheiro. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor ao povo uruguaio.”
Ontem (12), a esposa de Mujica, Lucía Topolansky, já havia declarado que ele estava “em estado terminal e recebendo cuidados paliativos”.
A trajetória de Mujica foi marcada por sua liderança como uma das figuras mais emblemáticas da esquerda no Sul Global. Desde a infância, sob influência da mãe, Pepe se apaixonou pela literatura e pela política. Criado com a irmã, perdeu o pai aos 7 anos de idade. Iniciou sua carreira política como secretário da Juventude no Partido Nacional.
Foi também um dos fundadores e guerrilheiros do Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros, grupo que buscava uma revolução socialista no Uruguai. Seus integrantes ficaram conhecidos por realizar assaltos a bancos para redistribuir o dinheiro entre os mais pobres. O período de maior atividade do grupo coincidiu com a ditadura militar no país, entre 1973 e 1985.
Mujica foi capturado quatro vezes, passando seu mais longo período de encarceramento em 1972. Mesmo assim, conseguiu fugir duas vezes. Durante a prisão, foi mantido em solitária e submetido a intensas torturas. Sua primeira detenção foi em 1964, após o assalto a uma fábrica em Montevidéu. Em 1971, foi preso novamente, mas conseguiu escapar junto a centenas de detentos. No total, passou mais de 14 anos na prisão.
Após ser libertado por um projeto de anistia, Mujica participou da fundação do Movimento de Participação Popular. Apesar do passado como guerrilheiro, declarou em entrevista ao jornal Búsqueda que se tornou um defensor da democracia e que considerava seus atos da juventude um erro. Na década de 1990, ocupou os cargos de senador e ministro da Agricultura.
Como presidente do Uruguai (2010-2015), Mujica ganhou notoriedade mundial por defender pautas progressistas, como a legalização da maconha, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a descriminalização do aborto.
Entrou para a história uruguaia como um líder humanista, priorizando o combate à pobreza e à fome. Mesmo no cargo mais alto do país, manteve um estilo de vida simples: recusou-se a morar no palácio presidencial e preferiu continuar em seu sítio nos arredores de Montevidéu. A imprensa internacional o apelidou de “o presidente mais pobre do mundo”. Fiel ao seu Fusca 1987, doava a maior parte de seu salário, reforçando sua imagem de político avesso a luxos.

Sob sua gestão, a economia uruguaia apresentou resultados expressivos, com crescimento médio anual de 5,4% e redução significativa dos índices de pobreza. Ainda assim, enfrentou críticas da oposição, que o acusava de provocar aumento do déficit fiscal.
Em 2012, Mujica esteve no Brasil para a cúpula Rio+20 da ONU, realizada no Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu nota de pesar, afirmando: “Ele foi um grande amigo do Brasil.”
Mujica nunca escondeu sua visão serena sobre a morte, como demonstrou em diversas entrevistas: “E, por favor, não vivam com medo da morte, mas, a certa altura da vida, você sabe que, um pouco antes ou um pouco depois, ela vai chegar”, declarou em uma conversa par um livro.
Na quinta feira, dia 8 de maio, durante o segundo dia de conclave, a fumaça branca saiu pela chaminé da Basílica de São Pedro e anunciou uma decisão. O novo papa é o estadunidense Robert Francis Prevost, que escolheu como nome Leão XIV.
Este conclave contou com 133 cardeais que, após quatro votações, escolheram o novo líder. Robert Prevost é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos da história e a sua nacionalidade foi motivo de insegurança por parte de alguns. É o caso de Felipe Dias, estudante de Publicidade e Propaganda da PUCSP, que contou: “Confesso que quando vi que o novo papa era americano fiquei nervoso, todo mundo sabe que a religião lá é bem conservadora”.
Contudo, o primeiro discurso de Leão XIV indicou uma provável continuação dos ideais apresentados pelo Papa Francisco. E, além disso, a fala inicial contou também com uma parte em Espanhol, homenageando fieis peruanos, país em que o novo líder foi bispo por nove anos. A escolha pelo uso de outra língua foi bem vista por muitos. A professora Adriana Reis, por exemplo, considerou a atitude como “maravilhosa” e disse ser possivelmente um indicativo da criação de um futuro vínculo entre o Papa e a América Latina.
Adriana conta estar bem satisfeita com a escolha. “Eu estou confiante. Ele se tornou cardeal porque foi conduzido pelo Papa Francisco e isso já indica que irá acompanhar essa linha progressista” justifica a professora e logo depois acrescenta: “Ele também é devoto de Santo Agostinho, outro sinal de que provavelmente trabalhará sempre focando no coletivo”.