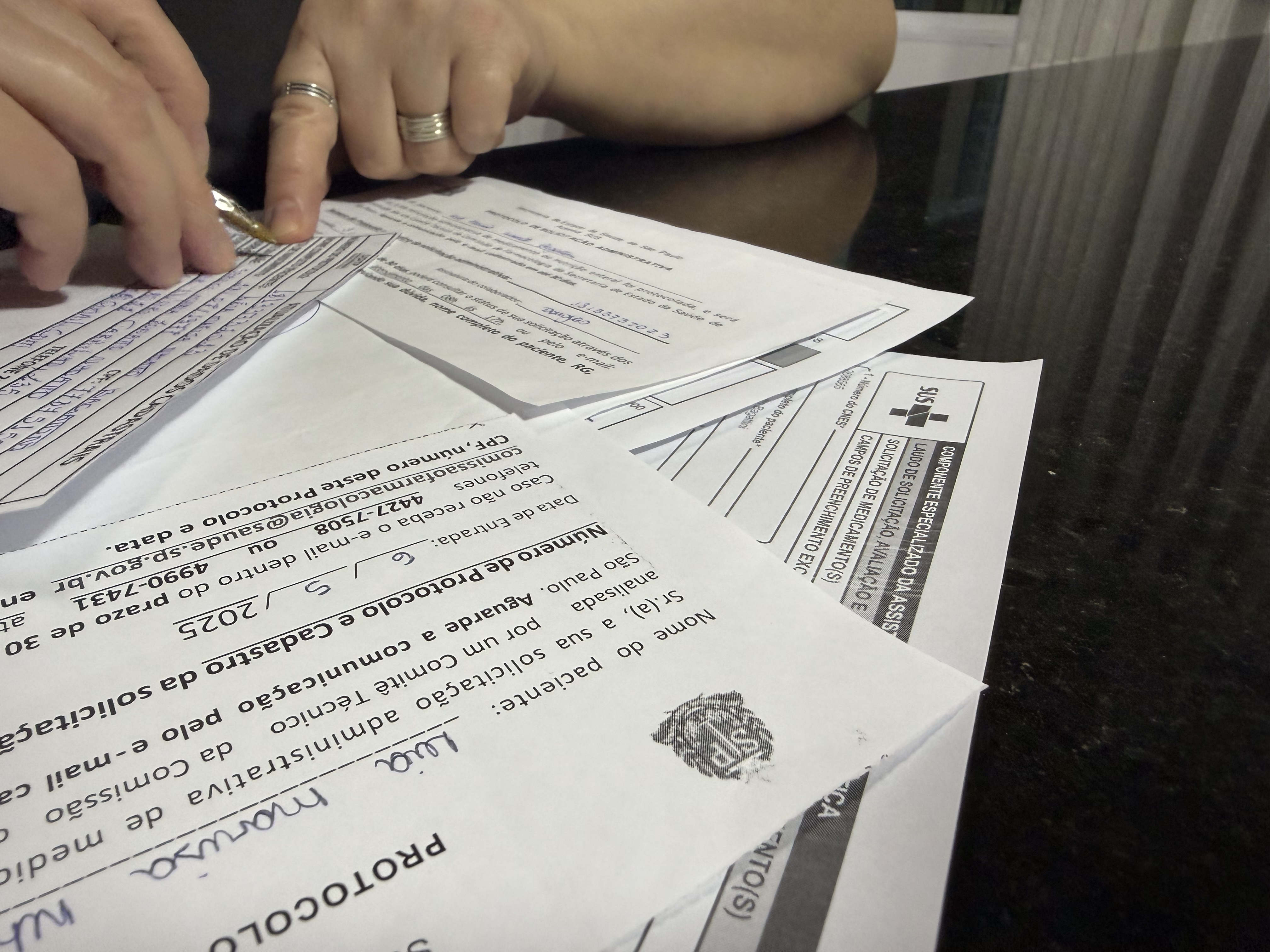A pandemia provocou uma crise econômica e social sem precedentes. Para tentar conter a disseminação do vírus no país, as autoridades brasileiras buscaram estabelecer algumas medidas restritivas desde o início de 2020. Porém, alguns setores não pararam, como a área de saúde.
Ao mesmo tempo em que o Brasil vive o agravamento da situação pandêmica, com o novo avanço do número de mortes, segue em alta a discussão sobre o conflito entre medidas para salvar vidas ou a economia.
Dados de 26 estados mostram que o gasto conjunto com saúde somou no ano passado R$ 164,8 bilhões. Este valor decorre de um aumento superior ao dobro da taxa de crescimento das receitas.
Há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, o impacto na vida dos trabalhadores deste setor é generalizado. De acordo com a Fiocruz, 95% dos profissionais de saúde tiveram suas vidas afetadas de uma forma significativa pela pandemia.
Os dados obtidos pela pesquisa feita em março de 2021, que ouviu mais de 25 mil participantes, mostram um quadro estarrecedor onde a exaustão, a insegurança, o sofrimento e o medo são rotinas.
Além disso, 50% desses profissionais apresentaram aumento na carga horária de trabalho. Vale ressaltar que 45% desses profissionais necessitam de dois empregos para sobreviver.
Um dos aspectos relevantes para a gestão das atividades em saúde é planejar ações com antecedência, algo que não é possível em um cenário pandêmico onde o inesperado e imprevisível fazem parte das rotina diária.
Em épocas de surto, as unidades de saúde podem ser caracterizadas como locais conturbados e caóticos, pressionados por uma demanda bem superior à usual. .
No que se refere aos trabalhadores do setor, manter a competência técnica e científica exige muito controle emocional, considerando que o atendimento apresenta riscos, responsabilidades e sofrimentos. A combinação destes fatores pode ocasionar o adoecimento profissional, e assim impactar o processo de trabalho, e, consequentemente, ameaçar a qualidade e segurança dos serviços.
O fisioterapeuta da Santa Casa de São Paulo Lucas Del Sarto foi um dos afetados pela alta demanda de profissionais de saúde em razão da Covid-19. Ele relata que sua carga horária aumentou radicalmente, passando a 60 horas semanais. Para ele, mais de um ano depois do início da pandemia, é inviável continuar com o mesmo ritmo de trabalho.
Lucas conta que no começo pensava que seria igual à crise da H1N1 (gripe causada pelo vírus influenza que atingiu mais de 200 países entre 2009 e 2010,na primeira pandemia do século 21). Com o tempo, porém, ele foi percebendo que o problema era mais sério. “Eu não fiquei com medo quando os números começaram a aumentar, eu fiquei com pavor”, diz.
Um dos maiores problemas de gestão de crise sanitária e econômica, segundo o fisioterapeuta, é o tempo que as pessoas permanecem internadas. “Os doentes chegam muito rápido, mas demoram para sair”, relata Lucas ao ser questionado sobre a superlotação dos hospitais. “Hoje tem mais de 400 pacientes esperando uma vaga na UTI.”
Segundo o governo de São Paulo, de janeiro a março deste ano, os pacientes com coronavírus ficaram, em média, 19 dias internados na UTI em São Paulo. A média aumentou em comparação com os dados de 2020, que mostravam de 14 a 15 dias.
Lucas, no entanto, relata que o maior problema que tem enfrentado é o isolamento afetivo. Durante a pandemia, ele perdeu o pai, seu grande companheiro. “Eu me sinto em um labirinto cheio de medo, impotência e irritabilidade.” Porém Del Sarto fez questão de frisar a sua esperança em um futuro melhor: “Está difícil, mas a vacina está chegando”.
Esta realidade não é apenas de Lucas, mas de milhares de profissionais que se viram pressionados ao extremo e afastados de seus entes queridos durante a pandemia. Ainda de acordo com o estudo da Fiocruz, durante a pandemia, as alterações mais citadas pelos profissionais foram perturbação do sono (15,8%), irritabilidade/choro frequente/distúrbios em geral (13,6%), incapacidade de relaxar/estresse (11,7%), dificuldade de concentração ou pensamento lento (9,2%), perda de satisfação na carreira ou na vida/tristeza/apatia (9,1%), sensação negativa do futuro/pensamento negativo/ suicida (8,3%) e alteração no apetite/alteração do peso (8,1%).
Pesquisa apresentada pelo Journal of Management & Health of Care, a pandemia forçou a modificação de hábitos de vida em trabalhadores da área da saúde, principalmente em fisioterapeutas e enfermeiros, considerados profissionais da linha de frente. O maior impacto observado foi o sedentarismo, que pode levar ao desenvolvimento de doenças e afetar o trabalho.
O fato é que a pandemia expôs a essencialidade dos cuidados em saúde para todos os seres humanos. Contraditoriamente, revelou o quanto estes profissionais ainda não são considerados e respeitados nesse processo.
Já se passou mais de um ano desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil. A partir disso, muita coisa mudou, como a adaptação de boa parte dos trabalhadores ao regime de trabalho remoto. Com isso, a carga horária dos funcionários também foi afetada e pesou bastante para a rotina daqueles que ainda tinham que cuidar da casa ou estender seu período de serviço até altas horas.

Um exemplo disso está na pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente, da Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/UFMG). O relatório “Trabalho Docente em tempos de Pandemia” mostrou que 82% dos mais de 15 mil professores da educação básica entrevistados tiveram um aumento significativo das horas de trabalho em comparação com o tempo de preparação das aulas presenciais.
A professora de artes Cristina Souza, que atua na rede pública, afirma que seu horário de serviço foi modificado. “No início eu começava às 7h e ia até as 22h, eram 14 horas trabalhando por dia. Atualmente já consigo fazer apenas oito horas, mas a demanda continua muito exaustiva para quem não tinha tanto trabalho diário e precisa estar disposto a responder aos alunos até em momentos de lazer, como em um sábado”, conta Cristina.
Terapia e psicólogos são disponibilizados
Com isso, os trabalhadores vêm tendo dificuldades para a concentração e descanso durante a pandemia. Na verdade, com todo o caos que o país enfrenta, números de óbitos alarmantes, medo do coronavírus, aumento de produtos para consumo básico e carga horária acima do exigido comumente, algumas empresas precisaram planejar novos benefícios para seus funcionários.
Pensando nessa possibilidade, startups, como a Resultados Digitais, enxergaram a necessidade de oferecer sessões de terapia e psicoterapia no pacote de benefícios dos funcionários. A medida alivia a exaustão das jornadas de trabalho e ajuda na organização mental dos empregados.
A supervisora de RH da empresa, Lillian Steves, comenta que esse foi um processo lento para ser implementado dentro dos critérios em seu serviço. “Tivemos que ir aprendendo a adaptar os funcionários nas atuais condições da crise sanitária. Por isso, a partir desse semestre, temos dez sessões de terapia online a cada seis meses para poder descarregar um pouco da nossa carga emocional e mental, também ajudando no desempenho da companhia”, explica a profissional.
Outras formas de compensar o trabalho árduo são as reuniões no final do expediente, os chamados happy hour, que estão sendo feitos de maneira virtual. “Sempre que possível, toda sexta-feira, eu e minha equipe tentamos fazer uma reunião online para curtir um pouco esse momento livre, compartilhando nossos laços. Também temos um cupom para gastar em um aplicativo de delivery e comprarmos algum lanche dentro de casa. Parece mesmo que estamos dentro de um bar ou algo assim, acho que alivia bastante após um dia cansativo”, conclui Lillian.

Além disso, ações para saúde mental dentro do universo corporativo também estão aparecendo cada vez mais nesse período, o que possibilita outras alternativas para manter o equilibro emocional em grupo. O arquiteto de soluções e desenvolvedor operacional de nuvem Felipe Viana explica isso melhor: “Na minha empresa, fora a oportunidade de realizar 20 sessões particulares de terapia ao longo do ano, também temos palestras envolvendo aulas de ioga, como lidar com o luto, como manter a saúde mental, como dormir melhor e outros assuntos que possam ajudar o psicológico”.
Apesar disso, ainda fica um pouco inviável estar presente nessas conversas abertas e manter o desempenho no trabalho, considerando os horários e afazeres do serviço. “Essas palestras são disponibilizadas somente nas quartas-feiras à tarde, e eu não consigo ver por estar trabalhando ou até mesmo em uma reunião com algum cliente durante a hora, então para mim não ajudam em nada. Portanto, o que mais me alivia após o expediente são os happy hour online”, finaliza Felipe.
Ainda faltam melhorias em várias empresas
Não obstante, não são todas as empresas que investiram na saúde mental dos funcionários nesse período de crise. De acordo com uma pesquisa realizada pela Vittude, 47% das empresas não buscaram nenhuma iniciativa para melhorar a saúde psicológica dos funcionários desde o início da pandemia. Entre os entrevistados, 33% afirmaram que houve sobrecarga e acúmulo de funções no trabalho e 24% tiveram dificuldades de manter a rotina de casa funcionando.
Entre as possíveis melhorias do ambiente de trabalho e cuidados com a saúde mental daqueles que movem uma empresa, muita coisa precisa ser aperfeiçoada para que o meio social desses empregados possa dar apoio às suas angústias dentro ou fora de uma crise sanitária. Aliás, entrar em contato com seu controle emocional e os estresses mentais é um meio de proporcionar uma profunda jornada para o autoconhecimento e fortalecer outros aspectos pessoais.
Desde o decreto de isolamento social por conta da atual pandemia do coronavírus, resultados notórios foram gerados. Diminuição da poluição atmosférica em grandes cidades, águas mais limpas, passagem incomum de animais silvestres em centros urbanos, praias vazias com tartarugas desovando em massa são alguns dos fenômenos observados. A redução do movimento urbano, da circulação humana e suas consequências são alvos de atenção para muitos estudiosos, pois embora a mudança de cenário tenha trazido muitos efeitos positivos, tais são vistos como pontuais e temporários, ao passo que os efeitos negativos consequentes do isolamento são preocupantes a longo prazo.
Em dados recentes divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), a média de consumo de plástico aumentou mais de 25% durante a pandemia. O número tem contribuição significativa dos serviços de delivery, que viram os valores gastos com pedidos crescerem 95% entre janeiro e maio de 2020, em comparação com 2019.
Com o avanço da pandemia, o plástico se tornou o maior aliado na proteção contra a COVID-19. O aumento no uso de luvas, máscaras, proteções faciais e barreiras usadas em estabelecimentos, afetaram os esforços de campanhas para redução no uso do material. O problema que já era presente antes, agora se intensificou, agravando a poluição marinha.
A bióloga e oceanógrafa Cinthia Masumoto, atual fiscal do Ibama, afirma: “Na pandemia, tivemos redução do trânsito marítimo e redução do turismo. Isso seria muito positivo para a vida marinha: uma pausa no branqueamento dos corais, atropelamento de baleias, e vazamentos de combustível. Por outro lado, tem esta situação do aumento da produção de lixo. Ou seja, o mar sofre impactos cronicamente. Mas como não temos isso quantificado, fica difícil identificar o verdadeiro vilão.”
A experiência globalizada do isolamento social ilustra que a cultura de produção e consumo têm impactos sobre meio ambiente e a fauna. Mesmo os efeitos positivos da pandemia podem ser apenas um alento temporário, mas não a solução para os problemas que a civilização humana causa na natureza, como superexploração, poluição ambiental e extinção em massa de espécies.
O Fórum Econômico Mundial apresentou um dado preocupante em estudo sobre a produção desenfreada de plástico: a projeção é de que a quantidade de lixo despejada nos oceanos, em 2050, será superior ao número de peixes. Além do crescimento na produção de lixo doméstico e hospitalar, o material de pesca deixado no mar corresponde a quase 85% de lixo plástico. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são descartados de forma irregular nos oceanos. Mais de 80% do plástico do oceano vem da terra. A quantidade desse material chega a exceder o número de algas marinhas presentes no oceano.
A indústria da pesca
Localizada entre a costa da Califórnia e o Havaí, a grande mancha de lixo do Pacífico é resultante do acúmulo de detritos, principalmente derivados de plásticos. O tamanho estimado é de 80 mil toneladas de lixo flutuando em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Os detritos encontrados têm origem em diferentes países, isso se dá por causa das correntes marítimas que favorecem a acumulação de lixo nessa região do planeta.
Embora raramente discutidos, apenas 0,03% dos resíduos de poluição de plástico são provenientes dos canudos. Então por que não se questiona qual é realmente o grande vilão dos oceanos? Com uma quantidade significativa para degradação da vida marinha, as redes e equipamentos de pescas são responsáveis por 46% do material encontrados na grande mancha de lixo do Pacífico, o que acaba sendo muito mais perigoso do que os nossos canudos, por que ao contrário deles, esses foram projetados para matar.
Acerca da pesca sustentável, Cinthia explica o porquê de não existir: “É teórica porque a pesca é extrativista, só retiramos e não repomos, então, dependemos do esforço da própria natureza em se recompor, mesmo com pressão de pesca em cima. A maioria das vezes a natureza não aguentou, em consequência tivemos vários estoques de pescados dizimados pelo homem.”
O Japão possui a maior indústria pesqueira do mundo, que fatura 42 bilhões de dólares e captura em torno de 15,2 milhões de toneladas de peixes por ano. O porto de pesca de Kii-Katsuura, é o maior porto de comércio de atum-rabilho, e a Mitsubishi, responsável por controlar 40% do peixe em extinção.
A sobrepesca, a perda de habitat e a poluição estão levando a maioria das populações das espécies marinhas a entrar em declínio, à beira da extinção. Porém, existe outro fator colaborando: a captura indiscriminada decorrente da pesca de arrasto. Uma grande e pesada rede é arrastada pelo fundo do oceano para recolher tudo o que estiver em seu caminho.
Estima-se que 40% de toda vida marinha capturada é jogada de volta ao mar, classificada como captura "acidental". Ainda que as tartarugas marinhas não sejam alvos da pesca comercial, seis em cada sete espécies estão ameaçadas de extinção. No entanto, os leitos oceânicos mais profundos também estão sendo afetados pela pesca de arrasto, que não só extermina animais marinhos, como também destrói ecossistemas frágeis, o que colabora para a desertificação dos oceanos e alterações significativas no ciclo do carbono.
Coronavírus e degradação ambiental
A transmissão do coronavírus está relacionada à degradação ambiental. Com o meio ambiente degradado em terra, na costa ou nos oceanos, o ecossistema perde um serviço conhecido como regulação de doenças e isso facilita o processo de transmissão para a espécie humana. Então, quanto mais se agride o ambiente, incluindo o mar, mais sujeitos estamos às pandemias.
A indústria da pesca em lugares como a África ocidental é impulsionada por subsídios da União Europeia, ou seja, empresas e pescadores locais não conseguem competir com o poder econômico — uma continuação de uma história de exploração no continente africano — e por consequência, sofrem com a insegurança alimentar.
A diminuição da captura de peixes pela população local, provocada pela sobrepesca em embarcações internacionais chinesas e europeias, subsidiadas pelo governo, gerou fome na sociedade fragilizada. Em busca de uma fonte alternativa de proteínas, foi crescente o aumento da caça e o consumo de carne de animais selvagens em várias comunidades pesqueiras ao longo da costa oeste, portanto, o roubo de populações marinhas foi considerado agravante e até mesmo responsável pelo surto de ebola na África ocidental.
As consequências da poluição e o futuro dos oceanos
A poluição está alterando cada vez mais o PH dos oceanos. Esta mudança de acidez afeta diretamente a reprodução, fisiologia e distribuição geográfica de populações e até mesmo espécies de organismos marinhos, além de prejudicar a calcificação de indivíduos como crustáceos, plânctons, moluscos e corais. O desaparecimento ou redução destes seres, que fazem parte da base da cadeia alimentar de muitos peixes e baleias, pode acarretar problemas na biodiversidade e extinção de espécies.
A consequência causada pela acidificação dos oceanos é o desaparecimento dos recifes coralinos, que funcionam como barreiras naturais, e a falta deles pode diminuir a proteção dos litorais contra eventos extremos como tempestades, inundações e perda da biodiversidade.
Outro problema do descarte irregular é a produção de microplásticos. Esses pequenos fragmentos, que medem cerca de 5 milímetros de diâmetro, não são visíveis, mas são uma grande ameaça. A liberação desse material se torna um problema emergente, que pode gerar impactos na saúde humana e no ecossistema — principalmente marinho —. Em pesquisa realizada pela World Wide Fund For Nature (WWF), a quantidade de microplásticos ingeridos por semana pelos seres humanos equivale ao tamanho de um cartão de crédito. Esses plásticos não biodegradáveis podem ser ingeridos pela água potável, pelo ar, e pela ingestão de alimentos.
Os animais marinhos, por sua vez, correm o risco de confundir estes materiais com comida e acabam se intoxicando ou até morrendo. Além disso, estão sujeitos a amputações, deformidades e até falecimento por ficarem presos aos objetos ou redes fantasmas.
Os oceanos cobrem aproximadamente 70% de toda a superfície terrestre, e os ecossistemas marinhos são regiões que sofrem a influência da água do mar. Por serem maiores e mais antigos do que os ecossistemas terrestres, possuem quase que o dobro de filos animais, sendo um local de grande biodiversidade. A sobrevivência humana na Terra está diretamente ligada às condições dos oceanos, pois além de produzirem a metade do oxigênio disponível, eles ainda regulam as condições climáticas, absorvem gás carbônico e fornecem alimentos a milhões de pessoas.
O plástico segue sendo um problema, e as empresas continuam sem oferecer embalagens alternativas, ou com materiais alternativos aos consumidores. Muito se fala a respeito de um novo “normal” pós-pandemia. Alguns cientistas acreditam que as mudanças socioambientais observadas até então podem ser duradouras, já outros afirmam ser temporário. Os benefícios do isolamento social ao meio ambiente são apenas pontuais e temporários. Para serem observados a longo prazo, é necessário mudanças nos padrões de consumo e conscientização da população.
Ao ser questionada se repensar e planejar nossos hábitos de consumo causaria alguma mudança diante do cenário atual, a fiscal do Ibama declara: “Sempre! Lembrando que os efeitos negativos que o mar sofre são eventos de larga escala no tempo. Ou seja, nossas ações individuais, pequeninas neste mundo, não são percebidas em curto prazo, por isso sempre falamos em “Sustentabilidade de gerações futuras.”
Por Silvana Vieira da Luz e Suzana Rufino
Na pandemia, muitas empresas demitiram seus funcionários por não terem condições de pagá- los e arcar com as despesas. Porém, há aquelas que não só aumentaram a demanda de serviço como contrataram mais colaboradores, isto é, estão lucrando nesses tempos da covid-19, são os chamados calls centers. Segundo a Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing) as empresas de prestações de serviços empregam mais de 1,5 milhões de jovens/adultos com idade entre 18 e 29 anos. Nota-se que essa forma de trabalho é a única rentável no momento, porém quem ganha não são os operadores, mas sim as empresas terceirizadas.
A média salarial é sempre de um salário mínimo com alguns benefícios, o horário de trabalho é de 6h20min/dia, 6 dias por semana (sábado e domingo alternado). As áreas são variadas como: ativo de vendas, receptivo, híbrida, cobrança, retenção, sac, chat e email. E agora, com essa nova fase da pandemia, essas empresas adaptaram seus serviços de uma forma remota, isto é, migraram seus operadores para trabalharem em casa, disponibilizando máquinas com o sistema já instalado, suporte via Whatsapp, enfim, tudo para o colaborador atender de uma maneira mais cômoda e eficaz possível.
Visto por este ponto de vista, até parece um emprego tranquilo e com várias atuações, mas não, pois todos os dias os colaboradores sofrem as pressões acima do normal, por que há metas a serem cumpridas em determinado tempo, e muitas vezes, além das cobranças, o assédio moral e até sexual surgem para piorar o contexto (e sim, assédio sexual também pode ser virtualmente). A forma tranquila de se trabalhar com esse ramo nunca haverá, e mesmo com a continuidade de contratações, os operadores continuarão com as mesmas pressões e aumento de serviços.
Essa área é comum entre jovens e adultos na maioria universitários ou já formados, que ao não conseguirem um estágio ou emprego em sua área, optam por serem Agentes de atendimento, pois é o que tem naquele momento e a única forma de pagar as contas e sustentar a família. Parece que não há escapatória, e o mais engraçado são que muitos, mesmo depois de formados, continuam os estudos para terem mais chances de conseguir um emprego melhor, mas percebe-se que a crise só piora, o emprego ideal não aparece e o telemarketing é a única opção de sobrevivência.
Outra questão pertinente é perguntar aos colaboradores sobre o tempo de emprego de call center, a resposta as vezes assusta, isto é, a maioria responde que já tem anos como operador, passando por várias empresas e sem chance de subir de cargo.
O dia a dia deles é sempre a mesma coisa “Do outro lado da linha, estão clientes irritados pelos problemas causados por uma empresa da qual muitas vezes você não é funcionário e sobre a qual não tem qualquer responsabilidade. No entanto, naquela ligação, é você quem personifica todos os erros e os defeitos dela e, por causa disso, acaba sendo o alvo da ira de todos aqueles consumidores insatisfeitos. Os xingamentos vão desde "burro", "incompetente" e "ignorante" a até "você não presta para nada, por isso nunca vai deixar de ser operador de telemarketing". Desligar o telefone não é uma opção, então a única alternativa é escutar os insultos calados. E não dá tempo de respirar. Enquanto você tenta esquecer as ofensas que acabou de ouvir, o telefone toca de novo, e é preciso disfarçar rapidamente e dizer com a voz simpática: "Bom dia, senhor, em que posso ajudar?”, afirma a jornalista Renata Mendonça, da BBC News Brasil.
Esse é o cotidiano de vários trabalhadores brasileiros que atuam nesse ramo, recebendo todas as reclamações dos consumidores das empresas filiadas, e também ligando para possíveis futuros clientes para oferecer serviços impertinentes. Segundo Mendonça, “o profissional dessa área é frequentemente tachado de "chato" e "odiado" pelas pessoas". Mas, se a realidade é difícil para quem precisa de seus serviços, pode ser ainda pior para quem vive na pele essa rotina. A média de ligações diárias costuma ultrapassar as centenas (cerca de 300 nas 6 horas que trabalham conectados) – enquanto a média salarial dificilmente ultrapassa um salário mínimo, com algumas remunerações variáveis a depender das metas a serem batidas”.Apesar do trabalho agora ser em home office, a rotina repetitiva continua a mesma ou até pior com a alta demanda de serviço. E claro, com isso vem o estresse, as dores por todo corpo, a ansiedade e a depressão. Geralmente, a saúde mental piora de uma tal forma que levam muitos operadores a não se fixarem no emprego e terem que se consultar todo mês com psicoterapeuta e/ou psicólogo. E também, há aqueles que antes já possuíam algum distúrbio, e no decorrer da pressão do call center, pioraram e tiveram que se afastar.
Diante desse cenário, o número de doenças diagnosticadas em pessoas que exercem essa função é crescente. Somente na Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com dados do
Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing (Sintratel), existem aproximadamente 100 mil profissionais nesse segmento. Dados do sindicato relacionados a doenças do trabalho apontam que 36% sofrem de lesão por esforço repetitivo (LER), 30% de transtornos psíquicos e 25% apresentam alguma perda auditiva ou de voz”, relata a jornalista.Cotidiano estressante
De acordo com psicólogos sociais, depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico são algumas doenças/distúrbios psíquicos desenvolvidos ou piorados por operadores de telemarketing.
É como afirma Letícia Costa, de 25 anos, que tinha o dia a dia estressante quando trabalhava na área.“Para mim era uma tortura, só de pensar já fico agoniada. Infelizmente a maioria de meus empregos foram em telemarketing, e pior, por voz. Em meu penúltimo, que também foi em call center, era uma escravidão, fazia várias funções ao mesmo tempo como: cobrança, ativo/vendas, receptivo/sac, suporte técnico, chat e email, enfim, sofria com crises de ansiedade direto. Fiquei por 2 anos, difícil de acreditar, mas não conseguia outro emprego”.
"Na verdade esse foi o meu limite, mas lamentavelmente durou pouco, pois por não conseguir nada em minha área que é em Letras, resolvi me sujeitar ao telemarketing novamente. Já sabia como seria, então não criei expectativas de mudanças nesse ramo, porém como só faria uma função, pensei que seria menos pior, mas não, foi muito ruim. Levantava todos os dias com um aperto no peito, boca seca, ansiosa e desanimada”.
“Segurei por quatro meses, depois disso comecei a ter várias crises em seguida, desmaiava nos transportes públicos, quando tentava ir não conseguia entrar na operação, por que já lembrava dos xingamentos dos clientes, cobranças da supervisora, gritaria no ambiente, falta de ajuda, tudo me apavorava. Sofro de Transtorno de Ansiedade Generalizada há três anos, desde lá tomei diversos remédios, me consultei com psiquiatras, só não pude fazer psicoterapia por falta de tempo e dinheiro”.
“Pedi muitas vezes para minha supervisora me mandar embora, mas era em vão. Empresas como esta não mandam, não se preocupam com o operador, só quer lucrar. Em março, comecei a trabalhar em home office, pensei que diminuiria a cobrança e as ligações, mas não, piorou. As ligações era todo momento, cobrança a toda hora, metas dobradas, por que na concepção deles, estar em casa é cômodo e dá para produzir mais. Me senti um gado, todos os dias levantava com vontade de desistir, porém as contas não perdoavam, tinha que continuar”.
“Chorava todos os dias, rezava para acabar logo, e mesmo em casa, minhas crises não pararam. Por entregar vários atestados em menos de 60 dias, o RH em julho me afastou pelo INSS, ficando 30 dias sem trabalhar. Estava mal, não era só o psicológico, mas meu corpo começava a doer, tudo doía. Em agosto tentei voltar, mas não consegui e me afastaram novamente, dessa vez foi definitivo. Nesse meio tempo, me consultei com um psiquiatra e ele constatou que eu estava com depressão e Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade pois mal conseguia dormir e me concentrar nas atividades. De outubro do ano passado a fevereiro desse ano, o médico mudou meus remédio três vezes e com tosagem máxima. O trabalho, desde agosto estava afastada, recebendo praticamente nada do INSS, me virando de todo jeito para não faltar o sustento de casa, e em maio, pedi as contas. Hoje, o único trabalho que não enfrento é de telemarketing, por que a humilhação, a pressão, a cobrança, os xingamentos que sofri, não desejo para ninguém. Não estou 100%, ainda não consegui fazer psicoterapia, mas só de não estar atendendo, já é um alívio”.
Karen do Carmo, 23 anos, estudante de Fisioterapia, conta como foram suas experiências torturantes em call centers. “Trabalhei em cinco empresas de telemarketing, com salários baixos e humilhações. Todos os dias eu ensaiava para pedir as contas, porém por ter aluguel para pagar, sustentar a casa, pagar a faculdade e me manter, tive que suportar o assédio moral. Por não dar um basta, desenvolvi ansiedade e consequentemente sofri várias crises. Então, tudo virou uma bola de neve, com dívidas acumuladas, assédio dos supervisores, clientes raivosos, meus problemas se juntaram com os dos clientes e supervisores, imagine como estava a minha mente? Um caos!”
Houve uma situação, que o supervisor bateu em minha P.A e gritou comigo na frente da operação inteira. Tentei fazer processo para subir de cargo, mas ele não me deixou mudar de setor, pois muitos supervisores tem a sua “panelinha” e essa era uma chance única para eu ganhar um pouco a mais, porém não fui ajudada, o supervisor me odiava. Daí, minhas crises de ansiedade foram aumentando e nessas cinco empresas de call center tive que pedir as contas. De tanta crises comecei a passar em psiquiatras, o primeiro me diagnosticou com Síndrome do Pânico”.
“No decorrer dessas companhias, houve momentos que eu não aguentava com tanta ansiedade e pedia para ir embora. Quando eu entrava no transporte público, não conseguia descer no ponto ou na estação, pois eu ficava paralisada, me dava crises de pânico só de pensar que estava chegando na empresa. E o mais frustrante é que a maioria das saídas ocorreram em 2019. No ano de 2020, fiquei desemprega por várias meses para me tratar, mesmo assim enviava currículo para as empresas, mas o salário sempre era o mínimo, e hoje em São Paulo, é impossível sobreviver com um salário quando se tem família para sustentar. Enfim, desejo que as empresas de telemarketing um dia sejam humanizadas, pois se seguirem assim, coitados dos operadores”.
Stéphanie Freitas, 21 anos, formada em radiologia, fala sobre sua rotina estressante em call center e o dilema em lhe dar com a ansiedade. “Já trabalhei de tudo um pouco, menos em call center, mas em outubro de 2019, apareceu uma vaga para trabalhar com SAC 6x1. As pessoas me falavam como era ruim trabalhar em empresas de prestações de serviços, pois os funcionários, além de não serem valorizados, não ganhavam muito bem. Hoje, percebo que o call center só serve como um quebra galho, por que fazer carreira ali, é quase impossível”.
“Pensava que sairia logo, mas ainda continuo. Já faz um tempo que não atendo, pois me colocaram para auxiliar os atendentes, enfim, está mais tranquilo para mim, porém para os operadores aumentaram a demanda de atendimento e serviços, notei isso pelo número de pedidos de auxílio. Referente a distúrbio, sofro de Transtorno de Ansiedade Generalizada, mas hoje me controlo mais que antigamente, pois no começo, cheguei a passar mal e ser afastada por quase duas semanas”. Sofrer disso é ruim demais, por que atrapalha a sua vida, não dá para se concentrar nas tarefas e no trabalho. Infelizmente conheço vários que sofrem disso, inclusive no trabalho, sendo que algumas dessas pessoas se afastaram devido a piora no quadro”.
“Agora com a pandemia, creio que as crises de ansiedades nas pessoas aumentaram, inclusive aqueles que trabalham em call center, pois a demanda de trabalho cresceu e muitas as vezes não tem o suporte adequado para ajudá-los. Para quem precisa de uma renda urgente e não encontra emprego em sua área, as prestadoras de serviços são as únicas portas imediatas, foi para mim e é para vários formados ou cursando faculdade”.
“Nesse ramo é impossível não contrair algum distúrbio/doença ou piorá-lo, há raridades que conseguem não adquirir, porém é um parte muito pequena. Seria ótimo se todos formados e os que estão cursando arrumassem um emprego em sua área, assim o mercado seria configurado pela paixão ao trabalho, não apenas por obrigação”.
Insanidade Mental
O doutor em Psicologia Social e professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social (PSO) e na graduação do curso de psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, Odair Furtado diz que nesse ramo não há uma forma de manter o equilíbrio mental. “Para falar a verdade, não existe saída, os trabalhadores sofrem. Alguns conseguem aguentar a pressão da empresa, sem afetar muito o psicológico, outras não conseguem e pedem para sair. Muitas pessoas não conseguem arrumar um emprego em sua especialidade, por conta da crise, optam trabalhar em uma empresa que foge de sua profissão, são alternativas para pagarem as contas e sobreviver.
“Esses indivíduos criam certa resistência e por mais tenso que seja, conseguem driblar as pressões diárias do trabalho. Infelizmente, hoje há uma epidemia de pessoas com depressão, principalmente as que prestam serviços, como o telemarketing. Essa epidemia foi constada quando os indivíduos pedem afastamento do trabalho para se tratarem. A LER (Lesão por esforço repetitivo), se sobressaí, pois os traumas não são só psicológicos, mas também físicos como: perda da audição, tendinite por digitar demais, dores por todo o corpo etc”.
“Tempos atrás saiu uma matéria referente às pessoas graduadas que não conseguiram arrumar emprego em sua especialidade, por isso opta por empregos alternativos, um deles é o telemarketing. Esse ramo é um destruidor de saúde mental e as histórias são horrorosas. Outro aspecto, é o assedio moral, fator que prejudica ainda mais o psicológico do individuo. Infelizmente o assedio moral e sexual é uma política comum em muitos ambientes de trabalho, geralmente as pessoas que sofrem com isso estão em uma situação vulnerável, isto é, se reclamarem vão para o olho da rua, e por ter família para sustentar, suportam”.
“Com o País em crise, o medo de perder o emprego é tão grande que a pessoa se submete a situações conflituosas no trabalho. Por já haver ficado sem trabalho há algum tempo, e por ter sido complicado arrumar o atual, o trabalhar assediado não tem escolha, suportar os insultos calado, pois tem receio de ser dispensado. Esse ato é um “crime” sistemático em algumas empresas. Há uma síndrome que se chama burnout e que é típico dessa situação”.
“Por conta do cotidiano desgastante e assedio moral/sexual no trabalho, o individuo começa a ficar deprimido, desmotivado, não crer mais em si, não tem força para combater o abuso, enfim, seu psicofísico reage retroativamente. Quando chegam ao estado acima, muitos ou descontam nas pessoas ou ficam paralisados, afetando todos os sentidos da vida, e quando acha que não tem jeito de sair dessa situação, se suicidam”.
“Esse tipo de trabalho é total desgastante, tudo é controlado e a produção não pode parar, esse é um dos piores empregos que existem, só perdem para os trabalhos escravos. Uns se apropriam e consegue subir de cargo, outros só ficam por que não há alternativa, então, aguentam até não puderem mais, pois já estão destruídos fisicamente e psicologicamente. Quando se entra nesse ramo, não há tratamento psicológico que ajude. Não adianta se consultar com psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras que não vai adianta. O único jeito é sair o mais rápido possível trabalho”. O Brasil em telemarketing só perde para a Índia e EUA, no quesito de acumulação de doenças mentais e físicas nos operadores. Infelizmente não há escapatória”.