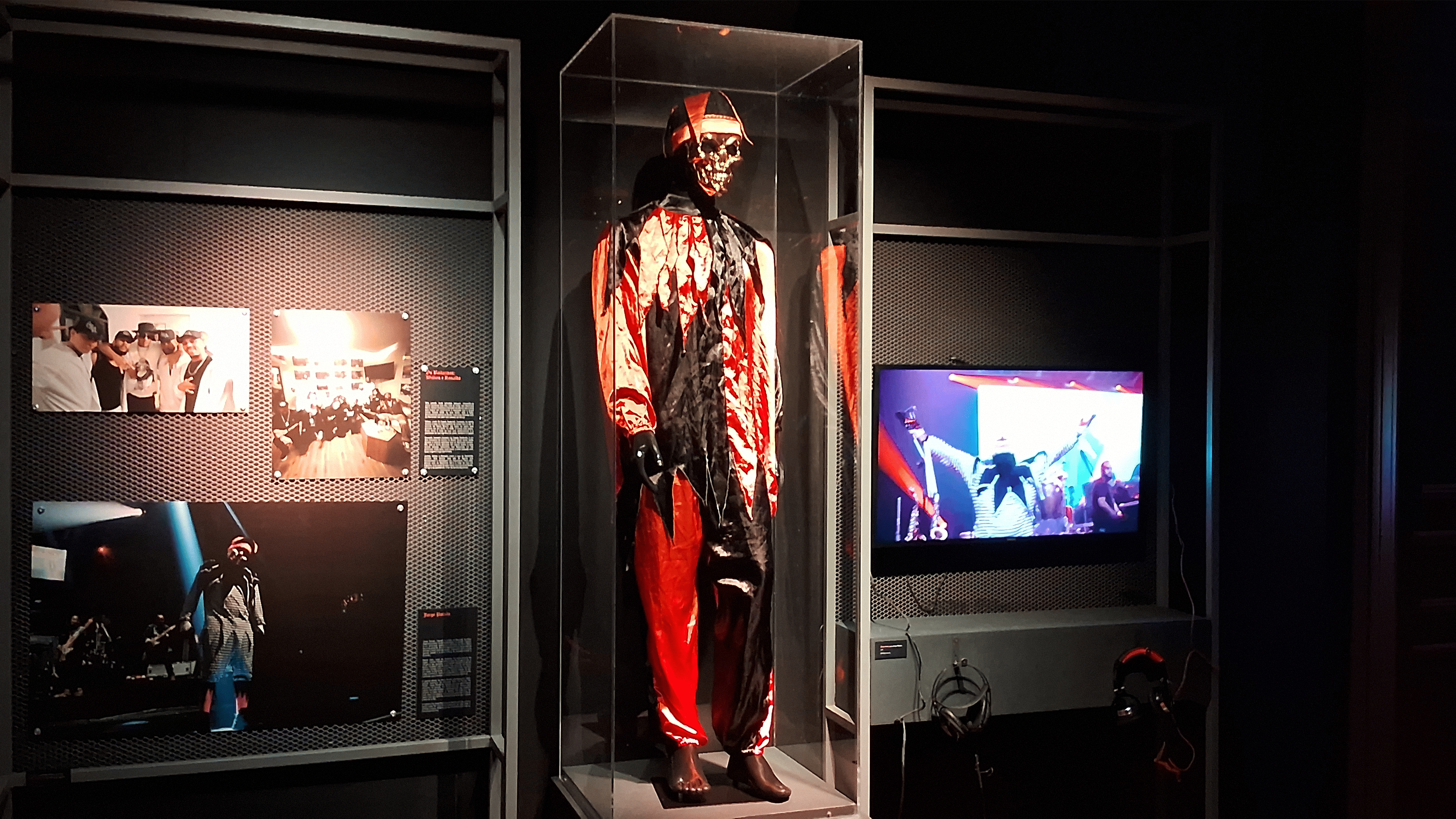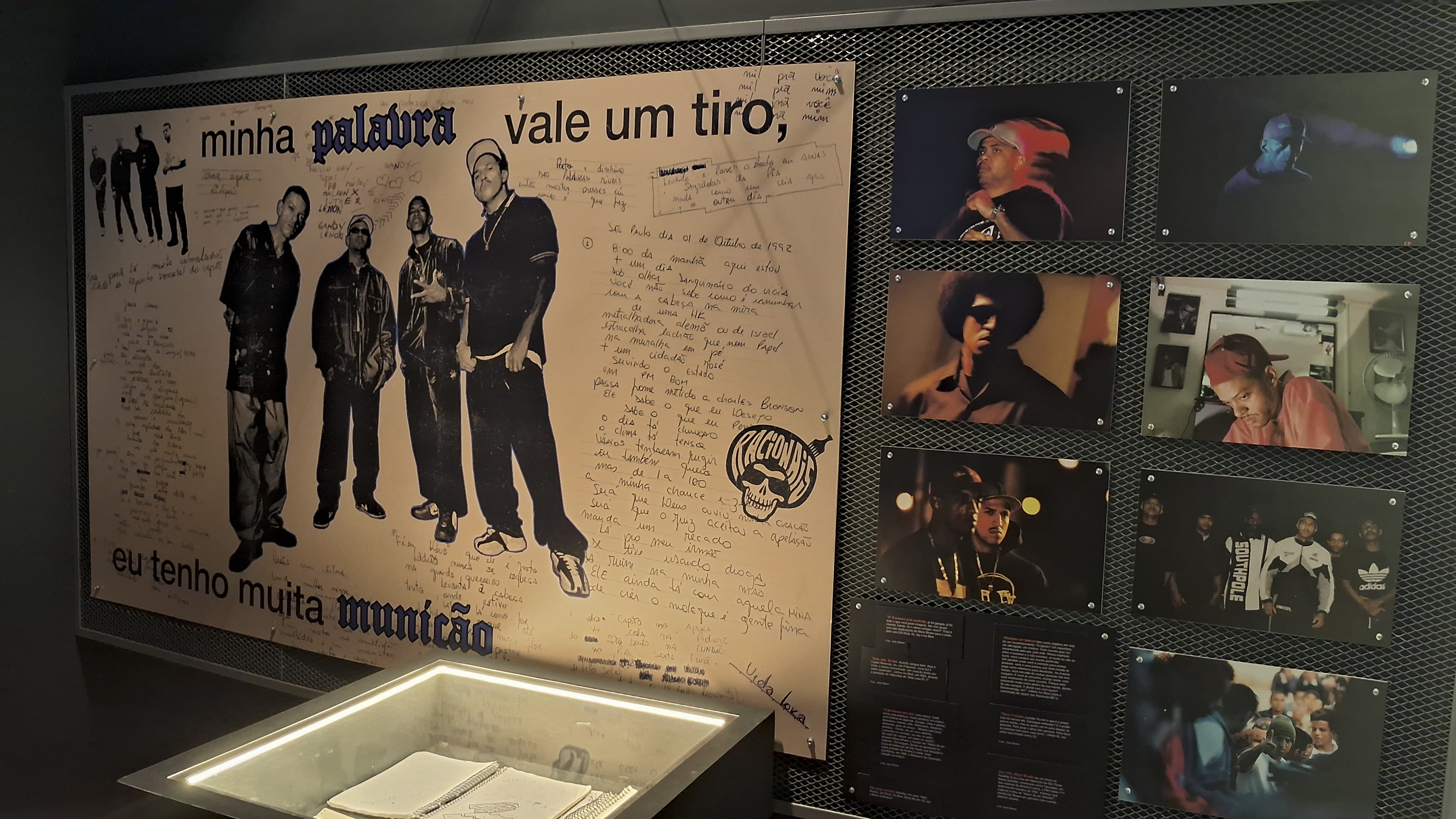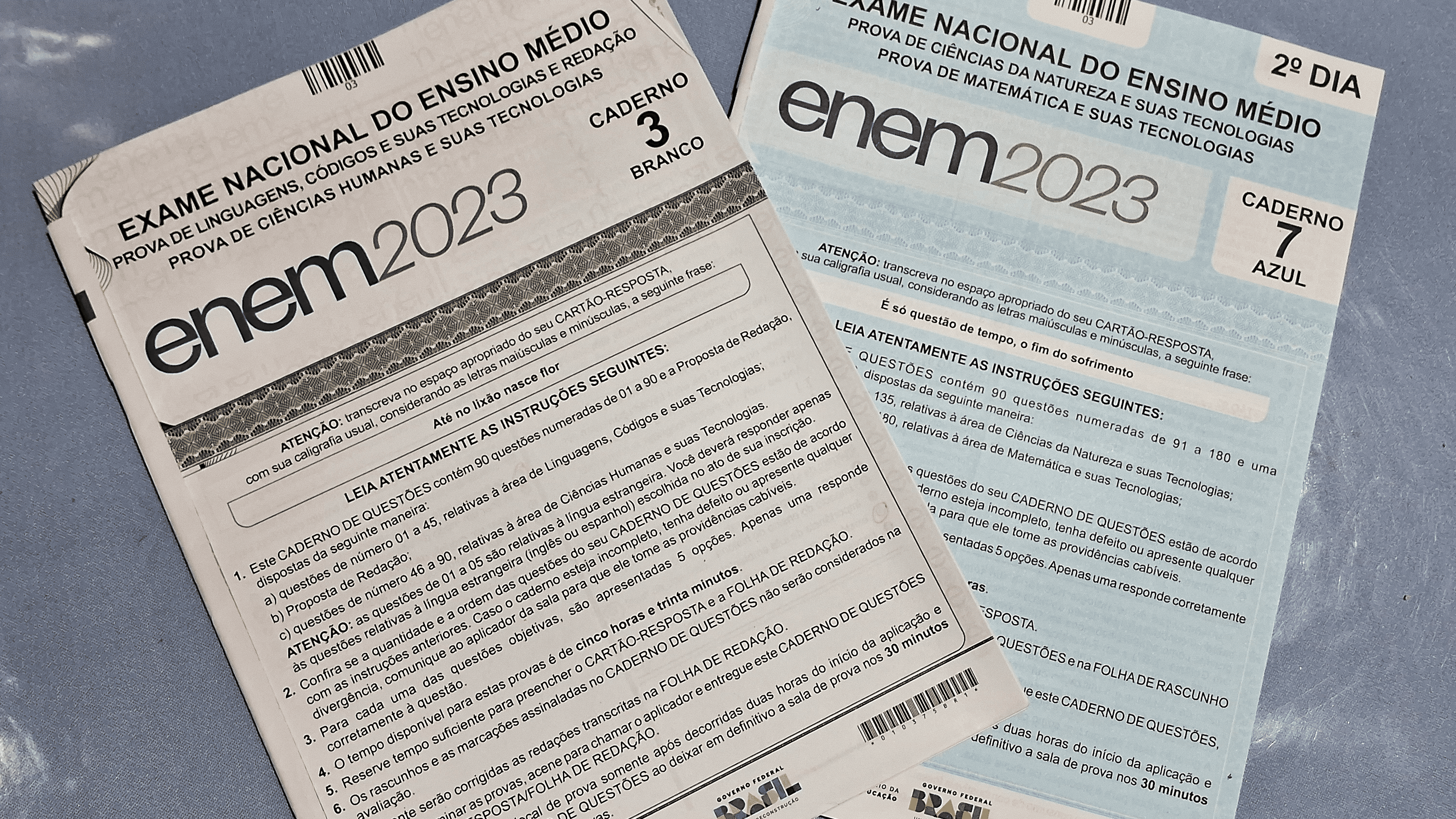Ao longo da história do Brasil, é inegável a importância das mulheres negras na luta por uma sociedade mais igualitária, ainda que essas presenças passem despercebidas pelo povo brasileiro. Grandes personagens como Dandara, que foi líder do grupo feminino do exército de Palmares e um dos maiores nomes do país na luta contra a escravidão, detêm uma a duas páginas nos livros didáticos, enquanto os colonizadores ocupam a maior parte do conteúdo.
No âmbito da literatura, Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista brasileira a ter sua obra publicada em território nacional. Além disso, foi a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão, e fundou a primeira escola pública mista na região.
Nas telonas, Ruth de Souza foi a primeira indicação brasileira ao prêmio de melhor atriz em um festival internacional de cinema, o Leão de Ouro, em 1954, por sua atuação no filme “Sinhá Moça”. Ruth também foi a primeira mulher negra a atuar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Yvonne da Silva Lara, também conhecida como Dona Ivone Lara, foi a primeira mulher a compor um enredo de escola de samba: “Os Cincos Bailes Tradicionais da História do Rio”, em 1965, apresentado pela escola Império Serrano. Formada em Enfermagem e Serviço Social, ela se especializou em terapia ocupacional e atuou em conjunto com a médica psiquiátrica Nise da Silveira no Serviço Nacional de Doenças Mentais. Dona Ivone Lara se destacou ao compor sambas, assinando como um de seus primos, uma vez que as obras produzidas pelos homens tinham mais chances de serem aceitas e reconhecidas na época. A sambista escreveu sucessos como “Sonho Meu” e “Alguém Me Avisou”, regravados por grandes nomes da MPB.
Não à toa, a tradicional escola Estação Primeira de Mangueira foi consagrada campeã do carnaval carioca, em 2019, com um samba-enredo que bradava “Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês”. Durante o desfile, a Marquês de Sapucaí foi palco da “história que a história não conta”, preenchendo a avenida com as passagens de Dandara, Luiza Mahin e demais personalidades tão relevantes e pouco abordadas nos livros.
Nesse caminho, é necessário compreender os desafios sociais que permeiam a vida de mulheres negras desde a sua ancestralidade, principalmente no Brasil.

Beta Ferreira é educadora social e empresarial, fundadora do projeto “Uma Deusa Africana” e coautora da antologia “As Áfricas dentro de mim”, lançada este ano na modalidade presencial. “A gente já tem essa questão de não saber de qual país africano vem a nossa família”, compartilha. “Todas as pessoas afrodescendentes têm isso como interrogação, e só conseguem tirar essa dúvida fazendo aqueles testes de DNA supercaros, então quem é de classe social mais baixa não consegue”.
A educadora ainda relata sobre sua busca pela ancestralidade, que se concretizou no ano passado, enquanto morava em Salvador. Sua mãe perdeu os pais ainda muito nova e teve que morar em um orfanato, onde se distanciou de suas raízes baianas. Após pesquisar documentos e endereço, Beta foi a primeira de sua família paulista a visitar a cidade de origem de seus avós, no sertão baiano. “Eu queria muito saber de onde eles vieram, queria muito ouvir o sotaque dos meus avós de alguma forma, saber o que eles faziam”.

Por outro lado, Mare Baptista, estudante de Moda e integrante da comunidade “Black in Business” da Ascential pela WGSN, relata que buscou saber mais sobre sua ancestralidade já no período da escola, quando estudava em colégio particular. “A maioria dos meus amigos, majoritariamente brancos, sabiam a nacionalidade de suas descendências e, quando me perguntavam, eu não sabia o que dizer”, expõe. “Então eu perguntei para a minha mãe, que sabia responder com mais precisão porque minha avó é branca”.
Mare relembra o período de seu ensino médio, quando começou a sair mais e viveu, na pele, os reflexos da segregação racial. “Quando eu ia para as festas, os meninos que eu queria beijar preferiam minhas amigas brancas”, desabafa. “Chegou ao ponto em que um menino falou que só me beijaria se minha amiga – branca - beijasse ele primeiro, e foi nesse momento que caiu a ficha”.
Em razão da recorrência dessa prática, a estudante percebia que não era tratada, tampouco enxergada, da mesma forma que suas amigas brancas. Desse modo, conversando com uma amiga de descendência asiática, que também passava pela mesma situação, as duas uniram forças para entender o que estava acontecendo. “Foi quando descobri que existe a solidão da mulher negra, o que ela é e que eu passei por isso a maior parte da minha vida”.
Dentro disso, Beta denota a importância de aquilombar ao se reconhecer na sociedade enquanto mulher preta. “Quando você tira os filtros [coloniais] dos olhos, você enxerga com mais clareza e com mais dor, mas também é mais resistência, mais vontade de lutar e até mais vontade de desistir porque a luta cansa”, explica. “Você vai entendendo que só os nossos - as pessoas que também vivem isso - vão entender essa dor, então é importante aquilombar para também se fortalecer porque você vai ter mais vontade de lutar com os seus”.
Nesse sentido, a educadora compartilha sua experiência de levantar provocações aos seus alunos, adaptando os exercícios de reflexão às faixas etárias de suas turmas. Com as crianças, por exemplo, Beta questionava a partir da pintura, começando pelos lápis de cor atribuídos à “cor-de-pele”. Já com o público adolescente, ela incentiva a quebra de barreiras, a ir além dos muros sociais, a reconhecer os espaços que podem ocupar, além dos que lhes foram apresentados. “Como educadora, essa é a missão: abrir os olhos desses educandos, fortalecendo a autoestima, o autoconhecimento e o reconhecimento no mundo”, reforça.
Para além da educação, as artes também atuam em apoio a essas reflexões, não somente pela ancestralidade, como pela identificação com as letras. Por influência da família, Beta foi naturalmente se aproximando da MPB e do samba-rock, crescendo com esse fortalecimento de sua cultura através da música. “Querendo ou não, mesmo que não saibam, as pessoas estão cantando um pouco da nossa história”, aponta. “A minha escuta, meu olhar e a forma como vejo o mundo mudaram depois que eu comecei a desconstruir esse olhar do racismo estrutural que foi imposto para mim”.
No âmbito da grande mídia, em menção à literatura e ao cinema, Mare discorre sobre uma representação romantizada da cultura afrodescendente, que muitas vezes não mostra toda a violência que as pessoas negras sofrem no Brasil. Ela cita o longa-metragem distópico “Medida Provisória” (2020), de Lázaro Ramos, como o marco inicial de uma onda de produções visuais que possam retratar o que a comunidade negra reivindica. “Os livros e filmes que realmente contam a história da cultura negra só são consumidos pelos negros”, defende a estudante. “Acredito que agora o mercado e a mídia entenderam o que os pretos querem que seja mostrado quando pedem representatividade”.
Mare ainda destaca a artista visual Rosana Paulino como uma de suas maiores referências culturais desde que conheceu a série de obras “As filhas de Eva” (2014), que reforça a imagética de que as mulheres pretas também são filhas de Eva. “Todas as obras [da série] têm uma sombra preta, que é a sombra da mulher tentando se encaixar na sociedade”, analisa a estudante.
A representação nas páginas e nas telas acende a identidade de mulheres negras, principalmente jovens, que começam a se enxergar em suas semelhantes e compreender o que o espelho insiste em refletir. Com o avanço, a passos de formiga, das lutas raciais, a transição capilar se torna um processo mais viável e acessível, ao passo que reacende as raízes e incentiva o mercado a fomentar essas mudanças. “Hoje em dia, tem prateleiras só para cachos e cabelos crespos”, aponta Beta. “Na época da minha mãe e das minhas tias, era só um ou dois tipos de creme, e aí alisavam porque não sabiam o que fazer com o cabelo”.
Por outro lado, essa exposição de um corpo retratado às vontades dos opressores pode aprofundar também as raízes do preconceito, que se sustentam por meio de estereótipos caricatos e da hipersexualização. “Só por ser negra eu automaticamente tenho que ter uma bunda grande, peito grande e uma personalidade que foi criada na grande mídia: a negra cômica, a negra barraqueira, a mãe que não é tão amorosa com os filhos e está sempre gritando”, ressalta Mare.
Não obstante, a opressão também se manifesta redutora nas relações de trabalho, seja de forma velada ou não. Quando Mare se inseriu no mercado de trabalho, foi estagiária de uma pequena empresa, em que trabalhava com colegas de trinta a cinquenta anos mais velhos. “Se apenas ser mulher no Brasil já é difícil, ser mulher negra é três vezes pior porque as pessoas vão te diminuir cada vez mais”, afirma. “Eu era estagiária de e-commerce em uma loja de roupas de luxo e fazia feira para a minha chefe. Eu ia na feira de rua, comprava melancia e tudo mais que ela pedisse, e deixava na casa dela”.
Para Beta, desde criança, o reconhecimento do espaço social que ocupava nestes dois mundos – dos brancos e dos não-brancos – foi esclarecido já no começo de sua criação e se estende até hoje. “Minha mãe não é uma militante extrema, mas ela sempre criou uma filha preta. Criar uma filha preta é conscientizá-la”.
A fundadora do projeto “Uma Deusa Africana” ainda planta uma mensagem às meninas pretas que estão no começo de sua transição capilar, e no início dessa jornada de autoconhecimento e reconhecimento: “É um processo individual. Tem o tempo da pessoa para ela se reconhecer. Mais do que falar, eu daria um abraço e mostraria que tem um quilombo esperando por ela”.
Pelos corredores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), poucas pessoas andam com suas tranças nagôs. Na nécessaire básica da típica puquiana, não há um pente garfo para o seu crespo. Nem uma esponja nudred para texturizar o seu “short afro”. Tanto que, muitos leitores estão se sentindo perdidos com essas referências da comunidade negra - como se não fossem deste mundo. Esse é o sentimento dos estudantes pretos em ambientes majoritariamente brancos - não pertencimento.
Há uma ausência em relação aos dados oficiais sobre como os negros se sentem na PUC-SP e até sobre a quantidade deles, bolsistas ou pagantes, em certos cursos. Para tentar saber mais sobre esses estudantes, a reportagem criou um formulário de preenchimento opcional que circulou nos grupos de mensagens puquianos. Quinze estudantes responderam a pesquisa. Eles participam do coletivo negro Saravá. As perguntas são de escala linear, indo do número 1 (de jeito nenhum) até o 5 (com certeza). Também é possível ver os gráficos circulares das respostas de múltipla escolha.
REPRESENTAÇÃO
De acordo com a pesquisa, os alunos pretos que não se sentem representados pela PUC-SP, de jeito nenhum, totalizam 66,7%. Em entrevista à AGEMT, a estudante de Relações Internacionais, Júlia Medeiros, verbalizou as suas emoções: “Eu me sinto meio excluída e às vezes eu não consigo conversar”. A participante do Saravá evidenciou a dificuldade de discutir sobre questões íntimas raciais com os seus colegas: “Meus melhores amigos da PUC são brancos, não tem nenhuma pessoa preta. Às vezes, me sinto nessa solidão”.
Porém, esse sentimento não é exclusivo de Júlia. A aluna de psicologia, Camilla Silva, explica como a falta de “hospitalidade” a sufocou, até perdendo a noção dos sentidos: “Quando eu cheguei, vi tanta gente branca que tive a sensação de tudo ser branco, as paredes e as árvores”.
Já o professor da PUC, Amailton Azevedo, explicou o que é ser um docente negro: “Me sinto uma alma no exílio. A ausência da diversidade humana empobrece as relações, a produção do conhecimento e torna o ambiente acadêmico medíocre”. A quantidade de educadores pretos é muito pequena. Tanto que, ambas as entrevistadas nunca tiveram aulas com professores negros. A estudante de psicologia clama por aulas mais construtivas sobre paridade racial, menos teóricas: “Eu sou a única daquela sala que sofre por ser negra. O racismo não está distante, como falam. Ele está aqui e agora”.
SOLIDÃO DA MULHER NEGRA
As pretas sentem com certeza a solidão da mulher negra, e essas são ao todo: 72,7%. Esse sentimento é derivado das situações que as colocaram em segundo plano. Medeiros e Silva compartilham da mesma emoção. Júlia enfatiza o como o tratamento dos garotos com ela é diferente em comparação às meninas brancas: “Não me chamam para encontro, cinema ou até ir na casa deles. Normalmente, ficam comigo nas festas - sem compromisso”. Já Camilla, abordou a parte de ser uma mulher gorda preta: “Não me sinto bonita o suficiente. Para mim, ir em festas da PUC, só se for para beber. Se for para conhecer pessoas, no quesito sentimental, nem rola”.
PRETOS BOLSISTAS
Segundo o Forms, mais da metade dos pretos bolsistas não se sentem representados de jeito nenhum. Medeiros, aluna pelo programa da Fundação de São Paulo (FUNDASP), denunciou o como o bandejão, aquele que estava fechado no começo do ano, é um das únicas iniciativas em prol dos bolsistas. Já a Camilla, ingressante pelo Programa Universidade Para Todos (Prouni), relembrou algumas políticas de auxílios que já estiveram presentes no campus: "Temos alimentação, não tenho o que reclamar, a comida é ótima. Porém, antes davam apoio com xerox, mas agora não”.
Como é visto no gráfico, a maioria dos negros bolsistas (46,7%) são atendidos pelo Prouni. Enquanto a Fundasp totaliza 13,3%. Entretanto, de acordo com o site oficial da PUC-SP, a Fundação concede 30% das suas vagas de graduação para: negros, pardos e indígenas de baixa renda. Ainda é pertinente mencionar que os ingressantes do Fies não possuem a gratuidade do bandejão.
Em 2022, a Lei das Cotas fez dez anos. Determinando que as instituições federais de educação e universidades públicas reservassem 50% das vagas dos cursos e turnos para negros, pardos, indígenas e pessoas de baixa renda - estudantes de escolas públicas. Porém, algumas faculdades privadas agregaram esses valores, como é o caso da PUC-SP.
Medeiros argumentou sobre a importância dessa lei para as pessoas pretas: “Agora, a gente tem uma comunidade preta, principalmente, nas faculdades públicas e tudo graças às cotas”. Convergindo com Júlia, a estudante de psicologia explica que essa norma dá um fôlego para os pretos alcançarem aqueles que já estão na frente.
Já o professor Azevedo retratou os avanços dentro da Pontifícia em relação à política da paridade racial: “Implementação das cotas raciais na reserva das bolsas de estudo em toda a pós-graduação da PUC/SP. A determinação do consun, aprovada em maio de 2017, contribuiu para a permanência de alunos negros, indígenas e pobres na pós graduação”.
O docente menciona que, em 2020, a PUC/SP, no âmbito de sua pro-reitoria comunitária e de cultura, aprovou a criação da biblioteca negra, favorecendo, a aquisição de títulos de autores negros/negras e aprovou a criação do selo 'autorias negras' que objetiva fomentar a publicação de suportes pretos.
A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - feitos pelo site Quero Bolsa - entre 2010 e 2019, o aumento dos negros no ensino superior foi de 400%. Entretanto, a comunidade preta só totaliza 38, 15%. Portanto, mesmo com esse enorme crescimento, não há paridade racial. Porém, ainda há estudantes que refutam a necessidade de cotas.
A Camilla já ouviu dos futuros psicólogos como não é preciso uma política de igualdade entre negros e brancos. Já a aluna de RI lembra que as vagas das cotas não são retiradas de brancos para dar a negros. Cota não é privilégio, e sim reparação histórica”, diz Medeiros.
LUTA ANTIRRACISTA
As pessoas pretas negam a ideia dos brancos estarem ativos na luta antirracista. Será que postar um #BlackLivesMatter nas redes sociais, é o suficiente? Dizer que o Brasil é um país racista, é o suficiente ou o óbvio? Não existe o esquerdomacho? Então, há o aliado fake - o qual só opina quando é confortável e pertinente para sua imagem. Camilla diz o quanto é necessária a empatia dos brancos em relação às suas posições de privilégio: “Eles poderiam falar por mim, não porque eu não posso falar, mas porque não me escutam”. Júlia afirma que ninguém tomará as dores da comunidade. Logo, a criação do Saravá é para não roubarem as vozes da liberdade.
Em 2002, um grupo chamado Comissão do Rosário dos Homens Pretos da Penha resolveu retomar a velha tradição de celebrar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, celebrando os 200 anos da Igreja Rosário dos Homens Pretos da Penha, uma das únicas obras erguidas por negros que ainda se mantêm em seu local de origem. A importância da Igreja se deve ao fato da junção de duas outras igrejas de São Paulo: o Santuário Eucarístico Nossa Senhora da Penha e a Capela de Nossa Senhora do Rosário e outro fato que evidencia o valor da obra é o fato dela ter sido construída “dando as costas” para o centro da cidade, já que era uma igreja frequentada por escravos. Desde sua reinauguração, uma celebração no primeiro domingo de todos os meses do ano que é a Celebração Inculturada Afro Brasileira é feita com o intuito de resgatar a memória dos antepassados e relembrar a luta deles pela religião de matriz africana em São Paulo. A estrutura chamada de Largo do Rosário fica localizada no bairro da Penha, bairro de grande importância da Zona Leste da cidade e o prédio foi tombado no ano de 1982 depois de ter recebido pequenas reformas, reforçando a importância desse patrimônio para São Paulo.
Em entrevista com Cristiane Gomes, coordenadora do corpo de dança do bloco Ilú Oba de Min, bloco fundado em 1987 e explora ritmos brasileiros e africanos, juntando toda a diversidade cultural desses locais fala um pouco da importância da Igreja: “Ela surgiu como forma de resistir à Igreja Católica, que era predominante na cidade. Todos os escravos e refugiados iam até o local para terem seu momento de conexão com seus ancestrais e festejarem que ainda estavam vivos, mesmo com toda a tentativa de extermínio dos povos por parte do catolicismo. Esse resgate que está sendo feito é de extrema importância para o Brasil por que fortalece ainda mais a nossa luta pelas religiões de matriz africana”.
Falando um pouco a respeito do Projeto Ilú Oba de Min, Cristiane fala da pesquisa feita acerca da música afro-brasileira: “O bloco tem como intuito preservar a identidade negra brasileira na música abrindo espaço com outras áreas do conhecimento através de aulas, debates e exposições e é feito de forma independente, sem nenhuma ajuda de uma grande empresa ou ajuda de governo”.
O Bloco Ilú participa de algumas das festividades da Igreja do Rosário e a última delas aconteceu no mês de setembro, no Festival Musical Agô, exaltando toda a música ancestral, começando pelo circo, passando pelo samba e terminando com a apresentação do bloco.

Foto de Douglas de Campos/Facebook
O tamanho da importância da Igreja Rosário dos Homens Pretos da Penha para as religiões de matriz africana, para os negros e para a cidade de São Paulo deve sempre ser exposta. Sem ela, os escravos não teriam locais para exaltarem sua fé e a luta dos escravos seria ainda mais difícil e o significativo é tamanho devido o fato da Igreja do Rosário ainda ser um dos únicos locais construídos pelos negros que ainda se mantém de pé, como forma de protesto a Igreja Católica e de luta contra o racismo, e nós devemos sempre exaltá-la.
Por Matheus Monteiro
Ser nerd nem sempre foi “cool”. Antigamente o bullying e a violência eram comuns na vida de alguém que pertencesse ao mundo geek. Na escola, fãs de videogames, RPG’s e quadrinhos sempre eram excluídos pelas pessoas mais “populares”, aquelas que julgavam o que era certo e errado, inclusive, quem ousasse não se encaixar aos padrões impostos, estaria sujeito a opressão.
De alguns anos para cá, porém, a cultura nerd deixou de ser algo alternativo, agora passa a ser valorizada e domina o mainstream. Ironicamente, no entanto, alguns indivíduos que se consideram nerds, em vez de usar essa sua nova posição de destaque na sociedade para integrar novos fãs e expandir as fronteiras de suas histórias preferidas, preferem promover o ódio e a opressão já vividos por eles.
E mesmo cercados de histórias de cunho obviamente progressistas – como as dos “XMen”, heróis que lutavam contra o preconceito de todas as formas –, o mundo nerd tem sido tomado por uma onda conservadora e purista que constantemente vira manchete por problematizar praticamente toda a tentativa de representatividade em filmes, séries e adaptações.
Evidentemente, não são todos que promovem esse discurso. Essas ofensas costumam vir daqueles que são conhecidos nas redes sociais como “nerds raiz”, “nerdolas” ou “nerd boomers”. Por vezes, eles mesmos ostentam essas alcunhas. Eles escondem o seu racismo e intolerância no sentimento de nostalgia, com aquele clássico discurso de que “antigamente era melhor”. Não podem ver sequer uma obra que contenha uma representação de alguma minoria que já a taxam como “lacradora”, ou esquerdista.
Raphael Augusto Alves, estudante universitário e geek, contesta se esse universo sequer já teve uma premissa inclusiva. Para ele, “a comunidade nerd foi realmente criada nesse contexto, mas dizer que ela nasceu em um ambiente de inclusão, é exagerar. Isso porque, aquele jovem que jogava Dungeons & Dragons no porão de casa e não se sentia bemvindo no resto das atividades, partia naturalmente para a exclusão. É aquela coisa, quando você não entende como mudar a opressão, você tende a se tornar o opressor. O conservadorismo nasce do medo de mudança. Porque pensam que qualquer mudança que afete uma memória antiga pode ser um grande problema. Então de fato há um purismo. É um conservadorismo nascido de um preconceito que também gera preconceito. É um ciclo.”
Um dos casos mais emblemáticos causado por esse fenômeno foi quando houve o anúncio de uma Ariel negra para a adaptação com atores reais do filme animado “A Pequena Sereia”, uma das mais famosas princesas da Disney. Os fãs da animação foram à loucura. A exceção foram aqueles que ficaram indignados pelo fato que trocariam a etnia de uma das princesas mais queridas do estúdio.
Em julho de 2019 divulgaram quem seria a Ariel. Muitas fontes apontavam a atriz Zendaya para pegar o papel principal, só que quem levou essa foi a atriz Halle Bailey conhecida por seu trabalho na série Grown-ish e por cantar em um duo com sua irmã Chloe Bailey.
Mesmo com debates sobre racismo espalhados pelo mundo todo, Bailey não ficou imune aos ataques feitos pela internet quando por três dias a hashtag “not my Ariel” (não é minha Ariel) ficou nos trend topics do Twitter mundial. Por outro lado, muitos apoiaram a iniciativa, uma vez que personagens racializados das produções dos estúdios Disney geralmente ficam em forma de animais ou de seres inanimados, como a Tiana da animação “A Princesa e o Sapo” e Kuzco de “A Nova Onda do Imperador”.
A dubladora de Ariel na animação de 1989, Jodi Benson, declarou apoio a cantora em sua entrevista para o ComicBook. com. “Não importa nossa aparência por fora, não importa nossa raça, nossa nação, a cor de nossa pele, nosso dialeto, se eu sou alto ou magro, se estou acima do peso ou abaixo do peso, ou meu cabelo e a cor que for, realmente precisamos contar a história”.
Outra situação em que o discurso de ódio dominou as entrelinhas dos “nerds conservadores” nas redes sociais ocorreu logo após o lançamento do primeiro trailer da série “Senhor dos Anéis”, que está sendo produzida pela Amazon.

Por incrível que pareça, o retorno do rico universo de J. R. R. Tolkien não foi motivo para a celebração de alguns de seus fãs, que preferiram concentrarse em um detalhe com menos de 10 segundos de tela: um dos elfos representados na trama terá pele negra. O assunto rapidamente foi aos trending topics do Twitter e, novamente, gerou calorosas discussões sobre a possibilidade de algo tão indiferente. Vale ressaltar que elfos, brancos ou negros, são personagens fictícios que sequer existem.
Episódios como dos elfos interpretados por negros em Senhor dos anéis e da Ariel de Halle Bailey não são casos isolados. Qualquer pessoa que tenha contato com a bolha geek nas redes sociais já presenciou ou irá presenciar uma discussão onde a luta antiracista é menosprezada.
Infelizmente para o “nerd raiz” a cultura está mudando, queira ele ou não, e, infelizmente, a representatividade negra está deixando de ocupar apenas espaços secundários, inclusive, com inúmeros exemplos disso.
Em um quadrinho do Capitão América, “Truth: Red, White and Black”, há uma marcante história de um Capitão América Negro durante um periodo de grande tensão racial nos Estados Unidos. Essa trama é aproveitada na aclamada série em Live Action da Marvel, “Falcão e o Soldado Invernal”, onde todo o grande público pôde conhecer Isaiah Bradley, esse mesmo Capitão América negro das histórias em quadrinhos, e sua jornada para superar a intolerância do Governo e Sociedade Americana.
Não que seja novidade para os brasileiros a conduta baixa de Nelson Piquet, mas agora ficou ainda mais visível, principalmente ao mundo do automobilismo, que o ex-piloto e tri-campeão mundial de fórmula 1 se encontra no panteão de seres humanos de caráter desprezível. Eu sei que são palavras fortes, mas se tratando de atitudes racistas como foi a de Piquet, a passividade não tem mais espaço.
O ex-piloto e apoiador devoto de Jair Bolsonaro conseguiu, com sua asneira, algo inimaginável: mobilizar a sociedade elitista e não menos preconceituosa da Fórmula 1 contra o racismo. É fato e notório que a categoria não abre espaço para lutas progressistas. Um exemplo disso foi quando Lewis Hamilton, alvo de racismo de Piquet, se posicionava pelo fim do preconceito racial e membros do esporte tentavam boicotar as ações do heptacampeão. Portanto, o fato de a fórmula 1 e equipes se posicionarem contra Nelson Piquet já evidencia que a atitude do ex-piloto passou totalmente do limite.
Mais do que ofender Lewis Hamilton, o Uber presidencial, como Nelson Piquet é chamado na internet, também atacou negros e negras do mundo todo que tentam se inserir no esporte mais elitista do planeta. Hamilton, que segue sendo o único piloto negro da história da categoria, além de esportista, é um sinal de esperança para a negritude. E para azar de Piquet, o heptacampeão brilha cada vez mais, apesar da sua fala enojada. Hamilton é o que há de melhor na categoria, mesmo com o ódio que sofre por conta da cor da sua pele.
Ao comentar a manobra que Hamilton fez em cima de seu genro, Max Verstappen, no GP da Grã-Betanha de 2021, dá pra notar o nojo que Piquet sente pelo "neguinho". Mais do que isso, evidencia que sua rixa com o heptacampeão ultrapassa a seara do esporte. Dá para interpretar que o ex-piloto, na verdade, não gosta do fato do piloto mais relevante da história da categoria tenha a pele escura. Dito isso, só dá para ter um sentimento em relação a Nelson Piquet: o de pena.

Agora resta saber quais serão os próximos passos sobre esse caso incontestável de racismo. Será que a fórmula 1 vai proibir que Nelson Piquet circule pelo padock? Acho difícil, mas é o que deveria ser feito. Hamilton vai processar o ex-piloto? Ao que tudo indica, sim. Mas mais do que isso, é preciso mudar a mentalidade desse esporte elitista. Vai demandar tempo, sabemos, mas urge a necessidade de priorizar para essa mudança, pois dar voz a párias como Nelson Piquet não é mais aceitável.
Still we rise.