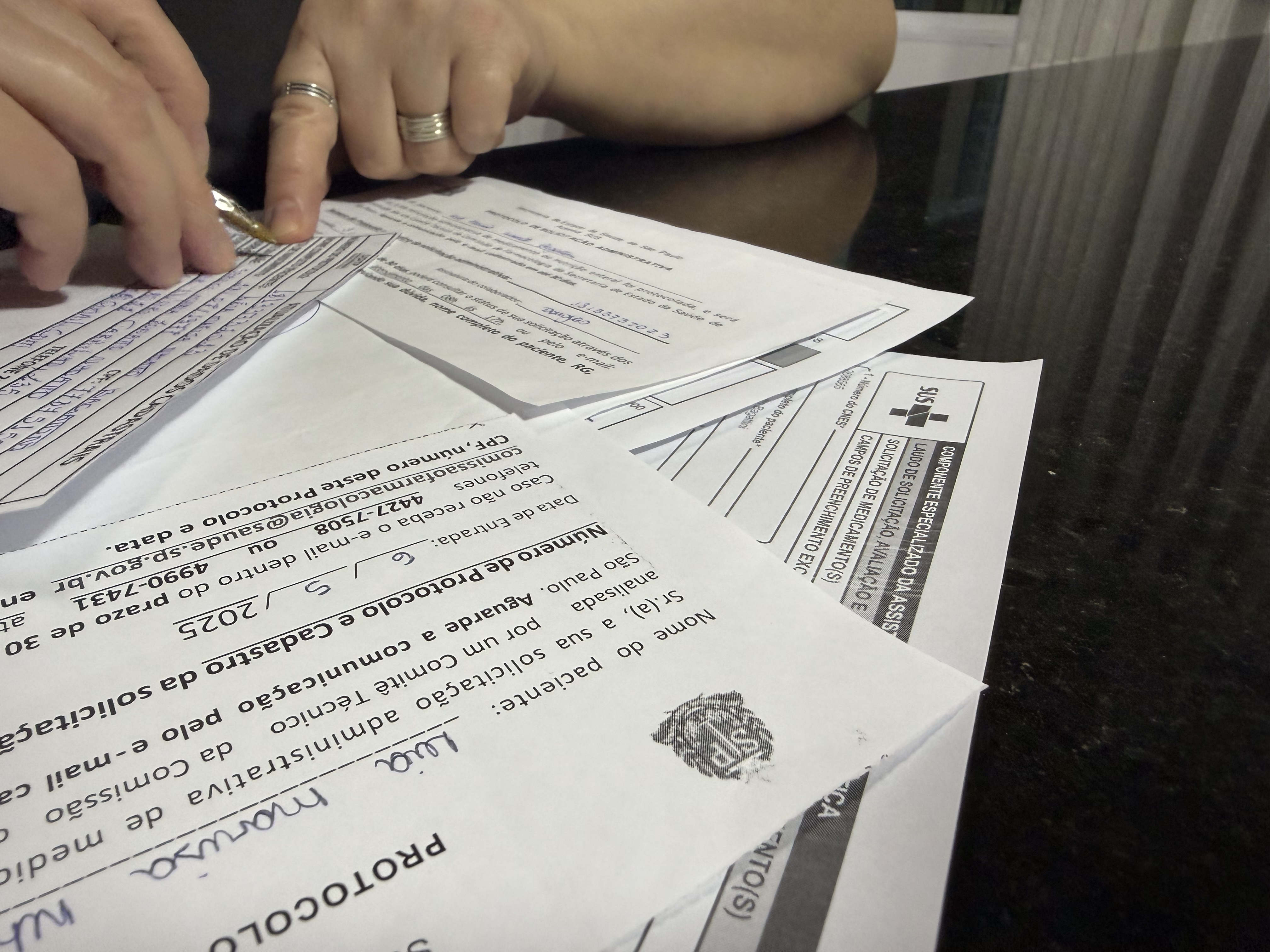A segunda maior economia do planeta está enfrentando uma situação que ameaça todos: a desaceleração econômica, cujo principal agente causador é a pandemia da Covid-19. O surto da doença não atinge apenas o setor econômico, como também o social.
Em território chinês, estima-se que até o dia 20 de abril houve um total de 84.237 contaminados, 77.084 curados e 4.642 mortes. Diversas províncias foram bloqueadas, como Habei, cuja capital, Wuhan, foi o epicentro da doença e supostamente o local onde se originou o corona. Devido ao fechamento dessas províncias, muitas empresas e indústrias acabaram por demitir funcionários. É necessário lembrar que a China ainda é considerada um país em desenvolvimento, com mais de 5,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza extrema (estabelecida pelo governo em 2.300 iuanes, cerca de US$ 330 por ano). Além do aumento do desemprego, houve cortes de salários após o surto do coronavírus.

Com isso, o Partido Comunista da China provavelmente não conseguirá cumprir a promessa de transformar o país em uma “sociedade de classe média” até o fim deste ano e deve enfrentar uma instabilidade social jamais vista nas últimas quatro décadas. Entre dezembro e fevereiro, os dados oficiais do governo indicam um acréscimo de 5 milhões de pessoas no contingente de desempregados.
O banco Nomura, conhecido por sua visão pessimista dos fatos, estima perda de 18 milhões de vagas de emprego no setor de exportação chinês, que representa um terço da mão de obra. Essa possível explosão do desemprego afeta não somente o governo chinês, como os governos mundiais, visto que a China é grande parceira comercial de inúmeros países, como é o caso do Brasil.
Todas essas perspectivas trazem um fato: o PIB da China contraiu-se em 6,8% no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do Gabinete Nacional de Estatística. É o primeiro recuo desde 1976, ano da morte de Mao Tsé-Tung e de seu primeiro ministro Zhou Enlai, além de ao menos 250.000 pessoas, devido a um terremoto na região de Tangshan. Nessa ocasião o PIB encolheu 1,6%. O PIB registrado neste trimestre também representa a menor marca desde 1961, quando a economia chinesa despencou 27,3%, devido, segundo historiadores, a políticas equivocadas do líder da revolução.
Desde então, a economia do país tem passado ilesa e com índices extremamente positivos perante as últimas crises mundiais: “torres gêmeas em 2001” (+ 8%), “crise de 2008” (+ 9%) e a recente “guerra comercial com os EUA” (+ 6,7%). O declínio do primeiro trimestre, apesar de esperado, pode prenunciar uma crise sem precedentes.
Os setores que levaram a esse resultado no primeiro trimestre foram a indústria (que abrange atividades de manufatura, mineração e serviços públicos), com recuo de 13,5%, as vendas no varejo (-20,5%) e os investimentos em ativos fixos (despesas com itens que incluem infraestrutura, propriedades, máquinas e equipamentos), com queda de 24,5%. Esses números catastróficos, somados à desaceleração da economia em virtude da guerra comercial com os EUA, ligaram o alerta em Pequim.
Apesar dos dados ruins, o governo mantém um discurso otimista em relação à recuperação. As autoridades afirmam que as consequências da crise econômica são “de curto prazo e controláveis”.
O economista-chefe da China International Capital Corporation, Liang Huang, afirma que, se a situação se mantiver estável, o país conseguirá um crescimento na casa dos 6%. No entanto, agências internacionais calculam uma expansão de “apenas” 4,8%, o que seria o menor índice anual das últimas três décadas “Precisamos nos preparar para uma crise longa”, disse o conceituado economista Andy Xie, em entrevista ao Valor Econômico, alertando que a recuperação total da economia deverá demorar cerca de uma década.
O governo chinês também deverá se preocupar com o boicote de economias importantes, como Japão e EUA, que planejam remanejar empresas que hoje operam na China. O Japão inclusive já destinou cerca de US$ 2,2 bilhões do pacote recorde de US$ 1 trilhão em estímulos à economia após o baque causado pela pandemia do coronavírus.
Esses US$ 2,2 bilhões são divididos da seguinte maneira, US$ 2 bilhões serão destinados para empresas que desejem retornar ao Japão, e os outros US$ 200 milhões para empresas que desejem se mudar e se instalar em outros países. A situação dos americanos é parecida: no mesmo dia em que o Japão anunciou o pacote, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou que os EUA devem pagar custos de mudança de qualquer empresa americana que decida sair da China.
A Covid-19 assombra o mundo: mortes, desemprego, prejuízos ao bem-estar (como saúde mental) estão sendo geradas pela pandemia. O momento é de reflexão e união. A China é acusada de ocultar dados sobre essa doença e enfrentará grande oposição dos líderes mundiais nos próximos meses. A pergunta que fica é: o que o futuro nos reserva? Ficaremos todos bem?
Num país em que 4,4 milhões de pessoas moram no campo e se sustentam da terra, não é novidade que a agricultura familiar é um dos setores econômicos que, notoriamente, sofrem com a ocorrência de uma crise como a atual, causada pela Covid-19. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a agricultura familiar é a fonte de renda para 70% dos brasileiros que vivem no meio rural, além de ser a principal responsável pela produção de alimentos no país, respondendo, por exemplo, por cerca de 70% da produção de feijão nacional, 34% da de arroz e 60% da de leite.
Com a crise e o isolamento social, o consumo de produtos agrícolas sofreu uma queda considerável. Segundo o agrônomo Eduardo Bellucci, a redução mais imediata se deu na compra de frutas e hortaliças, dois dos principais produtos da agricultura familiar. O profissional da área pontua que a paralisação de restaurantes e o menor movimento nas feiras de rua geraram um enorme impacto para o pequeno produtor, que tem esses dois lugares como principais pontos de venda. Eduardo lembra também que, sem carros nas estradas, esses produtores, que costumam vender suas mercadorias em acostamentos de rodovias, tiveram que interromper essa prática.
Segundo Maria Caze, da direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas devido à redução do consumo, agricultores não vão deixar de produzir. Mas, assim como lembra Maria, há outro fator preocupante que precede o consumo: a logística, concentrada em grandes empresas e quase exclusivamente no transporte rodoviário, no caso dos pequenos agricultores. Isso cria um risco de atraso nas entregas, caso haja, por exemplo, uma corrida aos supermercados em meio à crise.
Tendo em vista esse cenário, algumas medidas estão sendo tomadas pelo governo federal para que pequenos e médios produtores rurais continuem suas atividades. De acordo com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), produtores (principalmente os de flores, hortifrútis, leite, aquicultura e pesca) terão um auxílio para assegurar pequenas despesas que incluem desde sua estrutura produtiva a custeio de atividades. Essa assistência envolve também uma linha especial de crédito para agricultores familiares, o Pronaf, na qual, o limite por produtor será de R$ 20 mil. E, da mesma forma, foi também criada uma linha especial de crédito com limite de R$ 40 mil.
Medidas como essa são de extrema importância, afinal, como conclui Eduardo Bellucci, “se, a curto prazo, o efeito da crise já está sendo muito sentido, os efeitos a longo prazo são ainda maiores”. Maria Craze, por sua vez, nota que a Covid-19 surgiu em um cenário já desfavorável para a agricultura familiar.“Não podemos deixar de dizer que a chegada dessa pandemia, no momento em que o Brasil se encontra, período de estagnação econômica fruto do governo e suas ações, traz um prejuízo enorme para o campesinato dar conta da sua missão que é a produção de alimentos."
Em meio à crise mundial, os Estados Unidos se tornaram o epicentro do novo coronavírus, com mais de 80 mil vitimas fatais e 1,2 milhão de casos registrados no dia 11 de maio. A potência americana relutou bastante para admitir a gravidade do vírus e tomar as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas acabou adotando a quarentena e o isolamento social. O presidente Donald Trump se desdobra para reduzir o número de contaminados e mortes, além de tentar salvar a economia do país de uma recessão muito forte nos próximos meses.

Os Estados Unidos já ultrapassaram a China e a Itália e estão vivendo um caos, causado pelo coronavírus. A população de Nova York, principal cidade afetada, relata um cenário apocalíptico, com prateleiras vazias e hospitais lotados. As normas de restrição são severas e devem ser seguidas por todos, já que a nova doença foi a segunda maior causa de mortes no país na segunda semana de abril. O grande fluxo de pessoas na cidade, a alta densidade populacional e a ausência de políticas públicas para controlar os níveis de transmissão da doença, somados à negligência do governo com relação ao vírus, contribuíram para essa situação nos EUA. Trump demorou para aceitar que a economia teria que ficar de lado por um tempo e que o isolamento social era imprescindível para conter a doença.
A administração atual tem no liberalismo econômico uma de suas bandeiras, mas, com o surto da doença, começou a intervir na economia. Trump aprovou um pacote de ajuda de mais de US$ 2 trilhões para amortecer os impactos da Covid-19, além de assinar um termo que obriga a General Motors a produzir respiradores para hospitais. Essas ações não são comuns em países neoliberais, com pouca interferência do Estado, e mostram uma preocupação com a pandemia.
O professor de economia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Julio Motta avalia que nesse momento os governos devem interferir na economia. “O papel do Estado em um regime capitalista é ser um agente estabilizador do sistema. Momentos como esse precisam de forte ação estatal. Esse deve vir com medidas de distribuição de renda, alívio tributário, facilitação de empréstimos via bancos públicos, entre outras medidas”, afirma.
Outra preocupação que os políticos americanos estão enfrentando são as eleições presidenciais, que ocorrem ainda este ano. Trump se viu preso no embate entre a crise humanitária e econômica e em como conseguir sair dessa situação para consumar seus votos no final do ano. Na visão de Motta, Trump pensou muito nas eleições quando começou a lidar com a crise. “No regime democrático, nada legitima mais um presidenciável do que o bom ambiente econômico. Tendo em vista que as eleições se aproximam, Trump tentou postergar a colheita dos resultados econômicos ruins que viriam a partir do isolamento”, diz.
Um consenso entre economistas é que a crise que virá será avassaladora em todo o mundo. O doutor em economia Paulo Gala prevê que os EUA vão passar por uma recessão imensa. “Vai ser uma crise do tamanho da crise de 29, ou maior, em termos de queda de PIB. Talvez dure menos tempo, porque o governo americano está reagindo.”
A previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) é de que o PIB dos EUA caia 5,9% neste ano Ainda assim, Gala observa que não será desta vez que a China assumirá o posto de maior potência econômica do mundo. “A China vai ultrapassar os EUA, mas não agora, dentro de 30 a 40 anos, porque é uma economia muito maior, tem uma escala muito maior”, analisa. Ou seja, não seria por conta da crise da Covid-19, como apontam algumas teorias, mas por uma tendência assinalada há bastante tempo.
As atitudes recentes do governo americano não são condizentes com a política econômica liberal do país, que não apoia a intervenção do Estado. Mas, em situações de crise, dificilmente um governo não iria intervir na economia para tentar conter os impactos da recessão. Uma discussão que muitos cientistas políticos e econômicos estão tendo é se o liberalismo é um sistema viável para lidar com crises humanitárias e se existem modelos mais aptos para ajudar uma sociedade nesses momentos. Grande parte dos pensadores econômicos acredita que, independente do modelo de governo, o Estado é necessário em alguns casos, como uma pandemia. Paulo Gala afirma que o liberalismo é um sistema falho ao tratar de crises. “O liberalismo não é um sistema eficiente. O sistema de mercado é muito eficiente para criar riqueza, inovação e produtividade, mas ele é péssimo para distribuir”, complementa.

A crise sanitária causada pelo novo coronavírus suspendeu quase completamente a atividade econômica de milhares de empresas. Lojas, restaurantes, shoppings e bares em todo o país foram fechados para conter o avanço da doença e estimular o isolamento social.
Enquanto uma parte da população está confinada, muitos trabalhadores têm de enfrentar o perigo da contaminação para suprir as demandas da sociedade. Entre médicos, policiais, jornalistas e tantos outros, os entregadores também estão entre os profissionais que se expõem ao máximo para que muita gente possa ficar protegida em casa.
Devido ao aumento da procura, o comércio enxergou as entregas como uma forma de continuar funcionando. "Os mais diferentes serviços, inclusive de diferentes atividades econômicas, fazem hoje a sua atividade por meio da entrega desses produtos", afirma Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Segundo o levantamento feito pela Corebiz, empresa de inteligência para marcas do varejo, as vendas online cresceram 330% em março só no setor alimentício, comparado ao mês anterior.
"As pessoas estão estocando tudo o que podem", afirma Junior Jesus, 31, associado à Rappi. "Perdemos muito tempo em mercado por um valor muito baixo, então temos que ficar mais tempo na rua", completa.
Com o crescimento acelerado de pedidos de produtos por delivery, a categoria enxergou a crise como oportunidade de trabalho. Empresas de entregas por aplicativo, como iFood e Rappi, registraram um aumento significativo no número de cadastrados em suas plataformas.
O vice-presidente financeiro e estratégico do iFood, Diego Barreto, informou à Reuters que, somente no mês de março, a plataforma recebeu cerca de 175 mil inscrições de candidatos interessados em atuar como entregadores, mais que o dobro das solicitações de fevereiro. Já a empresa colombiana Rappi chegou a registrar um crescimento de 300% no número de pedidos para cadastros de entregadores.
Para Clemente Ganz Lúcio, o aumento do número de inscrições se deve ao fato de muitos destes indivíduos verem as plataformas como uma oportunidade de renda durante a pandemia. "Muitos deles são pessoas que já estavam na situação anterior de desemprego. Outros entraram na situação de desemprego agora com a pandemia e passaram a fazer esse tipo de entrega.”
Este foi o caso de Paulo Ribeiro, 22, que trabalha há mais de um ano como entregador de aplicativo. "Eu saio para a rua porque infelizmente não tem jeito, eu fui mandado embora do meu trabalho", afirma.
(In)Visibilidade

As medidas de isolamento social têm impulsionado a categoria que nos últimos dois anos vem ganhando importância nas grandes cidades brasileiras.
Ainda assim, estes profissionais trabalham sem nenhuma garantia de auxílio de renda em caso de acidentes, sem descanso semanal remunerado e nem férias, e muito menos FGTS ou 13˚salário.
De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, um ciclista que trabalha mais de 12 horas por dia ganha mensalmente uma média de R$ 995,30, valor menor que um salário mínimo, que hoje vale R$ 1.045.
Foi por esse motivo que os entregadores de aplicativo da cidade de São Paulo paralisaram no início de abril um trecho da Avenida Paulista, protestando contra a baixa remuneração, que se tornou ainda menor em tempos de pandemia.
Em um vídeo divulgado no Instagram do portal Napaulista e Região (@napaulista), os entregadores manifestaram suas demandas. “É sobre as taxas, estão pagando muito pouco pra gente”, afirmou um manifestante não identificado.
“É uma falta de comunicação com a gente, o pessoal bloqueia a gente do nada”, apontou outro entregador, completando: “Queremos mais transparência dos aplicativos”.
As empresas afirmam que os associados são autônomos e que trabalham de acordo com a sua disposição e necessidade, de forma que a plataforma funciona apenas como uma ”ponte”, auxiliando a comunicação entre as partes.
Para o diretor técnico do Dieese, o futuro destes trabalhadores é incerto. “Muito provavelmente esse tipo de atividade continuará tendo uma presença muito forte, talvez muito maior do que vinha tendo até a crise, e esses trabalhadores precisarão ter um tipo de organização”, avalia.
Como alternativa, Ganz Lúcio sugere a criação de sindicatos que teriam a função de garantir direitos dos entregadores. “É necessário evidentemente construir um conjunto de protocolos de regras e de condições para dar proteção a esses trabalhadores.”
Cuidados em tempos de coronavírus
Como outros profissionais de serviços essenciais, os entregadores estão se expondo para que muita gente possa ficar protegida em casa. Para isso, esses trabalhadores precisam tomar cuidado redobrado para garantir a própria saúde e a dos clientes.
Claudia Roberta de Castro Moreno, professora do departamento de saúde, ciclos de vida e sociedade da FSP/USP, explica qual é o protocolo que deve ser seguido na entrega de encomendas: “Antes de cada entrega, a máscara deve ser colocada e o álcool gel utilizado nas mãos ao pegar o pacote e após entregá-lo, considerando que não é possível lavar as mãos na rua”.
“É claro que, idealmente, todos esses trabalhadores deveriam ser testados, mas, dada a complexidade dos testes e também sua escassez, as medidas de proteção devem ser rigorosamente seguidas”, afirma a especialista.
Os clientes também devem adotar alguns novos hábitos. Além da utilização de máscaras ao receber a mercadoria, também é necessário higienizar a embalagem e lavar as mãos depois de manuseá-la.
O associado à Rappi Junior Jesus diz que as pessoas estão muito assustadas. “Elas veem nós, motoboys, como se estivéssemos expelindo o vírus. O pior é que a maioria não reconhece que estamos nos arriscando para a proteção delas", declara.
A debilitada estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) prejudica o enfrentamento à Covid-19. As deficiências passam pela falta de equipamentos, de profissionais e de testes. Isso devido à condição de subfinanciamento que é imposta a esse sistema desde sua criação.
Estimativas apontam que haverá falta de leitos nos cenários mais diversos. Se 20% da população for afetada em um período de seis meses, por exemplo, faltarão 100% dos leitos. Se uma parcela muito menor, de 0,1% da população, for afetada, faltarão 44% dos leitos.
Note-se que 0,1% da população equivale a 210 mil pessoas. Até 13 de abril, o país tinha 20.964 casos confirmados. Mas é preciso colocar nesta equação a falta de testes e a consequente subnotificação no número de confirmados da doença. E, levando isso em conta, previsões apontam que a infecção de 0,1% já havia chegado até aquela data. Diferentes estimativas previam infecção de 313 mil casos confirmados até o dia 11 de abril e 235 mil casos até o dia 10 de maio.
Num país em que quase 70% da população depende exclusivamente do SUS, essas e outras previsões são preocupantes.
Entenda
Segundo levantamento do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps) 72% das regiões cobertas pelo SUS tem número de leitos abaixo do mínimo recomendado, de dez por 100 mil habitantes. Cento e quarenta e duas regiões não possuem nenhum leito. O estudo aponta ainda que, em um cenário com 20% da população afetada em um período de seis meses, seria necessário o dobro de leitos disponíveis.Pesquisadores do Cedeplar (Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional) apontam que em um cenário com 0,1% da população infectada faltariam leitos em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) em 44% das regiões cobertas pelo SUS. O percentual da população considerado na simulação (0,1%) equivale a 210 mil pessoas. Até 13 de abril eram 23.430 casos confirmados.
Estimativa da Covid-19 Brasil - iniciativa que reúne estudantes e cientistas de várias universidades - indica 313 mil casos confirmados até o dia 11 de abril, número 15 vezes maior que os dados oficiais desta data. Já o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS) - grupo formado por pesquisadores da PUC-Rio, Fiocruz, USP e IDOR - aponta 235 mil casos até o dia 10 de maio, 12 vezes maior do que os dados divulgados no dia.
Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que 69,7% dos brasileiros não possuem plano de saúde, seja individual ou empresarial.

Expectativa x realidade
A doutora em Saúde Pública e professora associada da Universidade de São Paulo Laura Camargo Macruz Feuerwerker diz que, se o Brasil tivesse o “SUS ideal” (com todas as capacidades previstas em sua criação), o cenário seria diferente. Antes de a doença se espalhar, haveria um plano articulado de enfrentamento, considerando as diferentes realidades das regiões brasileiras. O país teria também laboratórios públicos para fabricação de insumos e testes, o que é muito útil quando o mundo todo quer comprar as mesmas coisas.
O que se observa hoje, no entanto, são ações individuais e demora de respostas. Sobre a coordenação entre estados e municípios, Feuerwerker afirma que, embora haja exceções, “existe muito mais tensão do que trabalho em conjunto”. Ela dá o exemplo da Grande São Paulo, onde há, em sua visão, uma tendência de centralização da secretaria estadual, com pouco diálogo, o que faz com que os municípios atuem por conta própria. Soma-se a isto a lentidão em pedidos de testes e nas compras de equipamentos de proteção individual (EPIs) e respiradores.
Feuerwerker considera importante a ampliação de leitos que vem sendo implantada, mediante, por exemplo, a criação de hospitais de campanha. Mas qualifica como “tímidas” as ações em territórios mais vulneráveis. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) têm feito trabalho de organização de fluxos dentro de seus espaços, mas há poucas ações fora deles, nas comunidades. Isso permitiria um mapeamento das necessidades dessa parte da população, mas é impossibilitado em grande medida pela falta de estrutura e pessoal.
A professora chama atenção ainda para as desigualdades presentes ao longo do território brasileiro. Em São Paulo, por exemplo, a capacidade instalada nas regiões mais pobres é menor, e as pessoas terão que ser transferidas para outros pontos da cidade. O Amazonas, que já chegou a até 95% de leitos para Covid-19 ocupados, foi o primeiro estado a entrar em colapso na saúde.
Entenda
Pesquisa divulgada em abril pela Rede Nossa São Paulo revela uma distribuição desigual de leitos nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) na capital paulista. De acordo com o estudo, três subprefeituras localizadas em regiões mais ricas concentram 9,3% da população do município e mais de 60% dos leitos públicos de UTI. E em sete subprefeituras localizadas em regiões mais pobres da cidade, que concentram 20% da população, não há nenhum leito.
O ano de 2020 começou com uma redução de R$ 6 bilhões no orçamento do gasto público em saúde. No mês de março, o governo federal anunciou uma adição de R$ 5 bilhões para o combate ao novo coronavírus. Ou seja, ainda há uma perda de R$ 1 bilhão do orçamento esperado para um ano típico (sem o advento da pandemia). É o que aponta José Alexandre Buso Weiller, doutor na área de economia política da saúde e diretor-geral da Fundação Juquery, entidade pública que desenvolve serviços de saúde e assistência social.
Ele aponta que o descumprimento da destinação de no mínimo 30% do Orçamento da Seguridade Social (OSS) para o SUS, como previsto na Constituição, é um dos fatores que explicam o atual sucateamento desse sistema. Nota-se também a facilitação aos planos de saúde privados, com a criação da Agência Nacional de Saúde (ANS), o crescimento de subsídios públicos e o não ressarcimento ao SUS pelos serviços públicos prestados aos seus consumidores.
Todo esse incentivo à saúde privada ajudou a criar a imagem de que o problema do SUS é a gestão e não a falta de recursos. Empresas ganham isenção fiscal ao oferecer planos de saúde privados aos empregados. Em 2018, a União deixou de arrecadar R$ 39 bilhões no setor da saúde devido a gastos tributários. Há ainda a Lei 8.666 de 1993, que prevê normas para licitações e contratos. Na prática, faz com que compras de equipamentos para saúde demorem meses, além da paulatina diminuição de pessoal. Esses e outros embargos tornam a gestão privada mais atrativa e fortalecem o discurso liberal.
Weiller aponta também a Desvinculação de Receitas da União (DRU) como fator gerador de déficit no OSS. Em 2018, o valor retirado deste orçamento foi de R$ 170 bilhões. Se considerado um gasto de R$ 116 bilhões com o SUS (valor previsto para 2020), o valor retirado equivale a “1,5 SUS”. A DRU permite que o governo retire parte dos recursos destinados a áreas prioritárias para usar, por exemplo, no pagamento de juros da dívida pública.
O Brasil é o segundo país do mundo que mais paga juros da dívida pública. A dívida está estimada, neste ano, em R$ 1,6 trilhão, dos quais R$ 415 bilhões relativos a juros. Weiller diz ser necessária uma auditoria cidadã da dívida pública, mobilizando a população na cobrança de transparência. Entre os objetivos, estaria o alongamento dos prazos para pagamento da dívida e seus juros (os quais podem ser definidos pelo Estado) e o maior investimento em áreas prioritárias, como a saúde.
Com a Emenda Constitucional 95/2016, que estabeleceu o teto dos gastos públicos, o SUS passou do subfinanciamento para o desfinanciamento, afirma Weiller. A emenda prevê o congelamento de gastos sociais por 20 anos (até 2036). O valor das despesas primárias só é reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem levar em conta crescimento populacional e inflação, por exemplo. Isso faz com que a saúde pública receba menos recursos a cada ano.
Na atual pandemia, a sociedade necessita ainda mais do sistema público de saúde. Como medidas que poderiam ser tomadas de imediato para evitar um colapso e garantir amplo atendimento, Weiller elenca: revogação da Emenda Constitucional 95, extinção da isenção fiscal na área da saúde, supressão da DRU e de despesas inconstitucionais, não privilégio ao pagamento dos juros da dívida pública. Propõe ainda a estatização temporária de leitos de hospitais privados e de fábricas, para produção de EPIs.