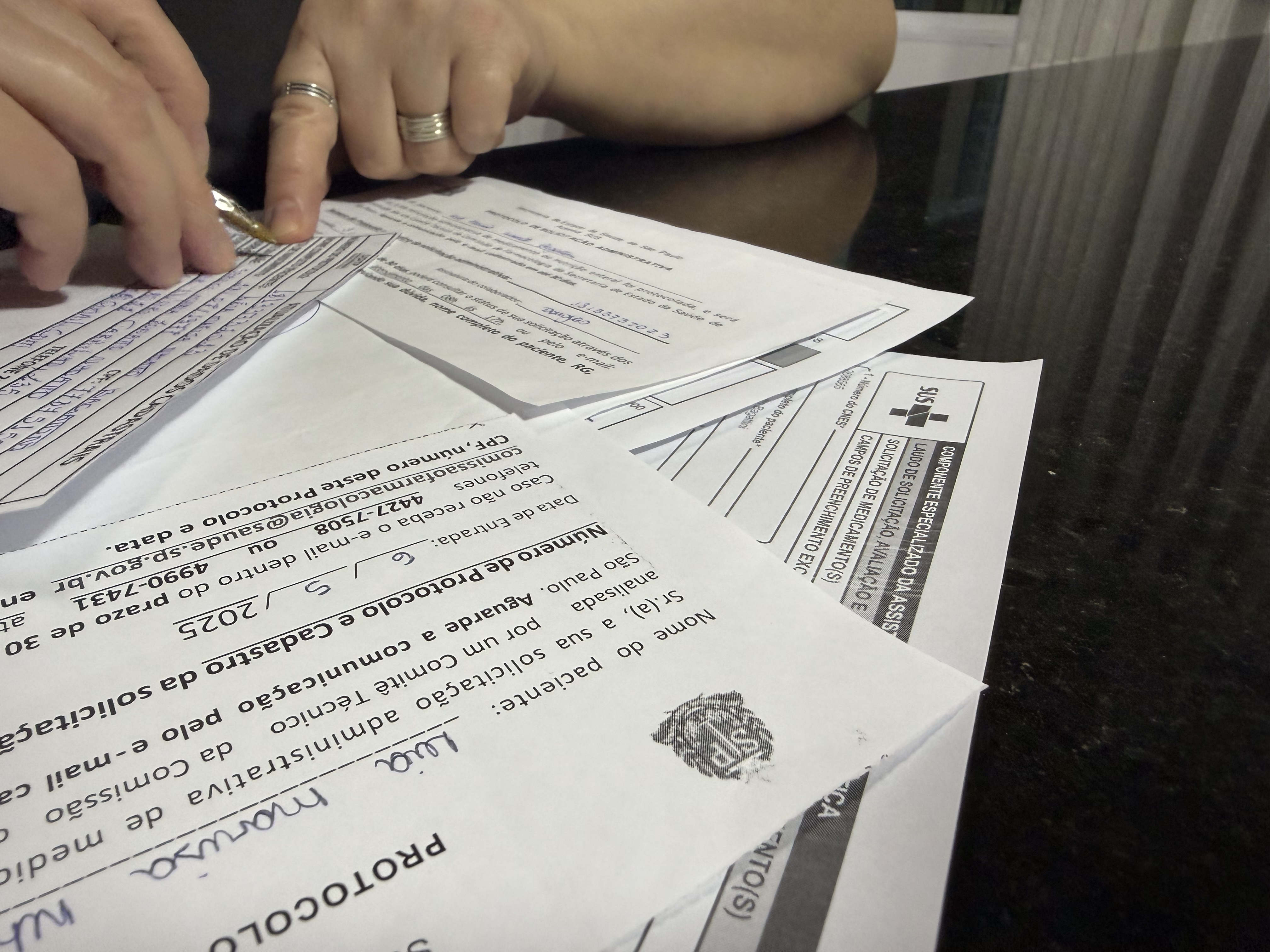Quando Barack Obama assumiu a Presidência dos Estados Unidos, em 2009, chegou à Casa Branca com a proposta de aumentar a cobrança de impostos para os mais ricos do país. Muito criticado pela oposição, que representava, em grande medida, os interesses da elite americana, o presidente tinha como projeto econômico principal o financiamento de um novo sistema da saúde, a redução do déficit federal e a queda da desigualdade nos EUA.
Embora com um projeto com características de esquerda, o governo de Obama foi criticado, no geral, por ter que se adequar ao sistema republicano do país, levando em conta que grande parte do Congresso era formado por seus opositores políticos. Ainda assim, o presidente, que terminou o seu mandato em 2016, teve um influente papel em redefinir o modelo democrático do país, mais social do que antes.
Como acontece há anos nos Estados Unidos, o sucessor de um presidente democrata tende a ser um republicano, eleito com a expectativa de reequilibrar as forças políticas do país. Empossado em 2016, Donald Trump imprimiu uma mudança agressiva na política econômica, combinando medidas de caráter liberal, como a redução de impostos para corporações e pessoas físicas, com ações protecionistas. Com isso, Trump iniciava uma série de medidas que agradavam os mais conservadores, mas que seriam perigosas para os EUA no futuro.
Durante os três primeiros anos de seu mandato, Trump focou em impulsionar o crescimento econômico por meio de gastos externos e cortes de impostos, o que acabou aumentando bastante o déficit do orçamento federal. Seu protecionismo, especialmente para mercadorias trazidas da China, priorizando sempre o bem-estar dos Estados Unidos, independente de seus aliados, fez com que a renda do país crescesse – afinal, significava que mais produtos internos estavam sendo consumidos, e o cenário já era positivo com a saída de Obama. Além disso, nos três primeiros anos de seu governo, houve uma forte queda no desemprego e um aumento no Produto Interno Bruto (PIB).
Com um fim de governo tenebroso para as classes média e baixa, Trump pode deixar o país em uma situação negativa. Bernie Sanders, que recentemente desistiu da corrida presidencial, já chegou a ser seu principal concorrente – Sanders focava sua proposta econômica em tendências socialistas, assegurando que todos os residentes do país possuem direito a moradia, educação, saúde e aposentadoria. Ele ainda pediu uma Declaração de Direitos Econômicos deste século, garantindo que iria reforçar os direitos e a liberdade civil de cada estadunidense.
Sanders, que declarou ter como inspiração o mandato de 1944 de Franklin D. Roosevelt, focou sua campanha em garantir saúde para todos – especialmente durante a época da pandemia. Os EUA, que possuem um sistema de saúde elitista e caro, acaba impedindo que todos os residentes tenham atendimento de qualidade, o que os leva muitas vezes à prática de autoatendimento, prejudicial e perigosa.
Uma das propostas anunciadas por Sanders foi o cancelamento da dívida médica dos residentes dos Estados Unidos, que chega a US$ 81 bilhões, assim como a eliminação total da dívida estudantil, que fecha em cerca de US$ 1,6 trilhão – levando em conta todo o território do país. Sanders também declarou que aumentaria o salário mínimo federal – hoje de US$ 7,25 por hora – para US$ 15 dólares por hora.
Além disso, Sanders acrescentou em sua proposta que continuaria o projeto de Obama para taxar os mais ricos e as corporações dos Estados Unidos, com uma porcentagem proporcional à riqueza de cada pessoa ou companhia. Mas, devido ao fortalecimento de Trump e Joe Biden, que é de seu partido, Sanders acabou saindo da disputa para apoiar Biden, vice-presidente de Obama que hoje concorre ao cargo de presidente.
Biden, que já apareceu à frente de Trump em algumas pesquisas, promete reestruturar o sistema de inadimplência, o que significa que muitos dos indivíduos podem tentar sua reinserção no mercado de trabalho novamente e com mais facilidade.
Aproximando-se do modelo da senadora Elizabeth Warren, que desistiu da candidatura presidencial, Biden promete trabalhar para que as pessoas consigam adquirir seus direitos e aliviar as dívidas da população por meio do sistema de falência. Além disso, os estudantes poderão quitar suas dívidas, o que os ajudará a recomeçar suas vidas. Biden também se comprometeu a diminuir as disparidades raciais e de gênero presentes no sistema de inadimplência, além de cortar brechas que permitem que as corporações abusem dos estadunidenses em situação financeira negativa.
Como vice de Obama e atual representante democrata, Biden deve utilizar seu espaço para dar continuidade aos projetos do ex-presidente, com enfoque na situação atual. Enquanto promete dar uma nova cara ao projeto econômico estadunidense, ele também promete um melhor direcionamento para as políticas contra o coronavírus.
“Uma resposta econômica decisiva que começa com licença remunerada de emergência para todos os afetados pelo surto e dá toda a ajuda necessária aos trabalhadores, famílias e pequenas empresas que são duramente atingidas por essa crise. Não se engane: isso exigirá um conjunto imediato de medidas econômicas ambiciosas e progressivas e mais ações decisivas para enfrentar o maior choque macroeconômico causado por esse surto”, diz o site de sua campanha.
As propostas de Biden, caso eleito, podem reestruturar a economia no modelo Obama/Sanders e, ainda, oferecer um melhor financiamento para estudantes e para estadunidenses gravemente afetados pelo coronavírus – um dos principais alvos de crítica no governo de Donald Trump atualmente.
Foto da capa: Em evento na Filadélfia, Joe Biden anuncia pré-candidatura à Presidência, em maio de 2019. Foto extraída do Facebook de Biden.
A crise provocada pela pandemia de Covid-19 representou um duro golpe para o setor aéreo. Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendar medidas restritivas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, as empresas de aviação sofreram com o fechamento das fronteiras e o cancelamento e adiamento de voos. Para amenizar os impactos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está coordenando, em parceria com o Banco do Brasil e um consórcio de bancos privados – integrado por Bradesco, Itaú e Santander – um pacote de financiamento para as três maiores empresas do setor: (Gol, Latam e Azul).
Os recursos serão destinados ao pagamento de fornecedores e despesas administrativas e fixas, como aluguel, manutenção, estacionamento dos aeroportos e salários de funcionários, a fim de evitar a falência das empresas. Outra medida usada para amenizar a crise na aviação é incentivar os funcionários a tirarem licença não remunerada, antecipar férias, reduzir de maneira temporária jornadas de trabalho e salários, inclusive de executivos, para assim impedir demissões em massa.
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), em matéria publicada no portal UOL em 11 de abril, cerca de 85 a 87% dos passageiros estão fazendo a prorrogação ou alteração da data das viagens. De 13 a 15% dos viajantes, por sua vez, têm pedido reembolso. O prazo para que as empresas devolvam o dinheiro dos passageiros foi prorrogado por até 12 meses.
A Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) divulgou um estudo que aponta que o cancelamento e adiamento de viagens causou um impacto de aproximadamente R$ 3,9 bilhões no turismo em relação ao mês de março, ou seja, 25% do faturamento de 2019. Os cancelamentos afetaram 98% das companhias aéreas. Para 36% das empresas, a suspensão das viagens ficou entre 70 e 100%.
Em relação ao final de março e início de abril do ano passado, o volume de voos regulares está 48% menor e foram removidos mais de 20 milhões de assentos das empresas aeroviárias mundiais. A Latam anunciou redução de 95% das operações em abril deste ano e a Gol fez a suspensão de todos os voos internacionais até o fim de junho, além de uma redução das operações domésticas e internacionais em 70%.
A demanda por viagens aéreas domésticas registrou uma queda de 32,84% no mês de março, em comparação ao mesmo mês no ano de 2019, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número de passageiros transportados em voos domésticos teve um recuo de 35,46% ainda em março, diante de igual período do ano passado. No total, foram transportados 4,9 milhões de pessoas, o que indica a menor quantidade para o mês desde 2009.
Além disso, a procura por viagens aéreas internacionais entre as empresas de aviação nacionais recuou 45,38%, na comparação com o mesmo mês de 2019. Com isso, o estudo indica o menor volume de demanda para março desde 2010. Fazendo uma comparação no setor de transporte de carga e correio, a redução foi de 17,52% no segmento doméstico em relação a 2019. No mercado internacional a queda foi de 21,17%.
Perspectivas para as companhias aéreas pós-pandemia
Fabio Falkenburger, sócio de infraestrutura do escritório de advocacia Machado Meyer e especialista no setor aéreo, analisa que todas as medidas anunciadas pelo governo para amenizar os efeitos da Covid-19 são essenciais para o restabelecimento do turismo. "Para voltar a ter um nível de receita, as empresas teriam de redimensionar o tamanho para ter uma operação lucrativa e rentável. Cada companhia vai ter de medir os impactos que teve", destaca.
Fabio diz que a retomada será tênue e que as pessoas começarão a perder o medo de viajar para fora aos poucos, encorajadas pela política de prevenção de cada empresa no período pós-pandemia. "A primeira onda de retomada vai ser de voos domésticos, relacionados a trabalho, e após, os voos de lazer", avalia.
Levando em consideração as medidas adotadas até agora, o especialista projeta para o segundo semestre a retomada do transporte aéreo. Apesar do cenário incerto, Fabio avalia que não há possibilidade de falência das empresas do setor e que será possível garantir a manutenção dos empregos e minimizar os impactos causados pela crise.
O novo coronavírus adentrou a sociedade global de forma brusca e inesperada, o que fez com que o modo de vida, as percepções e os valores da população mudassem completamente. De acordo com a Oxfam, entidade da sociedade civil que atua em cerca de 90 países, a crise econômica desencadeada pela Covid-19 pode levar mais de 500 milhões de pessoas para a pobreza e provocar uma recessão global.Para os trabalhadores de baixa renda e principalmente para as pessoas em situação de rua, as consequências serão ainda mais severas.
No ritmo de vida, a quarentena imposta tem como único objetivo salvar vidas. Nos jornais, o repertório replica massivamente a importância de ficarmos abrigados em casa, em ambientes desinfetados e sempre lavarmos as mãos. Apesar de todas as precauções tomadas serem essenciais, é preciso ampliar o olhar de preocupação por parte do governo e da população para aqueles que, sem escolha, ficam na linha de frente da vulnerabilidade e risco: os moradores de rua; afinal, eles não têm para onde ir e muito menos como tomar as medidas preventivas necessárias para continuarem em segurança.
Social
Atualmente, cerca de um quarto da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE. O elevado número de pessoas sem acesso à informação e insumos básicos faz com que os desafios da pandemia sejam ainda maiores. Só em São Paulo, 24 mil pessoas se encontram em situação de rua, de acordo com o último censo da prefeitura. Para essa população, o isolamento social não é uma opção. Com a cidade vazia, as dificuldades se agravam mais ainda: sem pessoas circulando, os moradores de rua encontram menos chances de gerar renda, obter alimento e informações sobre o que está acontecendo com o mundo. Instituições, religiosas ou laicas, que normalmente realizam missões de distribuição de alimentos e suprimentos básicos, pararam suas atividades e diminuíram ainda mais as chances de sobrevivência dessas pessoas.
A Prefeitura de São Paulo tem criado centros de acolhida emergenciais, banheiros para higienização, pias públicas, entre outras medidas. Essas ações, contudo, não têm a eficácia necessária, pois a maioria dos centros de acolhida tem proibido a permanência de usuários até as 16h e não suportam todas as pessoas que precisam de ajuda. Para a Arcah (Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade), instituição que luta pela reintegração social e sobrevivência da população em situação de rua, "devemos ter a consciência de que somos todos um, e, diante de uma pandemia, devemos ser ainda mais solidários com os que estão ao nosso redor, especialmente a população em situação de rua, que é ainda mais vulnerável”.
Para ajudar no enfrentamento da crise, a instituição criou uma campanha para arrecadar itens de higiene e produtos de limpeza para serem distribuídos nos centros de acolhida da cidade de São Paulo. Além da ajuda social, a instituição oferece à população em situação de rua uma capacitação profissional e socioemocional pelo Horta Social Urbana, projeto principal da organização no momento. O objetivo é formar os cidadãos vulneráveis em agricultura urbana, para que eles, de alguma forma, consigam se inserir no mercado de trabalho; afinal, a economia é outro ponto fundamental da pandemia que tem afetado a população de rua.
Impactos econômicos
Assim como o impacto social, a população de rua deve ser triplamente afetada pelas consequências econômicas da disseminação do coronavírus. Segundo relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia mundial registrará em 2020 o pior índice de desemprego desde a Grande Depressão, em 1929.
Esses dados significam um aumento considerável de pessoas perdendo suas fontes de sustento, ocasionando um maior fluxo de migração para as ruas. No novo relatório da Oxfam, a organização enfatiza: “Isso pode representar um retrocesso de uma década na luta contra a pobreza”. De acordo com o Valor Econômico, o desemprego em países emergentes pode atingir de 1,7 milhão a 7,4 milhões de pessoas extras, além do aumento de 14 milhões de trabalhadores em situação de miséria.
Para o economista Marcos Henrique do Espírito Santo, em um momento de pandemia como este, existe uma enorme necessidade de o poder público conter os impactos negativos. Para isso, o Estado deve gastar, inclusive se necessário imprimir moeda para financiar os gastos. “A renda das pessoas precisa ser garantida de alguma forma; se o mercado não está funcionando, o Estado precisa ampliar a dívida pública”, diz Espírito Santo.
O economista acrescentou que um dos principais problemas é o negacionismo do presidente da República, que se preocupa com os impactos econômicos a longo prazo para as grandes empresas e se esquece do trabalhador de classe baixa que não tem o que comer hoje. Espírito Santo acredita que o auxílio de R$ 600 para os trabalhadores, como medida provisória de minimização de impactos, seja correto, ainda que tenha sido proposto pela oposição no Congresso, e não pelo presidente da República, que a princípio sugeriu o valor de R$ 200. "Eu vejo essa medida como uma medida necessária, de curto prazo, mas insuficiente."
Enquanto isso, apesar de todos os problemas e necessidade de melhora no sistema, a população em situação de rua continua às margens, sem nenhum auxílio emergencial, assistência média, orientação psicológica, nada. Novamente, triplamente afetados. E, se o país continuar caminhando para esta direção, a situação, que hoje é problemática, ficará insustentável. As ruas passarão a abrigar mais pessoas do que as casas existentes no país, e a fome irá adentrar a vida dos brasileiros de forma nunca antes vista. Olhar para as minorias sociais ao mesmo tempo em que se preocupa em salvar grandes empresas pode ser visto como banal ou perda de tempo para muitas pessoas da classe alta e do poder público, mas, se nada for feito, o Brasil estará fadado a enfrentar uma distopia incapaz de ser solucionada.
Foto de capa: "Contraste", de Luiz Alexandre, sob licença CC By 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich).
Link da foto: https://www.flickr.com/photos/15774988@N04/2333652473
O novo coronavírus encontrou a sociedade brasileira em uma situação frágil do ponto de vista econômico, social e político. Além das desigualdades latentes, o desemprego estava em alta e Brasília em chamas com a acirrada disputa entre os poderes Executivo e Legislativo. Como se não bastasse, o presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, expunham publicamente suas divergências. A pandemia traz grandes impactos não só para a economia, mas também para o sistema público de saúde.
Segundo a professora de economia da PUC-SP Cristina Amorim, estes impactos já são visíveis. Em entrevista à TV PUC, ela citou as demissões que estão ocorrendo em diversos setores e disse que, com indústria e comércio parados, há riscos de desabastecimento de produtos essenciais. “Os próximos dois ou três anos serão reflexo dessa violenta redução de demanda e de oferta. A retomada do crescimento e da renda dos consumidores não ocorrerá em poucos meses”, avaliou.
Em relação aos gastos públicos, muitas pessoas acreditam que a gestão dos Estados é similar à gestão individual, ou seja, quando o poder público gasta mais do que arrecada, assume uma dívida que põe em xeque o bem-estar social. No entanto, a professora explicou que o argumento é equivocado e não justifica a redução de investimentos na saúde.
“A dívida pública é um instrumento de política econômica, e não um indicador de Estado perdulário. Se a dívida é excessiva ou inadequada à economia, depende da percepção do credor, e não da sua relação como proporção do PIB”, disse Amorim, que pesquisa a economia e a gestão da saúde.
No atual cenário, o sistema público de saúde precisa mais do que nunca de investimentos. A economista afirmou que o Sistema Único de Saúde (SUS), disponível para qualquer pessoa em território brasileiro, tem uma capacidade única de diagnosticar e atender milhões de pessoas, coisa que nenhum plano de saúde faz. Por isso, ele é essencial para o enfrentamento do novo coronavírus.
“A Covid-19 é uma pandemia, ataca populações. O sistema privado de saúde não alcança os cidadãos, apenas os seus clientes”, afirmou Amorim, acrescentando que, apesar de o Brasil ser um país em desenvolvimento, o SUS é superior em relação ao sistema de saúde pública dos Estados Unidos e de muitos países da Europa.
Ainda assim, no Brasil há um processo cada vez mais acentuado de privatização da saúde. Em 2015, foi aprovada a participação majoritária de empresas estrangeiras no setor. Planos como a Amil foram comprados. Em função da pandemia, hospitais públicos e privados de muitos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, já estão lotados.
O SUS enfrenta problemas há tempos, principalmente no que diz respeito ao financiamento. Em seu artigo “Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos”, publicado em 2018 na revista online Ciência & Saúde Coletiva, Jairnilson Silva Paim, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, aponta que os municípios foram os entes que sustentaram o SUS para a população. “Mais de 40% dos estados não aplicam o mínimo de 12% na saúde, contudo 100% dos municípios aplicam acima do mínimo de 15% na saúde, chegando à média de 26%.” Diante disso, a estagnação econômica de muitos municípios agrava o problema do SUS, pois as prefeituras ficam à mercê das transferências da União.
Apesar de o SUS possuir conhecimentos acumulados e profissionais experientes, ainda depende do repasse do governo federal, cada vez mais restrito devido à lógica de eficiência, própria do capitalismo e do Estado neoliberal. Isso é expresso na Emenda Constitucional 95, que provocou a diminuição dos gastos públicos e significou uma perda de cerca de R$ 20 bilhões na saúde nos últimos dois anos. O bom funcionamento da rede básica de saúde pode ser essencial para evitar o colapso do sistema como um todo. “O que não pode faltar é a quantidade suficiente de recursos financeiros, materiais e humanos para o SUS tocar essa situação e ajudar a debelar a crise”, expõe a professora de economia.
Para que o sistema não fique sobrecarregado, a pesquisadora acredita ser fundamental o cumprimento do isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde, com base em critérios médicos e científicos. Amorim alertou que quanto menos infectados demandarem assistência médica e hospitalar, maior a capacidade de atendimento e menor o número de vítimas fatais.
A economia é afetada no mundo inteiro. O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu aos países do G20, os mais ricos do mundo, que suspendam o pagamento das dívidas dos mais pobres, e está abrindo linhas de crédito para economias que precisam de dinheiro. Amorim avaliou que para o Brasil é mais interessante recorrer a essas linhas de crédito do que vender as reservas cambiais.
“No Brasil, a União tem recursos para minimizar os efeitos da nossa crise tríplice de saúde, econômica e política. Há várias fontes de recursos. Primeiro a redução da taxa de juros dos últimos quatro anos reduziu o principal dreno dos recursos brasileiros, o custo da dívida interna, e é muito provável que a taxa de juros chegue a zero nos próximos meses”, explicou a economista.
Outra fonte importante de renda que ajuda a diminuir a crise é a emissão de moeda. Segundo Amorim, não há chance de inflação nesse ciclo econômico. “Sempre há outros recursos fiscais que poderiam ser realocados para o combate do coronavírus”, complementou. Mesmo que o Brasil tenha conhecimento em saúde pública e recursos financeiros, a professora acredita que “ a crise política e a decorrente falta de liderança é um entrave crítico para o enfrentamento da situação”.
Em função das recomendações de isolamento social da população de São Paulo, o volume de compras online dos supermercados disparou. Na última semana de março, por exemplo, as entregas mais do que dobraram em relação à média. E esse aumento não indica que os consumidores estão comprando em excesso, mas sim que o delivery está ganhando cada vez mais espaço nestes tempos de quarentena.
Desde o dia 24 de março, quando a recomendação de isolamento social passou a ser mais difundida entre os paulistas, os super e hipermercados do estado de São Paulo passaram a ser grandes alvos da população, que, em meio às incertezas da Covid-19, correu para armazenar mantimentos. A prática foi veementemente condenada por jornais e nas redes sociais, mas o aumento no volume de compras não se limitou às lojas físicas: 77% dos mercados relataram forte alta nas vendas online entre os dias 16 e 22 de março.
No total, em comparação com a média dos três meses anteriores, o aumento durante esse período foi de 74% e, consequentemente, 59% das empresas do ramo precisaram realocar mão de obra para o setor online, segundo a Associação Paulista de Supermercados (Apas).
A experiência de fazer compras pela internet, porém, não é comum entre os brasileiros. Até 2019, apenas 15% dos consumidores faziam uso dos meios tecnológicos para as compras de supermercado, mas, em meio ao novo coronavírus, as novas formas de comunicação foram inevitáveis e necessárias para evitar a disseminação da nova doença.
Entre os clientes que sempre optavam por comprar nas lojas físicas, está a aposentada Maria Elizete, 67, que se disse surpresa com a funcionalidade do aplicativo “James”, do Pão de Açucar, embora ainda prefira escolher suas frutas pessoalmente. “Ah... confesso que fiquei com um pouco de medo no primeiro momento, mas, assim que meu neto me ensinou a mexer, deu tudo certo”, comentou.
Com a boa aceitação, ainda que insubstituíveis para alguns, as compras presenciais perderam espaço para o e-commerce e, nestes tempos de reclusão, não é difícil entender o porquê. Após as primeiras semanas do vírus no estado de São Paulo e a aparente conscientização de parte da população, as vendas online atingiram o ápice de crescimento na última semana de março, ficando 107% acima da média.
Surpreendidos pela demanda, 52% dos supermercados relataram que tiveram de suspender temporariamente os serviços online para evitar atritos com os clientes, segundo levantamento da Apas. A logística e a operação dos canais virtuais foram os principais problemas apontados pelas empresas do setor nesse período inicial.
Porém, engana-se quem pensa que apenas as grandes redes se adaptaram por meio da tecnologia para manter as vendas e atender a clientela. Localizado na Vila Olímpia, o Mercadinho Nova Cidade, por exemplo, criou um WhatsApp para receber as encomendas. “Seguimos todas as medidas de higiene e estamos fazendo as entregas com luvas e máscaras”, contou Paulo Gomes, dono do estabelecimento.
Com mais de 6.100 mortes causadas pelo coronavírus no estado de São Paulo, a população parece optar cada vez mais pelas alternativas tecnológicas para compras nos supermercados. De acordo com o levantamento da Apas, durante a semana de Páscoa (06/04 a 12/04), houve um aumento de 81% no volume de vendas online, mas apenas 15% dos supermercados registraram aumento no volume total de compras, sinalizando assim que a tendência inicial de estocar mantimentos já não é mais realidade e que as compras online estão substituindo, mesmo que por ora, o comércio físico.
Além disso, ainda em 2019, as previsões de crescimento nas vendas online para 2020 no estado de São Paulo eram de 12% (segundo a FecomercioSP). Após as mudanças comportamentais causadas pelo novo surto epidemiológico, o crescimento da modalidade ainda não pode ser calculado, mas, a julgar pela aproximação da sociedade com essas tecnologias, assim como pela “familiaridade forçada” que tem ocorrido durante os dias de isolamento, é bem provável que supere as expectativas.
Em nota, a Apas informou que continua negociando com os fornecedores para manter o abastecimento com preços justos e sugere aos consumidores que realizem compras conscientes e procurem produtos substitutos quando possível. No que diz respeito ao abastecimento dos mercados, a associação enfatizou que os consumidores precisam se programar para as compras online, mas que não é preciso fazer estoque.