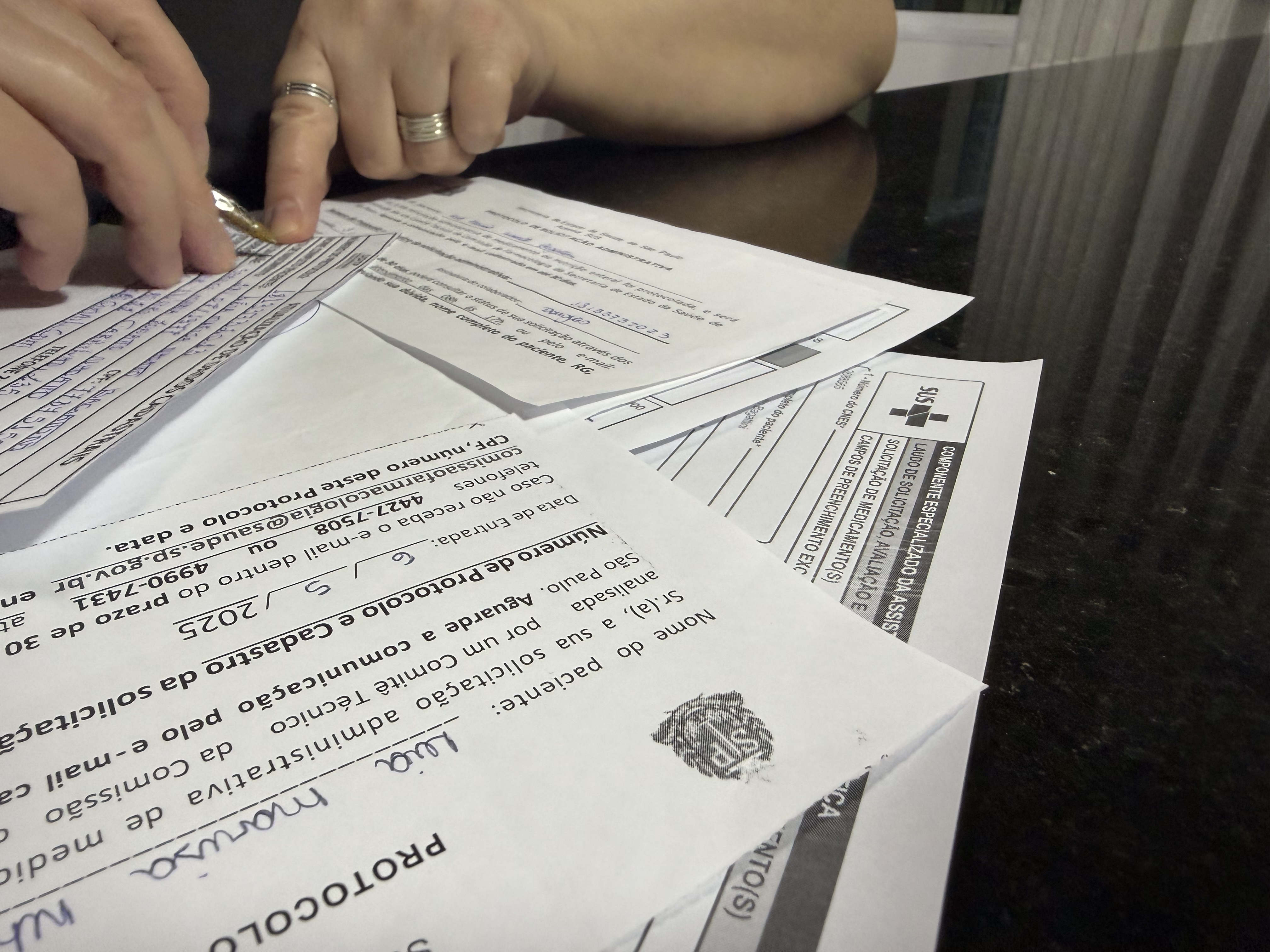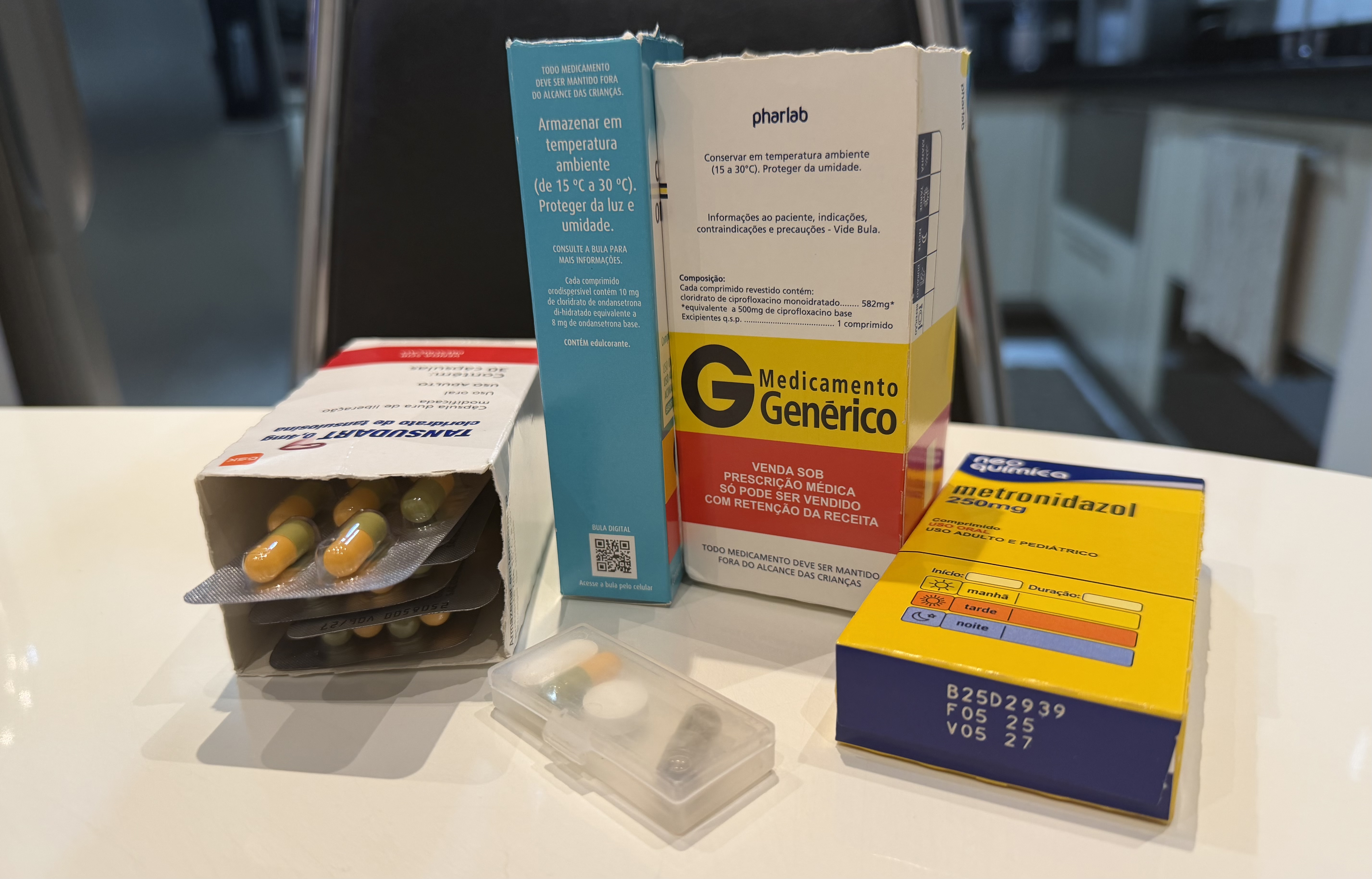Com o avanço do novo coronavírus, a perspectiva é de que o crescimento do país neste ano seja negativo, culminando em uma recessão sem precedentes. Neste novo cenário, o setor industrial, maior gerador de empregos do país, será duramente afetado. Os analistas do mercado financeiro já preveem uma queda de 6,5% para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2020. Para o Banco Mundial, o recuo será ainda maior: 8%.

Na indústria, a crise da Covid-19 representa, entre outras coisas, uma brutal queda de expectativas. No fim do ano passado, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou a previsão de um aumento de 2,8% no PIB do setor. A taxa seria a maior expansão desde 2011 e confirmaria a recuperação da indústria, após os golpes provocados pela recessão de 2015 e 2016. Com o inicio da pandemia, no entanto, e as medidas de isolamento adotadas para conter a expansão do vírus, a produção industrial caiu 9,1% em março e, em abril, despencou 18,8%.
Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) mostrou que, no começo de março, 70% das empresas associadas já apresentam problemas com o abastecimento de componentes, que são produzidos majoritariamente na China e em outros países asiáticos.
Em entrevista ao portal G1, o diretor de estudos e políticas macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), José Ronaldo Souza Júnior, afirmou que é difícil prever os impactos que a crise terá na economia brasileira porque não há registros históricos de ocorrências semelhantes, mas disse que a pandemia gera problemas tanto pelo lado da oferta quanto da demanda.
“O choque na oferta ocorre pelos problemas de suprimento de algumas cadeias produtivas, como a da indústria eletrônica. Já pelo lado da demanda é porque os mecanismos usados para a contenção do vírus reduzem a interação humana, e isso tende a refletir no PIB. Para a indústria, existe também a preocupação com a contaminação de empregados. É um setor que utiliza mão de obra de forma intensiva”, analisou Júnior.
O sócio-diretor da produtora de linhas industriais Linhasita, Oscar William Rossi, diz que a empresa vem apresentando resultados frustrantes há cinco anos. “Viemos em uma velocidade de produção muito grande, mas quando chegou em meados de 2015 a economia parou de repente e caímos em uma recessão muito forte, o que resultou na queda da nossa produção.”
O empresário conta que a produção caiu de 130 toneladas por dia para um volume entre 60 e 70 toneladas. Além disso, por causa da alta do dólar, as importações também caíram, o que prejudicou a empresa, que obtém parte de sua receita com a venda de insumos importados no mercado nacional.
William diz que, para a sua empresa, o ano começou com resultados empolgantes, mas o avanço do coronavírus alterou drasticamente a situação.
“O faturamento de janeiro e fevereiro foi surpreendente para nós. Março também vinha andando muito bem, mas então veio a parada repentina por causa da pandemia. Aí foi terrível a situação, porque simplesmente você foi a zero, e não se faturou nada.”

Questionado sobre a possibilidade de fechar o negócio, o empresário afirma: “Nós não chegamos a fechar totalmente as portas, mas, como a cadeia ficou comprometida, tanto a cadeia de fornecedores quanto a de clientes, que não estava trabalhando, nós tivemos um mês em que faturamos de um quarto a um quinto do nosso faturamento, sendo que, em um custo normal, você não paga as contas. Então tivemos que prorrogar muitos pagamentos de clientes e também tivemos que pedir muita prorrogação para fornecedores nossos”.
William demonstra preocupação com as perspectivas de uma retomada. “Eu acredito que seja impossível de ser 100% de novo, talvez 50% do que era, mas vai ser muito complicado porque a gente vê quais serão os novos custos nessa nova realidade e ainda temo que essas paradas ocorram novamente, porque não existe ainda nada que se diga sobre cura do vírus, nenhum remédio efetivo e vacina só a longo prazo. Então a gente pode esperar novas paralisações do mercado com certeza.”
Em relação a demissões e ao futuro da empresa, William afirma que existe uma insegurança muito grande por parte dos empresários, pois não sabem o que fazer diante de qualquer tipo de dívida. Mesmo com o governo apresentando medidas para amenizar o desemprego, ele acredita que logo serão tomadas providências em relação a isso.
“Hoje tenho ativos 280 funcionários, porém tenho clientes meus que têm 10 mil funcionários e que já mandaram 30% embora. A gente provavelmente vai ter que fazer o mesmo antes de tomar qualquer outra medida”, diz o empresário.
O novo coronavírus chegou oficialmente no Brasil no final de fevereiro, e sem muitas surpresas se concentrou nas grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, o vírus não se restringiu apenas às capitais. Cidades menores do interior também estão tendo que lutar contra a Covid-19, e com muito menos recursos e apoio.
Esse é o caso de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. Localizada a 96 quilômetros de Belo Horizonte, a cidade é a 22ª mais populosa do estado, com uma população estimada de 128.589 habitantes. A cidade já soma, até este momento, 12 casos confirmados, e as medidas para desacelerar esse crescimento foram tomadas com antecedência, já que, como a maioria dos municípios do interior, Conselheiro Lafaiete não possui infraestrutura para lutar contra uma pandemia.
O isolamento social é o único recurso disponível. Por isso, há mais de um mês escolas e creches, assim como clubes e casas de festas, estão fechados e, surpreendendo muitos lafaietenses, o comércio também seguiu essa recomendação. A surpresa é fácil de entender: o comércio é a alma da cidade, o que a move e garante seu funcionamento.
Conselheiro Lafaiete, ao contrário das outras cidades mineiras, não é conhecida por sua beleza histórica, ou suas atrações turísticas, nem mesmo por ser "palco" das grandes mineradoras que imperam no estado. A cidade tem como principal atividade econômica o comércio, tido como referência em toda a região da zona da mata mineira.
Em 2013, o jornal Estado de Minas já dizia: "Conselheiro Lafaiete é ideal para abrigar um centro comercial". Segundo levantamento feito pelo Ibope Inteligência a pedido da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), naquele ano Lafaiete tinha uma demanda de consumo anual estimada em R$1,05 bilhão, considerando os 11 municípios de influência no entorno da cidade. Hoje, com certeza esses números são bem maiores. Por isso, além de surpreender a população, o fechamento dos estabelecimentos comerciais preocupou as entidades responsáveis, que passaram a temer um colapso econômico na cidade.
Na tentativa de superar essas adversidades, muitas soluções criativas têm surgido por parte dos comerciantes do município. Supermercados, com o intuito de conter aglomerações, estão entregando as compras em casa e se juntaram a algumas lanchonetes e restaurantes na divulgação dessa nova forma de serviço. Lojas dos mais variados tipos estão atendendo por delivery; há um número em que você informa o que deseja e seu produto é entregue em casa. E há também os estabelecimentos que estão funcionando como drive-thru; apenas uma "portinha" fica aberta, e através dela são feitos os pedidos e realizadas as entregas das compras.
Criatividade e reinvenção são as palavras da vez, e é assim que Ivone Albuquerque vai tentando administrar a joalheria e relojoaria no centro da cidade. "Eu tive que me dividir. Estou indo sempre na loja, fotografando os produtos e enviando para os clientes. Normalmente o cliente escolhe pelo WhatsApp ou pelo Instagram a partir das fotos que eu envio. Eu passo o preço e eles fecham comigo. Eu entrego na casa deles ou eles retiram comigo aqui em casa", relata a empresária.
Assim como outros comerciantes da cidade, Ivone colocou todos seus funcionários em férias coletivas: "Não temos intenção de estar fazendo demissão, a gente está tentando fazer de todas as formas para manter a equipe", conta a empresária.
A demissão em larga escala é a grande preocupação do empresário Aloísio Rezende, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Conselheiro Lafaiete (CDL). Segundo ele, muitas empresas já estão demitindo, muitas estão fechando e as que sobreviverem vão enfrentar um grande retrocesso. "Alguns comércios trabalham com delivery, outros que não trabalhavam passaram a utilizar. Vamos trabalhando com delivery e com a divulgação nas redes sociais. Porém não são todos que conseguem. Aqueles que não conseguem estão correndo muito risco, até mesmo de falência, o que gera o desemprego", relata Aloísio.
Mesmo com todas essas tentativas de solução, os resultados estão longe de ser os melhores. Na visão dos comerciantes da cidade, além de o isolamento social impedir a ida dos clientes às lojas, são muitos os que deixam de comprar pois ainda não receberam o salário ou estão com medo de não receber.
"Às vezes eu converso com dez a 20 pessoas ao dia, enviando foto, mandando preço e tudo mais, e consigo concretizar quatro vendas com produtos mais baratos. Muita gente está analisando muito para comprar. Então, isso tudo está sendo uma cadeia, a gente tem que se virar de verdade e tentar suprir nesse momento o que seria o mais importante, que seria a folha de pagamento dos nossos colaboradores", diz Ivone.
Para o presidente da CDL, isso tudo é um ciclo sem fim. "Se você tem desemprego, não tem consumo. Não tendo consumo, as lojas vão vender menos e assim vai, é o ciclo. Se não tem consumo, não tem desenvolvimento. É o capitalismo, a roda tem que girar".
Aloísio prevê que o comércio vai demorar a recuperar o movimento de antes, e a palavra do futuro para os lojistas é reinvenção. "Quem sobreviver vai ter que achar o melhor caminho para poder se reinventar, para poder se manter, porque infelizmente o impacto econômico já está sendo alto e, quanto mais tempo demorar, maior vai ser o número de empresas que vão falir", diz o dirigente.
Diante disso, a melhor coisa a se fazer no momento é o que Ivone e vários outros comerciantes estão fazendo: uma junção entre criatividade e e disposição para se adequar às circunstâncias.
Um vírus. Sua disseminação pelo mundo. Uma pandemia. Tendo o seu primeiro caso datado entre novembro e dezembro de 2019 na China, a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, já atingiu mais de 5,6 milhões de pessoas no mundo, e matou cerca de 352 mil humanos até o momento. No Brasil, são mais de 390 mil casos confirmados e cerca de 24 mil mortes registradas.
Devido a sua velocidade de contágio, a medida mais eficiente contra a propagação do coronavírus é o isolamento horizontal – onde todos, inclusive os que não pertencem ao grupo de risco, devem permanecer em casa. Contudo, embora efetiva para conter a disseminação do vírus, essa forma de isolamento tem uma contrapartida dolorosa: com a economia virtualmente parada, é quase impossível escapar de uma recessão
De acordo o Relatório Focus, do Banco Central (BC) por exemplo, a expectativa de crescimento do PIB para este ano, que era de 2,1%, caiu para -4,11% por conta da restrição de circulação de pessoas e a consequente paralisação de diversos serviços no país. Além disso, com o fechamento do comércio, muitas pessoas deixarão de trabalhar e, logo, não receberão seus salários.
Frente a isso, medidas como as de disponibilizar um auxílio emergencial, a exemplo do que está sendo feito pelo governo federal, são consideradas fundamentais para dar algum tipo de suporte, mesmo mínimo, à população mais vulnerável, e para fazer a economia continuar rodando com algum nível de consumo.
O economista Marcio Pochmann, professor da Unicamp e ex-presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), entende, entretanto, que “essas medidas se mostram insuficientes, favorecendo a flexibilização do isolamento social, dado que a população situada na base da pirâmide social brasileira não dispõe de alternativas que não sejam com o seu próprio trabalho em vias públicas e tendo contato com o fluxo de pessoas”.
Esse auxílio, que ainda não tem um nome fixo mas é conhecido como renda básica emergencial ou auxílio emergencial, está sendo pago pela Caixa Econômica Federal a trabalhadores desempregados, autônomos, informais, microempreendedores individuais e beneficiários do programa Bolsa Família. Outros requisitos para receber esse valor por mês é ter uma renda mensal individual de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou até três salários mínimos na família (R$ 3.135). Serão pagas três parcelas de R$ 600 para cada pessoa que tiver seus dados aprovados.
Bruno Lavieri, economista graduado na PUC-SP e que hoje trabalha na 4E Consultoria, destaca que “dada [a] vulnerabilidade dos autônomos durante o período de isolamento, trata-se de uma medida de enorme importância para que um número grande de famílias possa manter sua subsistência”. Além disso, Bruno ressalta que essa renda também será importante para movimentar a economia nesse período. “Do lado econômico, impede-se uma interrupção mais brusca do consumo, o que tende a aliviar os impactos negativos sobre parte dos setores mais prejudicados pela paralisação.”
De acordo com a Dataprev, empresa de processamento de dados do governo, até o dia 14 de abril 50 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial da Caixa, totalizando cerca de R$ 35,5 bilhões de créditos disponibilizados pelo governo. Até o momento, 97 milhões de brasileiros solicitaram os R$ 600. A solicitação deve ser feita através do aplicativo “Caixa / Auxilio Emergencial”.
Desemprego
A Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE, que acompanha a movimentação trimestral e a evolução a curto, médio e longo prazo de dados socioeconômicos no país, reúne informações que ajudam a entender a quantidade de pessoas que talvez precisem da renda emergencial.
Segundo números relativos ao trimestre encerrado em março, a taxa de desocupação (desemprego) é de 12,2%, 1,1 ponto percentual a mais do que no trimestre anterior (outubro - novembro- dezembro 2019), que fechou em 11,0%. Hoje, o Brasil tem 12,9 milhões de pessoas desempregadas.
Em relação aos trabalhadores informais, a última edição da pesquisa revelou que o país tem 36,8 milhões de pessoas na informalidade. Isso corresponde a 39,9% da população. Outro dado que a Pnad levanta diz respeito a quem trabalha por conta própria, os autônomos. A pesquisa do IBGE mostra que, hoje, o Brasil tem 24,5 milhões de pessoas nessa condição.
Um desses trabalhadores autônomos é o corretor de imóveis Dorival de Melo, 62 anos. Ele foi uma das 24 milhões de pessoas que receberam o auxílio do governo. De acordo com ele, os R$ 600 vieram em um bom momento. “Essa renda será essencial para que as contas do mês fechem, ou pelo menos fiquem mais perto de fechar. Principalmente porque, com a quarentena, os negócios simplesmente pararam de acontecer. Faz cerca de um mês e meio que não consigo fechar nada”, destaca o corretor.
Dorival mora com a esposa e um dos filhos em casa. Segundo ele, o filho trabalha como estagiário e continua recebendo integralmente seu salário mínimo, e a esposa, que está de home office, também continua ganhando o salário integral, mas agora sem benefícios como VR (vale-refeição), VA (vale-alimentação) e VT (vale-transporte). O corretor de imóveis diz que a renda emergencial será utilizada para pagar, principalmente, o aluguel do apartamento e a faculdade do seu filho.
Bruno Lavieri, da 4E Consultoria, comenta que a decisão de como utilizar o dinheiro vai depender muito das necessidades da família. Algumas destinarão o auxílio integralmente às despesas com alimentação. Outras, como a família de Dorival, vão priorizar outros itens. “É provável que a maior parte desse recurso seja despendido em alimentação, mas o fato de o benefício ser oferecido em dinheiro, em oposição a vouchers de fato, garante ao beneficiário a liberdade de gastar como bem entender.”
A pandemia de Covid-19 tem prejudicado muitos setores da economia. Um dos mais atingidos pelo isolamento social e a falta de consumidores é o comércio. As feiras livres, por exemplo, que antes recebiam um grande número de clientes todas as semanas, registraram uma brusca queda do movimento após o início da quarentena. Diante disso, os feirantes tentam achar estratégias para sobreviver à crise sem tantos estragos.
É o caso de Sandro Quintal, de 55 anos, proprietário de uma banca de legumes e verduras Ele conta que, desde o início das medidas de isolamento social, as vendas caíram 40%. Para evitar uma redução maior, apostou suas fichas no serviço de delivery, entregando nos bairros do Itaim Bibi, Liberdade, Higienópolis, Jardim Paulista e Bela Vista.
“É importante para que os clientes mais debilitados e no grupo de risco não precisem correr o risco de contrair a doença ao sair de suas casas para ir à feira e também é importante para nós, feirantes, para mantermos a clientela e a satisfação deles”, diz Sandro.
O feirante afirma que a banca continua funcionando normalmente, com cuidados adicionais de higienização para a proteção dele, de seus funcionários e dos clientes. Sandro trabalha com suas duas filhas, que também o auxiliam nas entregas.
Sônia Ribeiro, de 54 anos, que faz entregas de hortifrúti nos bairros do Morumbi e Interlagos, afirma que seus produtos sempre foram vendidos em embalagens a vácuo, o que facilita a higienização pelos clientes. Sônia diz que “fica mais fácil para o cliente higienizar quando chegar em casa e evita algum tipo de contaminação”.
Uma pesquisa do Sebrae feita entre os dias 16 e 17 de março de 2020 e obtida com exclusividade pelo jornal SP1, da Rede Globo, mostrou que, dos 1.500 proprietários de empresas de todo o estado de São Paulo, seis em cada dez empreendedores se mostram preocupados com o coronavírus e oito em cada dez acreditam que serão afetados de alguma forma. Ainda segundo a pesquisa, quatro em cada dez empresários afirmam que irão adotar medidas para evitar prejuízos, como aumentar a higienização dos ambientes e informar os funcionários e frequentadores sobre a doença.
Adriano Roberto Mandarini, de 44 anos, dono de uma banca de frutas que realiza entregas em todos os bairros de São Paulo, diz que as vendas caíram consideravelmente, impactando os lucros. Com isso, o trabalho de divulgação e entrega em domicílio teve de ser redobrado. “Muitos clientes passaram a ficar só em casa e não frequentam mais as feiras, principalmente aqueles com mais de 60 anos, que costumavam ser o maior público. O movimento caiu muito”, conta.
Para se adaptar ao novo modo de vendas, Sandro Quintal faz a divulgação por meio do Facebook e do Instagram, além de grupos de WhatSapp formados por clientes do bairro. Para ele, é uma forma de alavancar as vendas e manter a boa imagem do negócio junto aos consumidores, a fim de não ter perda de clientes após a pandemia.
As entregas são feitas de carro pela sua filha mais velha, já que alguns pedidos grandes não teriam como ser entregues somente por ele.
Tanto Sandro quanto Sônia e Roberto estão tentando se adaptar às limitações para não deixar de pagar seus funcionários, que estão sendo de fundamental importância para as entregas. Após a pandemia, os três pretendem continuar com o serviço de delivery, que entendem como uma boa estratégia para melhorar os lucros e fortalecer a imagem do negócio.
Mesmo gerando uma doença, o surto mundial do coronavírus impôs um cenário que extrapola em muito a discussão médica. Isolamento social, lockdown, paralisação de indústrias, afastamento de funcionários, demissões e suspensão de contratos de trabalho têm convocado a sociedade civil, o Estado e o setor privado para lidar com a sobrevivência no mundo em crise.
A necessidade de adoção de políticas públicas para ajudar até mesmo o setor privado tem levantado a questão: será que a pandemia está mostrando que o neoliberalismo está obsoleto? Até nos Estados Unidos, país com forte política liberal, o governo liberou cerca de US$ 2 trilhões para conter os impactos da crise. Para o economista e professor da pós-graduação da PUC-SP Ladislau Dowbor, “os governos liberais estão descobrindo que, sem o Estado, as coisas simplesmente não funcionam”.
No Brasil, desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, o país vem sendo guiado por medidas de austeridade e viés mais liberal, como a reforma trabalhista e os cortes em educação, cultura, saúde e outros setores sociais. Agora, para conter os impactos da crise, o governo federal liberou R$ 147,3 bilhões para a proteção dos mais vulneráveis e para a manutenção dos empregos.
“Na América Latina, o projeto neoliberal foi muito ferrenho. No Brasil, nos últimos três anos, a política neoliberal avançou em larga medida. O grande teste que a gente está vivendo aqui está acontecendo agora”, diz a doutora em economia política e professora da PUC-SP Camila Kimie Ugino.
O professor de economia Claudemir Galvani, também da PUC-SP, pondera que o neoliberalismo pode sair dessa crise enfraquecido, mas não derrotado. “Isso quer dizer que, assim que ele tiver uma oportunidade, vai colocar os tentáculos para fora”, avalia.
Mas o professor acredita também que a sociedade será mais sábia após a crise e que vai depender dela, da imprensa e das lideranças globais aproveitarem o enfraquecimento do sistema e fazer pressão para a adoção de políticas econômicas mais keynesianas, ou seja, com uma participação maior do Estado. “Além só do autointeresse, [é preciso] ter também o respeito à sociedade”, afirma Galvani.
Ele argumenta que distribuição de renda e medidas voltadas para os mais vulneráveis são algumas das ações que podem ser exigidas. “Na pior das hipóteses, é só esperar o momento adequado e o neoliberalismo volta outra vez ao que a gente conhece”, completa o professor.
Já Ugino é mais pessimista. A economista comenta que o Fed (Banco Central dos Estados Unidos) anunciou que irá imprimir dinheiro infinitamente para conter os danos da crise e emprestar para trabalhadores e empresas.
“Na crise de 2008, isso funcionou. A dinâmica financeira salvou. Havia espaço para a absorção desses títulos, desse dinheiro. Hoje, o mundo já está inundado disso. Se não houver política econômica que garanta consumo, que garanta empregos, o mundo vira uma panela de pressão. O que adianta dinheiro se eu não tenho que comprar? Esse dinheiro está nas mãos de quem? O ganho financeiro é possível, mas não é pra todos”, afirma.
De acordo com Ugino, outro ponto a ser considerado é a forma como a sociedade parou de discutir as possibilidades reais de os governos desenvolverem políticas públicas para ajudar pequenas e médias empresas e manter os empregos. “Isso é impressionante. Nem o risco iminente de que podemos morrer nos leva a discutir esse tipo de coisa.”
A professora acredita também que esta política do Fed poderia sinalizar que o neoliberalismo está em risco, mas ele não é apenas um sistema econômico, é uma ideologia. “Essa ideia de que flexibilizar trabalho é bom, não prestar contas para o meu chefe, não ter horário a ser cumprido... É a lógica da uberização”, afirma.
Camila diz ainda que essa forma de pensar faz com que os indivíduos deixem de se enxergar apenas como trabalhadores e passem a se enxergar como capital, reproduzindo discursos como: “meu sucesso depende exclusivamente de mim”. Por isso, a economista acha que a crise não afetará o sistema econômico, pois ele é mais do que isso: é um discurso que foi aceito.
Imagem da capa: “Occupy Wall Street” | Talk Radio News Service | Sob a licença CC BY-NC-SA 2.0 - Creative Commons. Link: https://www.flickr.com/photos/10438873@N04/6230946175