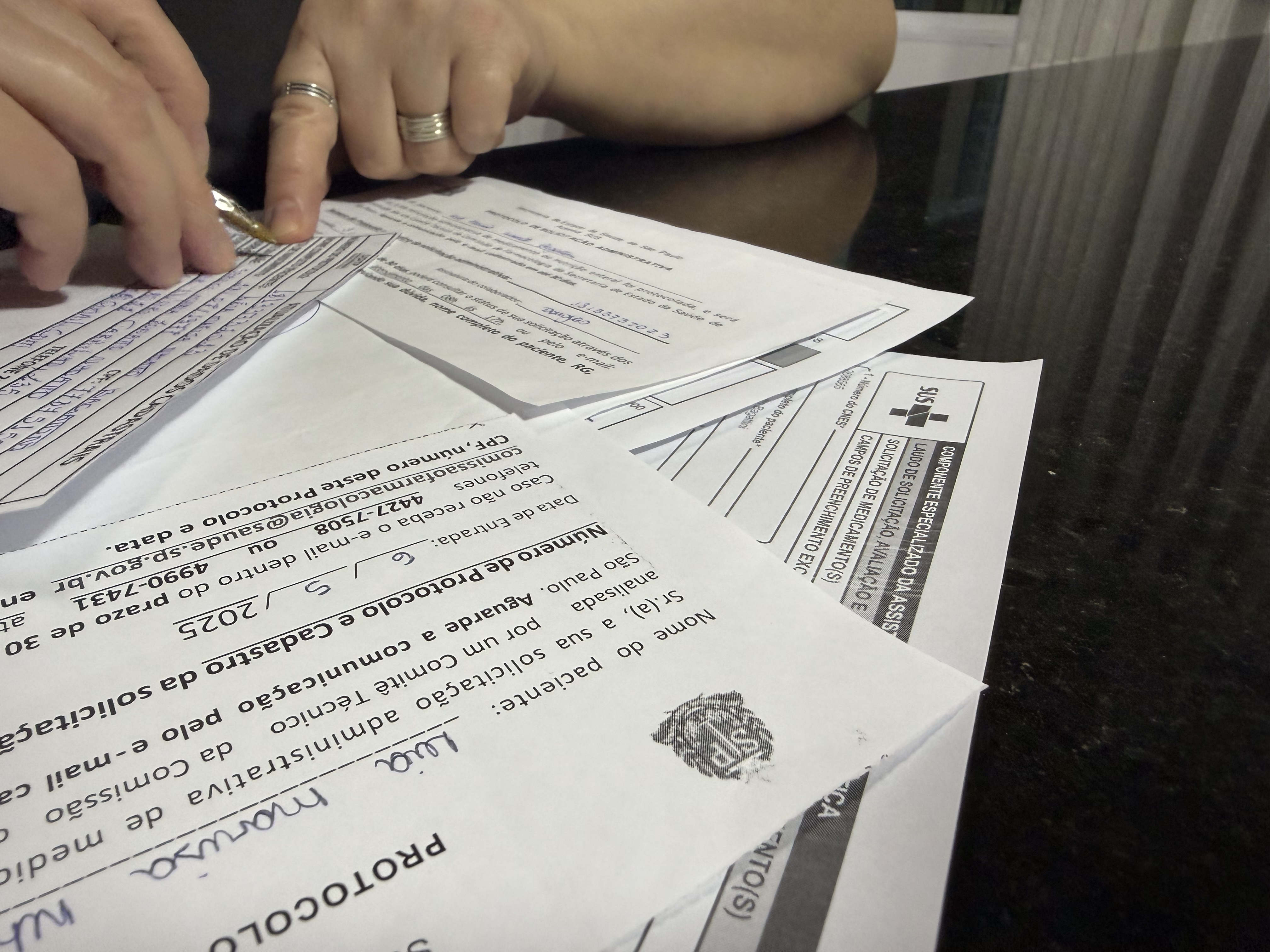A pandemia teve início em dezembro de 2019 e, desde então, vem trazendo muitos problemas ao mundo do trabalho. A saúde mental é um deles. Pesquisa de 2020 realizada pela Workana, plataforma voltada para o trabalho remoto, mostrou que 43,7% dos trabalhadores distribuídos entre Europa e América já sofreram sintomas relacionados a problemas de saúde mental durante a pandemia.
Desse total, 24% tiveram dificuldades de concentração, 13,2% sofreram com ansiedade, 5,2% sentiram solidão e 0,8% tiveram que lidar com depressão e claustrofobia.
Os principais motivos que contribuem para essa situação são o home office, a impossibilidade de manter hábitos antigos, a adaptação às novas ferramentas de trabalho e a preocupação com os danos que o vírus pode causar em pessoas próximas.
As pessoas estão tendo que conciliar a vida particular com o trabalho, e isso, se não for bem controlado, pode ser muito prejudicial. O home office trouxe o ambiente da empresa para dentro de casa, fazendo com que as demandas pareçam não ter fim.
Gilberto Pamplona da Costa, professor de Geografia há mais de 30 anos, viu sua rotina mudar no último ano. “Comecei no home office em março de 2020, logo que a pandemia começou. Por mais que tenha a facilidade de não ter que me deslocar pela cidade, tive que lidar com novas rotinas, novos horários, além do cansaço das telas, que foi uma novidade para mim.”
Segundo
A psicóloga acha que o home office veio para ficar. Além de ser uma tendência, muitas pessoas acham o sistema cômodo e prático. O grande problema foi o momento em que este modelo foi inserido, em meio à pandemia. Rosa entende que aos poucos os trabalhadores vão se acostumando com esse modo de trabalho, pois ele irá se tornando comum.
Principais doenças e o prejuízo à economia global
Depressão e ansiedade aparecem como as principais doenças que afetam trabalhadores na pandemia. Foi o que apontou pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com a Universidade de Valência (Espanha), o hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Segundo a pesquisa, realizada entre abril e maio de 2020, 47,3% dos trabalhadores de serviços essenciais do Brasil e da Espanha apresentam sintomas das duas doenças. Desse total, 27,4% sofrem
Neste cenário, as mulheres são as que mais sofrem com problemas emocionais, segundo estudo conduzido pela equipe do neuropsicólogo Antônio de Pádua Serafim, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP entre maio e junho do último ano. Elas são responsáveis por 40,5% dos sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse.
O estudo, que contou com 3 mil voluntários de diferentes regiões do Brasil, não mostrou um motivo específico para as mulheres serem as mais afetadas, mas acredita-se que as tarefas domésticas e a atenção dada aos filhos, associadas ao trabalho, são fatores fundamentais. Por outro lado, mulheres que moravam sozinhas e que não tinham filhos também foram afetadas.
O reflexo desse momento conturbado acaba gerando muitos danos à economia. Só em 2020 foram registrados no Brasil 576 mil pedidos de afastamento do trabalho por conta de transtornos mentais, 26% a mais do que em 2019. Os dados são da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
Em nível global, o impacto é ainda mais chocante: US$: 1 trilhão por ano é o valor estimado para o custo das principais doenças mentais à economia global, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).
Como isso vem sendo tratado?
A saúde mental também pode ser evidenciada ao observar uma maior atenção por parte dos empresários em relação ao tema. Entre as dez maiores tendências da área da psicologia para 2021, aparece a movimentação de empresas em busca de ofertar recursos destinados à saúde mental dos trabalhadores, conforme apontou a pesquisa realizada anualmente pela American Psychological Association (APA).
No Brasil, algumas empresas perceberam que cuidar dos seus funcionários seria um fator essencial para unir a equipe e evitar que a produção despencasse. Uma das que se movimentaram nesse sentido foi a Atrial Saúde, distribuidora de insumos médico-hospitalares. No ano passado, os colaboradores participaram de reuniões online com duração de 30 minutos para discutirem assuntos relacionados ao bem-estar e à qualidade de vida. As reuniões aconteciam semanalmente e trouxeram muitos temas importantes.
A Vittude, plataforma digital que oferece serviços de psicologia online, vem percebendo muito bem essa postura das empresas frente ao tema. Só em 2020 a receita da plataforma cresceu 540%.
Todas essas informações mostram muito bem o quanto a situação é delicada, e que o vírus é apenas um dos problemas dessa fase. Para que todos passem por isso tranquilos, é melhor procurar maneiras de manter a mente saudável.
Foto da capa: José Luis Navarro
A quebra das patentes, nome popular dado à chamada licença compulsória, voltou a ser debatida com a escassez de vacinas e medicamentos para tratamento da Covid-19. No dia 29 de abril, o Senado aprovou a autorização para que as licenças desses produtos sejam exigidas pelo governo, ampliando as opções de produção. O projeto ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados.
Ao mesmo tempo em que a pauta é analisada internamente, no âmbito internacional, diversos países junto à OMC (Organização Mundial do Comércio) buscam agilizar a quebra de patentes firmando um acordo entre Estados que possuem empresas produtoras de vacinas. Diferente da posição adotada pelo Congresso até aqui, o Executivo brasileiro declarou ser contra a medida, destoando de outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como a África do Sul e a Índia. Durante as conversas, os Estados Unidos, historicamente contra a quebra de patentes, mudaram de posição e sinalizaram apoio à proposta que pode tornar a distribuição de vacinas mais equilibrada. A maioria dos laboratórios detentores da tecnologia está situada no país norte-americano e na Europa.
Embora a solução se apresente como uma saída viável para o momento de exceção, há outros fatores a serem considerados, como os impactos gerados na economia após uma quebra de expectativas e projeções. Rafael Bianchini, doutor em direito comercial e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, explica que as empresas farmacêuticas serão afetadas negativamente, dando como exemplo a queda nas ações dessas indústrias após a sinalização de concordância com a quebra de patentes por parte do governo americano. Apesar disso, o economista ressalta que o mais importante a se analisar é a tendência deixada ao mercado, mirando uma recuperação global que, a longo prazo, pode ser mais benéfica para as empresas do que a manutenção do domínio sobre as tecnologias em contrapartida a uma baixa taxa de vacinação ao redor do mundo.
O direito à propriedade intelectual é o cerne da discussão do ponto de vista jurídico e nele estão apoiados aqueles que discordam da aplicação do método. Apesar disso, Bianchini aponta que a prática é legal e que não se trata de uma liberação de qualquer patente industrial, o que de fato geraria um descontrole no mercado. Além disso, na lei brasileira constam casos de exceção, como em uso abusivo do direito de patentes, que liberam a licença compulsória.
O posicionamento brasileiro, ao passo que o governo estadunidense abandonou a ideia de manter as restrições de propriedade intelectual, se torna cada vez mais injustificável, “uma completa insanidade”, segundo o economista. Ao revisar o alinhamento dos países, Bianchini os separa entre aqueles que possuem indústrias capazes de produzir as vacinas e aqueles com médio ou baixo capital e capacidade de produção nula. Sendo assim, os países que não contam com os elementos necessários para produzir seus próprios medicamentos não têm nada a perder com a licença compulsória, enquanto os que se enquadram no primeiro grupo teriam, em um primeiro momento, uma perda significativa no rendimento de suas empresas e, consequentemente, no PIB. O Brasil, embora possua o Instituto Butantan e a Fiocruz, até o momento ainda depende de insumos e tecnologia estrangeira, aproximando-se de países emergentes como Índia e África do Sul, que inclusive foram responsáveis por iniciar o processo junto à OMC.

Outro fator a ser analisado com o licenciamento compulsório é o incentivo à pesquisa. Desde o início da pandemia foi possível notar uma corrida entre grandes laboratórios pelo desenvolvimento de uma vacina, tanto que diversas opções de imunizantes já estavam em fase final de testes no segundo semestre de 2020. A pesquisa em casos como esse é incentivada em grande parte pela possibilidade de lucro com a venda dos produtos resultantes do trabalho científico. Até mesmo a eficácia, número de doses necessárias para atingir a imunidade e condições de armazenamento serviram para dar vantagens a certas fabricantes na hora da compra em relação aos concorrentes.
Bianchini sugere que o sistema de saúde global, baseado nesse esquema de pesquisa, talvez não seja o mais adequado, uma vez que o dinheiro investido na compra de tecnologias e patentes estrangeiras poderia ser utilizado para fomentar a pesquisa no próprio país, gerando um retorno no âmbito econômico e da ciência e trazendo maior independência. A pesquisa científica também tem o Estado como grande investidor. Segundo o economista, há uma ilusão ao acreditar que somente o setor privado é responsável pelo desenvolvimento. “No fundo quem coloca mais dinheiro, quem arca com os riscos são os Estados, afirma Bianchini, qualificando o Estado como “um enorme investidor”. Ressaltando que, embora trabalhe no Banco Central, as opiniões de Bianchini não refletem o posicionamento da instituição.
Em um panorama geral, a quebra das patentes não significa somente vantagens ou desvantagens para os países e laboratórios produtores de vacinas. A economia pode se recuperar, inclusive superando lucros que deixaram de ser obtidos com a perda da exclusividade da tecnologia, com um ambiente mais propício no mercado global. Do ponto de vista epidemiológico, também não se pode descartar a possibilidade do surgimento de novas cepas com a vacinação lenta, o que pode prejudicar a eficácia dos imunizantes e levar até mesmo os países mais adiantados, como Estados Unidos e Israel, a uma nova crise. Bianchini ressalta que uma mudança no cenário global é a melhor solução para aplicar o licenciamento compulsório, alertando que o posicionamento rígido do Brasil “cada vez mais perde sentido”.
Foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil
Após uma forte recessão em 2020, as perspectivas para a economia mundial são mais otimistas neste ano. O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta alta de 6% para o Produto Interno Bruto (PIB) do planeta. No ano passado, o indicador caiu 3,3%. Entre as razões para a melhoria está o avanço da vacinação contra a Covid-19, embora desigual entre os países.
Para 2022, o FMI prevê uma evolução de 4,4%. Com a recuperação, o comércio de bens e serviços no mundo vai se expandir em 8,4% em 2021 e 6,5% no próximo ano. Entre os países que cresceram em 2020, a China terá um PIB 8,4% maior em 2021.
Em relação à zona do euro, onde a campanha de vacinação está atrasada, o órgão calcula que o crescimento será de 4,4% neste ano e avalia que a retomada foi prejudicada pela necessidade de adoção de medidas restritivas em diversos locais para frear a disseminação do coronavírus. Para o Japão, o fundo estima uma elevação de 3,3% em 2021.
Brasil
O FMI prevê um crescimento de 3,7% para o Brasil, mas destaca que as projeções dependem da evolução da crise de saúde. Analistas financeiros consultados pelo Banco Central acreditam que o PIB brasileiro aumente em 3,4%. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre a inflação em 2021 é de 3,32%, abaixo da meta prevista, que é que é de 3,50%.
Ano passado, a economia brasileira sofreu uma contração de 4,1%, uma queda expressiva porém menos intensa que a esperada no início da pandemia. De acordo com o FMI, no segundo semestre de 2020, o Brasil foi beneficiado pela recuperação do setor manufatureiro.
O auxílio emergencial fornecido pelo governo ajudou a manter a atividade econômica até certo ponto, mas, quando o pagamento da assistência foi suspenso, houve um impacto na produção e no consumo.
O alto índice de desemprego e falências de empresas durante a pandemia, as demissões de ministros da Saúde, os problemas logísticos que impedem um maior avanço no programa de vacinação da população, resultaram em mais de 450 mil vidas perdidas no Brasil, aumento da instabilidade política e desgaste da imagem do presidente Jair Bolsonaro, além de diminuir os investimentos externos no país. Todas essas questões agravam o cenário de crise econômica, sanitária e política atravessado nacionalmente.
Para a economista e colunista da Uol, Yolanda Fordelone, a combinação de diversos fatores dita o ritmo de recuperação de cada lugar. “O primeiro ponto é por quanto tempo o país terá de conviver com a contenção da Covid-19. Países que estão em patamares mais avançados de vacinação e que respeitaram o isolamento social tendem a encurtar o tempo de convívio com a doença em seu estágio mais grave. Além disso, o tamanho de apoio público no combate à crise também é relevante. O auxílio foi diferente em cada território e, assim, veremos retomadas em ritmos distintos. Por fim, a recuperação é influenciada pela capacidade de gestão pública de problemas sociais que surgiram, como a fome e o desemprego. Do ponto de vista político, nós brasileiros vivemos um período conturbado e com gestores despreparados para lidar com todas as questões”, argumenta.
Na visão de Yolanda, a economia brasileira está estagnada e, como se não bastasse, ameaçada pela inflação. “No Brasil, já temos visto um aumento da taxa de juros para tentar conter a inflação. O cenário é de mais altas da taxa básica (Selic) e uma aceleração da alta dos preços, muito por conta de itens básicos como alimentos. A pressão de baixa oferta de produtos devido às paradas da economia em conjunto com o aumento de demanda após a reabertura de alguns países tem influenciado esta alta. Caminhamos para uma situação de estagflação: crescimento estagnado acompanhado de inflação”, explica.
A especialista prevê um processo lento de recuperação. “ Acredito que a crise terá um impacto na economia por alguns anos. Não é possível dizer que teremos uma volta à normalidade, pois muitos hábitos irão se alterar, como ambientes de trabalho, presença mais forte do e-commerce, aceleração de uso de tecnologias de ensino à distância e deslocamentos populacionais para fora das grandes cidades. Tudo isso impacta no nosso dia a dia e, portanto, na economia”, destaca.
A recuperação será desigual ao redor do mundo
Segundo o professor de relações internacionais da PUC-SP Bruno Huberman, “o desempenho das economias industrializadas e desenvolvidas, que têm capacidade tecnológica para produzir seus próprios imunizantes e equipamentos de proteção individual, e instituem políticas eficientes de combate à Covid-19, como China, outras economias da região asiática, além da Austrália e Nova Zelândia, será melhor e essas nações têm mais condições de sair de maneira mais rápida da crise”.
O professor afirma que países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França, apesar de terem sido bastante impactados pelo vírus, fazem altos investimentos no combate à pandemia e podem se restabelecer em menor tempo”.
Para Huberman, se recuperarão mais facilmente e obterão um crescimento acelerado em 2021 “as nações que conseguem combater de formas mais eficientes o vírus e têm uma capacidade industrial produtiva voltada para o investimento em tecnologias para essa luta e para manter a roda a partir do próprio desenvolvimento nacional”. De acordo com Bruno, isso ocorre em um contexto de crise do mercado internacional, no qual há uma escassez de vários produtos devido à interrupção que o comércio tem sofrido pelo impedimento de tráfegos entre os países. Ele diz que as perspectivas positivas não valem para o Brasil, pois “não há uma capacidade produtiva instalada e nem combate ao vírus”.
“A pandemia revelou que as políticas de austeridade fiscal e desajuste do investimento do Estado em bem-estar social, como educação, saúde, industrialização, tecnologia, ciência, são altamente maléficas para a população. Países com maior intervenção do Estado na sociedade conseguiram um melhor enfrentamento do vírus e uma recuperação mais rápida. Um exemplo são os Estados Unidos, com o modelo de retomada econômica do presidente Joe Biden, com o anúncio de diversas obras de infraestrutura para absorver o capital e a mão de obra excedentes, gerando empregos”, reflete Huberman.
A previsão do FMI para a economia americana neste segundo ano de pandemia é de alta de 6,4%. A agilidade da vacinação e o pacote fiscal implementados pelo governo Biden promovem uma aceleração da retomada no país.
Segundo Huberman, é possível observar uma transformação no modelo de desenvolvimento econômico dominante no mundo. “Nas últimas décadas a gente viu a recuperação de um neoliberalismo ortodoxo fundado na política de austeridade fiscal e no ajuste fiscal, no enxugamento das atuações sociais do Estado, com o fortalecimento das atuações securitárias como a consolidação de forças militares. A principal consequência da crise atual para várias nações será a maior valorização do bem-estar social pelo controle do Estado nesse sentido, para garantir a sobrevivência da população, porque se todos morrem não há economia.”
“Muitos têm discutido o fim do neoliberalismo mas vejo mais uma transformação dessa vertente, com maior intervenção estatal. A lógica de austeridade fiscal máxima para o mercado ser o protagonista do desenvolvimento nacional vai perder a relevância. A elaboração da vacina da AstraZeneca, por exemplo, ocorreu com a maior parte de investimentos feitos com capital do governo britânico, não privado. O neoliberalismo radical, que é aprofundado no Brasil por Bolsonaro, está chegando ao fim, e o modelo passará a ser mais heterodoxo, daqui por diante, com as pessoas valorizando mais o bem-estar social e obrigando os governantes a valorizarem isso também”, avalia.
América Latina
Quanto à América Latina, de acordo com o relatório “Perspectivas da Economia Mundial”, o FMI espera um crescimento de 4,6% em 2021, o que equivale a menos que a média global, que é de 6%.
O FMI aguarda um crescimento de 5% para o México em 2021 e de 3% em 2022, e o Chile, Argentina, Peru e Colômbia devem ter uma expansão de 6,2%, 5,8%, 8,5% e 5,1%, respectivamente, neste ano.
A organização destaca que as nações que não garantiram vacinas suficientes para suas populações sofreram com mais prejuízos econômicos e os países que dependem do turismo terão uma redução de 1,5 ponto percentual no crescimento, que será de aproximadamente 2,4% em 2021.
Foto Ilustrativa: Freepik
Após um atraso de 110 dias e impasses com o Congresso, o Orçamento Federal de 2021 foi sancionado no limite do prazo pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com vetos e contingenciamentos nas pastas da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia – centrais para o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.
Para contornar o chamado “Orçamento inexequível” aprovado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal no fim de março, o presidente vetou R$ 10,5 bilhões nas emendas do relator, R$ 1,4 bilhão em emendas de comissão do Poder Legislativo e outros R$ 7,9 bilhões em gastos discricionários do Poder Executivo, além de bloquear R$ 9 bilhões em despesas previstas para este ano em vários órgãos federais. Com estes cortes, o governo abriu um espaço de R$ 28,8 bilhões no Orçamento.
De acordo com professora de economia da PUC-SP e especialista no setor de saúde Maria Cristina Sanches Amorim, os cortes se devem a dois grandes motivos. O primeiro deles é Lei do Teto de Gastos, aprovada em 2014 a partir da Emenda Constitucional 95 e conhecida pela oposição como "PEC da Morte". A proposição estabelece limites para os gastos governamentais por 20 anos, independentemente das necessidades da população. “Se rompido o teto, o Executivo estará mais vulnerável ao poder do Legislativo; se obedece à Lei, não consegue recurso para suas medidas, descontentando eleitores.”
O outro motivo é a composição política do Legislativo. “Expressando o poder de determinadas facções sociais, (o Legislativo) privilegia a redução de gastos, um suposto equilíbrio fiscal, em detrimento do bem-estar social”, aponta.
O texto original aprovado pelo Congresso subestimava os chamados gastos obrigatórios, como previdência e aposentadoria, mas ampliava o montante para as emendas, verbas para obras e programas escolhidos pelos parlamentares. Apesar dos vetos do presidente, parte da emenda foi mantida para agradar a base aliada.
Em meio à segunda onda da Covid-19 no país e alertas de uma terceira onda, a verba destinada à pasta da Saúde sofreu um corte de R$ 2,2 bilhões em relação ao Orçamento de 2020, primeiro ano da crise sanitária, totalizando o montante de R$ 125,7 bilhões. Na Fiocruz, empresa que produz a vacina Oxford/AstraZeneca no Brasil, três programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões.
Estes cortes afetam ações de enfrentamento à pandemia e o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial, já que os governos estaduais e municipais dependem de repasses do Ministério da Saúde para a aquisição de equipamentos e insumos para o fortalecimento da estrutura do SUS.
Para Amorim, a EC 95/2014 é o pano de fundo responsável pela redução dos investimentos no SUS. “Jamais se imaginou que justamente a instância constitucionalmente responsável pelo combate à pandemia escolhesse, deliberadamente, aumentar o contágio até atingir a imunidade de rebanho. Jamais houve compromisso do Executivo com a vacinação e adesão das pessoas ao distanciamento social. Ao contrário, gastou dinheiro com o "kit cloroquina" e incentivou aglomerações.”
A economista afirma que o governo agiu deliberadamente para ampliar o contágio usando a teoria de que esta era a forma mais rápida de imunizar a população e retomar as atividades econômicas. “Além da falha ética, errou tecnicamente, a pandemia não cede e a crise econômica há de se arrastar até o final de 2022”, diz.
Enviado por Bolsonaro ao Congresso, o Projeto de Lei Nacional (PLN 28/2020) apresentava verba para o Ministério da Saúde ainda inferior ao período pré-pandemia, R$ 119,1 bilhões.
No Ministério da Educação, R$ 1,2 bilhão foi vetado em despesas, distribuídas entre programas de universidades e institutos federais. Nos bloqueios, este foi o Ministério mais atingido, com R$ 2,7 bilhões em gastos suspensos.
Da pasta de Ciência e Tecnologia, o presidente Jair Bolsonaro cortou do Orçamento um total de R$ 372 milhões. Outros R$ 272 milhões foram bloqueados. Por conta do teto de gastos, os valores bloqueados só serão liberados se houver dinheiro para o pagamento ao longo do ano.
Enquanto recursos de combate à pandemia foram drenados do Orçamento, o montante previsto para as Forças Armadas foi inflado. Dos R$ 37,6 bilhões reservados para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, o Ministério da Defesa ficará com R$ 8,8 bilhões – 22% do total. O texto também manteve o reajuste salarial de militares, com um impacto estimado de R$ 7,1 bilhões.
Conforme Amorim, esses cortes são responsáveis pelo agravamento das desigualdades sociais e do recuo na materialização da cidadania. Neste cenário, o país não possui perspectiva de crescimento. “O PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, comparativamente a 2019. Essa queda é uma monstruosidade. Ainda que o PIB cresça, segundo estimativa, 3% em 2021, será apenas efeito estatístico, pois o total de riqueza produzido ainda estará abaixo do valor de 2014”, explica.
O projeto que deveria ter sido votado em dezembro de 2020 corresponde ao maior período em 15 anos que o país ficou sem um Orçamento. De acordo com a economista, o atraso se deve à incapacidade de negociação entre o Executivo e o Legislativo. “Não há de fato unidade política, mas interesses específicos de parlamentares, que são negociados caso a caso”, afirma.

O governo Bolsonaro foi eleito com um programa baseado na figura do economista Paulo Guedes e no discurso de enxugamento do Estado. Grandes expectativas se formaram na esperança da recuperação econômica. Entretanto, a pandemia caiu como uma pedra e muitas promessas de campanha, inclusive favoráveis ao mercado, sequer saíram do papel – nenhuma privatização até hoje se concretizou.
Desde o primeiro ano de mandato, o presidente insiste na tecla de que o governo não tem recursos. Em janeiro de 2021, mesmo após mais de 7 milhões de infecções e 197 mil óbitos pela Covid-19, Bolsonaro disse: “Chefe, o Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada”. Mas, para o economista e professor da FMU Marcos Henrique do Espírito Santo não é bem assim. “O Estado insiste na tese de que está sem dinheiro, o que é completamente falso. “O Estado tem capacidade de emitir moeda.”
A emissão tem limitações macroeconômicas, porém o cenário é tão crítico que, para o professor da FMU, justificaria uma ação como essa. “Não dá para emitir dinheiro a qualquer momento, mas em momentos como o que a gente vive, com uma economia completamente estagnada, seria ideal para fazer isso. Literalmente expandir a dívida pública para ter recursos e gastar enquanto o setor privado não está gastando”, aponta o economista.
O auxílio emergencial foi uma conquista para mais de 66 milhões de pessoas após a chegada da Covid-19. O valor proposto pelo governo, de R$ 200 mensais, foi fixado em R$ 600 somente após pressão da oposição. Medida possível graças ao ‘orçamento de guerra’ aprovado pelos congressistas, que abriu uma exceção para o governo gastar além do teto.
Os sucessivos erros e atrasos no enfrentamento à Covid-19 e a piora da situação social do país exigiram a continuidade do benefício, dessa vez nos valores de R$150 e R$ 375,00 definidos pela Câmara dos Deputados sob liderança de Arthur Lira (PP-AL), alinhado ao Planalto. Os novos valores resultarão em um gasto de R$ 44 bilhões, inferior aos cerca de R$ 295 bilhões dispendidos em 2020, de acordo com dados do TCU.
Para Camila Ugino, professora de ciências econômicas da PUC-SP, a nova versão do então chamado ‘corona voucher’ é simplesmente insuficiente. “A proposta do auxílio emergencial que a gente tem não condiz com a nossa realidade social, muito menos fiscal.”
O orçamento de 2021 foi sancionado no dia 23 de abril com cortes em áreas fundamentais, como educação (27%) e meio ambiente (24%). Menos de um mês depois, o jornal O Estado de São Paulo divulgou uma série de reportagens denunciando o esquema que destinou R$ 3 bilhões a parlamentares via emendas de relator, instrumento no qual relatores do projeto de lei orçamentária introduzem alterações, geralmente de caráter técnico. Porém, as reportagens demonstraram uma quebra das leis de impessoalidade, isonomia e transparência, e isso aconteceu às vésperas da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. As alterações feitas pela relatoria teriam beneficiado individualmente parlamentares, inclusive os da oposição.
Simultaneamente, no dia 13 de maio, uma portaria foi assinada pela Secretaria de Gestão e Desempenho do Ministério da Economia, permitindo o aumento, para além dos limites constitucionais, do salário de militares e reservistas e beneficiando, inclusive, o presidente e o vice-presidente da República. O aumento, de quase 70%, teve como justificativa a necessidade de “adequar o cálculo do teto remuneratório constitucional aos entendimentos do STF e TCU”. A medida custará R$ 66 milhões.
Ainda de acordo com o professor da FMU, a lógica neoliberal, do enxugamento do Estado e redução de recursos para áreas sociais, é totalmente insustentável. “A ideia de que o orçamento é mínimo parte do suposto neoliberal de que esse orçamento é limitado. O orçamento é uma peça de disputa política. Se a gente gastar pouco com a eliminação da pobreza é porque a gente escolheu politicamente isso.”
Vários países têm adotado medidas de resgate econômico e subsídio – em alguns casos antes mesmo da pandemia, para enfrentar o aumento das desigualdades. “O neoliberalismo está morto do ponto de vista teórico. Do ponto de vista da teoria econômica, ele não responde mais às exigências de um mundo novo, de alta tecnologia, do padrão 4.0”, afirma Marcos Henrique. Para o economista, o maior exemplo da presença do Estado como catalisador de avanço econômico é a China. Na visão de Marcos, o gigante asiático está “engolindo todo mundo”, e os Estados Unidos “sacaram” isso. “A China está se tornando gigante com metas de longo prazo, induzindo o empresariado, e os EUA vão fazer a mesma coisa. Eles fizeram isso no New Deal, eles fizeram isso após a Segunda Guerra Mundial”, acrescenta.
No país norte-americano, o governo Biden sancionou, em três meses à frente da Casa Branca, dois pacotes que somam US$ 4,15 trilhões – equivalentes a R$ 20,7 trilhões – para o enfrentamento à pandemia. O primeiro é um conjunto de recursos (US$ 1,9 tri) destinados às famílias mais pobres, incluindo extensão de seguro-desemprego e subsídio para planos de saúde. Entre as medidas, estão repasses aos estados e pagamento direto de US$ 1.400 à maioria dos americanos. O segundo pacote é um plano de investimentos em infraestrutura com fornecimento de internet nas áreas rurais do país, renovação de estradas e incentivo a pesquisa e desenvolvimento em energias limpas – financiado com o aumento do imposto corporativo.
Mas, no Brasil, a crença num modelo ultrapassado ainda é um entrave ao desenvolvimento. “Os meios mais eficientes para sair dessa cr0069se é romper essa lógica. Tem que romper com o discurso da Faria Lima, é preciso tirar o monopólio econômico. O Estado é um agente indutor fundamental. Ninguém se desenvolveu e se tornou gigante sem o Estado”, aponta o economista.
Na avaliação de Marcos Henrique, é preciso que haja um governo forte e que não esteja refém da burguesia brasileira, que, segundo ele, vive há 40 anos da exportação para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Enquanto o governo precisa conter as despesas previstas, maiores que a receita, o Congresso, hoje com maior força, também exige sua fatia. “Se eu vou aumentar a despesa com os parlamentares, eu tenho que diminuir gastos com investimento e políticas sociais para poder fechar o orçamento com déficit pequeno, eu tenho que diminuir dos investimentos com gastos sociais”, afirma o economista Claudemir Galvani, professor de teoria econômica da PUC-SP.
“A dívida tem o limite que passa pelo Congresso. Na verdade, o governo (brasileiro) está muito preso ao Congresso, por isso é importante o governo ser forte. Hoje o presidente não tem nem partido”, afirma Galvani. Outro erro é o teto de gastos, estabelecido pela Emenda Constitucional 95, encaminhada pelo governo Michel Temer e promulgada pelo Senado em 15 de dezembro de 2016, que congela gastos públicos por 20 anos.
De acordo com Marcos Henrique, limitar o gasto público e colocar essa regra na Constituição foi uma violência, uma estratégia irracional do neoliberalismo, que posiciona a economia acima da política. E, assim, nenhum governo poderá alterar essa lógica mesmo que tenha sido eleito com projetos de aumento do gasto do Estado para a ampliação do desenvolvimento.
Para os economistas entrevistados, o caminho para sair da crise é ter uma responsabilidade fiscal sustentável, uma reforma tributária justa e que adote a progressividade – os impostos incidem proporcionalmente à renda do cidadão –, e uma reforma administrativa que reduza os gastos com o funcionalismo público, além de investimentos em educação, saúde e ciência. As urnas têm papel fundamental nisso.
Crédito da foto: A Fome Voltou. Lambe lambe em muro na Avenida Paulista, altura da rua Haddock Lobo. São Paulo, SP. 16 de abril de 2021. Foto: Roberto Parizotti/FotosPublicas. Disponível em: https://fotospublicas.com/a-fome-voltou-lambe-lambe-em-muro-na-avenida-paulista/