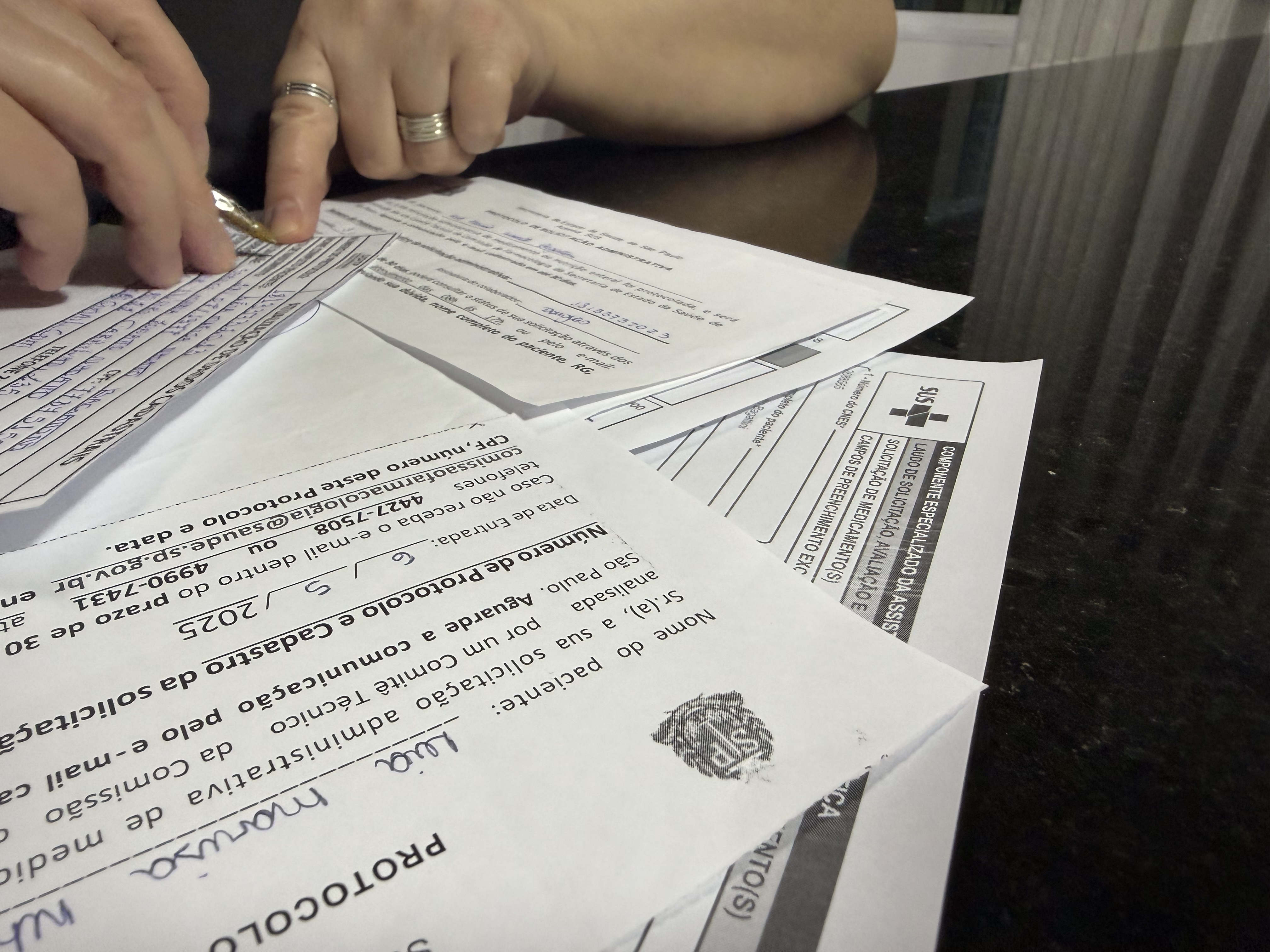Por Nicole Domingos
O Carnaval, que se vende como festa e se compra como tradição, não é apenas desfile de rua, batuque de samba ou fantasia improvisada. É também uma virada de chave para o comércio, que transforma a purpurina em faturamento. Em janeiro de 2024, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), publicou que o ano de 2025 movimentaria mais de R$9 bilhões, reforçando seu posto como uma das datas mais rentáveis do calendário econômico. Na contabilidade da festa, cada rua cheia de foliões é também um corredor de consumo. As farmácias que dobram as prateleiras de protetor solar, os supermercados que multiplicam o estoque de bebidas, as lojas de fantasia que expõem brilhos e lantejoulas como se fossem joias de temporada. Roberto Devidis, representante de vendas para armarinhos e lojas de customização na rua 25 de março, considera que o carnaval é uma espécie de Natal fora de época.
Nos bastidores da festa, empresários calculam margens, fornecedores disputam espaço nas prateleiras e pequenos comerciantes fazem de cada esquina uma oportunidade. Para Marlene Batista, dona de loja de armarinhos, não existe nenhum período em que cresce as vendas como nesse tempo. Ela diz que antes mesmo da virada do ano já recebe pedidos de escolas de samba, tanto de produtos para a confecção dos carros, quanto para as roupas que serão usadas na avenida. Além disso, o carnaval cria um ambiente de consumo que vai além da festa. Aumenta o fluxo em bares e restaurantes, multiplica reservas em hotéis e aplicativos de hospedagem, movimenta aplicativos de transporte, gera impacto até nos varejos de eletrodomésticos, com vendas de caixas de som, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. A folia, nesse sentido, extrapola o sambódromo e se infiltra em cada detalhe da vida cotidiana.
O ambulante que vende água, cerveja e todo tipo de bebida no bloco, a costureira que aceita ideias improvisadas de fantasias, o maquiador que tem que sempre ter uma ideia nova e cores vibrantes, todos compõem a cadeia econômica do carnaval. Em uma reportagem postada pelo Ministério da Cultura fica claro como não só os empresários com suas lojas têm a oportunidade de garantir uma boa renda, mas também aqueles que precisam de momentos como esse para sobreviver, como ambulantes que trabalham com eventos sazonais.
Outro ponto relevante é a geração de empregos temporários. Segundo a revista Forbes, a folia deve impulsionar, ainda, o mercado de trabalho, com a criação de 300 mil postos temporários, no interior e no litoral do Estado de São Paulo. O coordenador do Núcleo de Pesquisa da Fhoresp, Luís Carlos Burbano, destaca que esses empregos geram renda imediata para as famílias, contribuindo para a dinamização da economia local. Para muitos trabalhadores, o Carnaval representa a chance de garantir uma renda extra no início do ano. Essa circulação de dinheiro não apenas aquece os centros urbanos, mas sustenta muitas famílias que, durante os quatro dias de festa, encontram mais renda do que em meses inteiros de trabalho formal.
O contraste, no entanto, se mantém: se o brilho é abundante nas grandes cidades turísticas, os municípios sem tradição carnavalesca mal percebem a onda econômica. O comércio local, nesses lugares, vê pouco ou nenhum aumento expressivo nas vendas. Em pesquisas são sempre mostradas locais como o Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Minas Gerais. É como se o Carnaval, enquanto festa, fosse universal, mas enquanto motor econômico fosse seletivo. Ainda assim, mesmo de forma desigual, a festa gera reflexos nacionais, movimentando cadeias de produção que alcançam diferentes regiões.
No fim, a conta é simples: o País veste fantasia, mas o comércio veste números. O carnaval continua sendo um dos maiores espetáculos do mundo, já que a matéria da Forbes explica que lugares com a fama do Rio de Janeiro atraí não só turistas brasileiros como também internacionais para a festa. E de acordo com Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico do Núcleo de Pesquisa da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), o Carnaval está cada vez mais consolidado no calendário de eventos dos turistas estrangeiros.
Na soma final, não se trata apenas de quatro dias de festa, mas de um ciclo econômico que começa semanas, ou até mesmo meses antes, se prolonga depois da Quarta-feira de Cinzas e reafirma a festa como um patrimônio não só cultural, mas também econômico do Brasil.
Por Victória da Silva
Núbia Santos, de 50 anos, trabalha e encanta a vizinhança com a venda de variados pratos feitos em sua casa, como cuscuz, tapioca, panqueca, caldos e açaí. Moradora de Guarulhos, ela é uma entre milhares de pessoas que ganham a vida na informalidade econômica. Depois de trabalhar em uma tapiocaria e o patrão vender o local, teve a ideia de abrir seu negócio. A mulher que não acreditava muito em si, viu na insistência de colegas de trabalho e do próprio chefe, a possibilidade de conseguir o sustento em casa. O talento que as mãos carregam foi distribuído em diversos alimentos, quando viu que a clientela gostava dos pratos. Começou com a culinária nordestina, que é da onde nasceu, e através da tapioca e do cuscuz, ela deu origem ao “Cantinho da Tapioca”.
Foi o bom tempero da mulher negra e baiana que encantou o paladar das pessoas ao seu redor. Os últimos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), revelam que em sete anos (2016-2022) o perfil que predomina a categoria de trabalho informal são homens negros e mulheres negras, como Núbia. Esse tipo de trabalho informal ganhou força e tem crescido cada vez mais no Brasil, sustentando muitos brasileiros atualmente. De bolos de pote até marmitas para o almoço, o modelo de negócio se tornou uma solução para aqueles que enfrentam dificuldades no mercado.
A venda de Núbia acontece pelo tradicional “boca a boca”, em que aqueles que gostam dos alimentos recomendam para parentes e amigos, e assim os produtos chegam em outros ambientes além da rua em que a mulher mora. A cozinheira também realiza a entrega de panfletos e divulga pelo aplicativo WhatsApp, maneiras que muitas dessas pessoas utilizam para disseminar o seu negócio. Ela conta que não faz propaganda dos alimentos em outras plataformas digitais, porque a venda acontece independente desse meio.
Parte significativa dessa população encontra no comércio de pratos feitos em casa uma fonte rentável ou até mesmo complementar. Além de atender o público em busca de praticidade, muitos consumidores valorizam o sabor “feito em casa”, associado à qualidade e ao afeto. Redes sociais e aplicativos de entrega também desempenham papel fundamental, permitindo que microempreendedores alcancem clientes fora do círculo de conhecidos.
A guarulhense defende a ideia de que não compensa colocar o seu trabalho na plataforma Ifood, devido às taxas de venda em cima dos produtos. Além delas, a plataforma também aumenta os preços dos alimentos. Uma tapioca simples que Núbia vende por R$6,00, no Ifood custa R$15,00.

A facilidade de começar o negócio com baixo investimento, a possibilidade de conciliar a produção com outras atividades da casa e a demanda crescente por refeições rápidas e acessíveis têm impulsionado essa prática. Na casa de Núbia, moram ela, seu marido e seus dois filhos. A filha da cozinheira também ajuda na produção dos alimentos e, assim, a família consegue conciliar as tarefas. Embora a quantidade de pedidos seja agradável, principalmente em horários de pico, como o almoço, a trabalhadora diz que não consegue se sustentar com o lucro procedente das vendas. Para isso, o marido José Dias também sustenta as contas da casa e ela faz outros dois trabalhos por fora, sendo cuidadora de crianças e montadora de peças.
O mesmo acontece com dona Vera, de 73 anos, que - ao contrário de Núbia - vende alimentos caseiros na porta da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). A senhora chama a atenção dos estudantes com seus brownies e docinhos, como brigadeiros e beijinhos, além da doçura como aborda cada aluno. Vera também não consegue se sustentar apenas com a venda, mas faz os doces pela paixão em cozinhar. Seu jeito encanta os estudantes, quando em suas caminhadas são interrompidos pelo “Bom dia queridos!”. A doce senhora não vai apenas pela manhã para a universidade, mas também no entardecer, sendo uma das figuras mais conhecidas da Rua Monte Alegre. Apesar disso, ela ainda exerce essa atividade como um complemento de renda.
Para além das narrativas que revelam a criatividade e resiliência de muitos brasileiros, a falta de regulamentação ainda é um desafio enfrentado por trabalhadores que não possuem registro como microempreendedor individual (MEI), o que dificulta o acesso a crédito, capacitação e segurança previdenciária. Alguns não criam por escolha própria, outros por medo de não conseguir alavancar as vendas e vingar no modelo de trabalho. O faturamento anual exigido para se sustentar como um microempreendedor ainda é muito alto e foge da realidade dos cidadãos brasileiros.
No entanto, políticas públicas voltadas para a formalização desse setor poderiam fortalecê-lo, gerando mais estabilidade para quem hoje depende exclusivamente dessa renda. Enquanto isso, histórias como a de Núbia que permanece vendendo tapiocas em seu bairro, ou de Vera, que viu na produção de brownies uma boa forma de passar o tempo, continuarão a se multiplicar Brasil afora e se consolidam como alternativas financeiras para o orçamento familiar.
Por Pedro Bairon
Em 30 de setembro de 2022, Burkina Faso, no coração do Sahel africano, assistiu a uma nova virada política. O capitão Ibrahim Traoré, então com 34 anos, liderou um golpe militar que depôs o presidente de transição Paul-Henri Sandaogo Damiba ligado aos interesses políticos e econômicos franceses. Desde sua ascensão ao poder, Traoré tem reconfigurado o posicionamento do país no cenário internacional, adotando uma retórica e políticas de cunho nacionalista e desenvolvimentista, distanciando-se de antigas influências ocidentais. Aliado a isso, promoveu uma aproximação estratégica com Mali e Níger, unindo forças na chamada Aliança dos Estados do Sahel (AES), como parte de uma nova arquitetura de segurança coletiva e solidariedade regional, com forte ênfase em ideais pan-africanistas e na afirmação da soberania nacional.
O país africano, assim como tantos outros, passou por um processo de colonização extremamente violento, neste caso conduzido pela França. Antes conhecido como “Colônia do Alto Volta”, Burkina Faso sofreu a imposição de estruturas políticas e econômicas voltadas a servir os interesses europeus, com exploração intensiva de recursos e marginalização das populações locais. A presença colonial intensificou-se no final do século XIX e estendeu-se até 1960, quando, em meio à onda de independências africanas, o país conquistou formalmente a soberania.
A ruptura não significou de imediato a superação das dinâmicas neocoloniais. Nas décadas subsequentes, o país manteve relações assimétricas com antigas potências europeias e com os Estados Unidos, dependência que restringiu sua capacidade de formular políticas próprias de desenvolvimento. Foi nesse contexto que, em 1983, emergiu a liderança de Thomas Sankara, jovem capitão que assumiu o governo com um programa de transformação social profundo. Ele rebatizou o país como “Burkina Faso”, ou “Terra dos homens íntegros” implementou reformas em saúde, educação e reforma agrária, defendeu a emancipação das mulheres e tornou-se símbolo do pan africanismo e da resistência ao imperialismo, até ser deposto e assassinado em 1987. Décadas mais tarde, novas lideranças passaram a reivindicar esse legado. Desde 2022, sob Ibrahim Traoré, observa-se um esforço explícito para se apropriar da memória e das bandeiras de Sankara, reposicionando a narrativa nacional em torno da soberania e do fortalecimento do Estado.
Desde a ascensão de Ibrahim Traoré ao poder, Burkina Faso tem apresentado sinais consistentes de recuperação econômica e social, consolidando avanços em setores estratégicos e reconfigurando sua posição regional. Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial revelam que o Produto Interno Bruto (PIB), que havia registrado crescimento modesto de 1,8% em 2022, avançou para 3,6% em 2023 e acelerou para 4,9% em 2024, impulsionado sobretudo pelos setores de serviços e agricultura, beneficiados pela melhora na segurança, condições climáticas favoráveis e políticas governamentais de incentivo ao setor agrícola.
A estabilidade de preços constitui outro indicativo relevante do desempenho econômico. A inflação anual, que atingiu 14,1% em 2022, caiu para 0,7% em 2023, segundo o Banco Mundial, refletindo maior previsibilidade para o consumo e a atividade econômica. Em 2024, a inflação subiu para 4,2%, sobretudo devido a aumentos nos preços dos alimentos, mas mantém-se dentro de um patamar controlado, compatível com uma economia em consolidação.
O rigor na gestão fiscal também se destaca neste contexto. O déficit fiscal, que representava 10,7% do PIB em 2022, reduziu-se para 6,7% em 2023 e atingiu 5,6% em 2024, resultado da combinação de controle disciplinado dos gastos públicos e incremento na arrecadação. Paralelamente, o déficit da conta corrente apresentou melhora, recuando de 8,0% do PIB em 2023 para 6,4% em 2024, impulsionado, em grande medida, pelo aumento das exportações de ouro. Segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento dos BRICS, a política de nacionalização e refinamento do ouro, incluindo a construção da primeira refinaria nacional com capacidade para processar 400 kg por dia, representa uma estratégia clara de soberania econômica, reduzindo a dependência da exportação de minério bruto e ampliando a arrecadação estatal.

O setor agrícola tem sido alvo de políticas intensivas que visam à autossuficiência alimentar e ao fortalecimento do setor primário. Foram distribuídos mais de 400 tratores aos agricultores, e em março de 2025 foi inaugurada a primeira fábrica estatal de laticínios, Faso Kosam, com planos de expansão. Essas ações refletem o compromisso do governo em atender às necessidades materiais da população, garantindo o abastecimento interno e fomentando a produção local.
A redução da pobreza extrema acompanha esse ciclo de crescimento e políticas públicas. O Banco Mundial registra uma diminuição de 3 pontos percentuais, para 23,2% em 2024, especialmente nas áreas rurais. Considerando o contexto histórico, a pobreza extrema havia recuado de 83% em 1990 para 27,7% em 2023, indicando uma trajetória de progresso que o governo de Traoré procura acelerar.
A segurança interna, condição indispensável para o desenvolvimento sustentável, também tem apresentado avanços notáveis. Segundo a AES, em agosto de 2025, Burkina Faso recuperou 72,7% de seu território do controle de grupos armados, que segundo o Ministério da Defesa de Burkina Faso, contavam com financiamento de lideranças ocidentais, contra 70,89% em dezembro de 2024. A retomada gradual da administração pública e a reabertura de atividades econômicas, como a mina de Bongo, contribuem para o restabelecimento da normalidade social e econômica, criando condições para a continuidade do crescimento e da redução da pobreza.
O conjunto dessas medidas está organizado dentro do Plano de Ação para o Desenvolvimento e Estabilização (PASD 2023-2025), que contempla um orçamento de 12,4 bilhões de dólares e prioriza combate ao terrorismo, resposta à crise humanitária e reconstrução do Estado. Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento dos BRICS: “o financiamento do plano combina recursos internos, subvenções e empréstimos estratégicos, demonstrando a busca do governo por autonomia financeira e estabilidade de longo prazo.”
Sob a liderança de Traoré, Burkina Faso constrói assim um cenário de recuperação econômica e social robusto, apoiado em políticas que articulam segurança, soberania econômica e desenvolvimento inclusivo, junto com pesados investimentos em infra-estrutura feitos pela China e Russia. A trajetória do país evidencia a importância de uma estratégia coordenada, capaz de integrar crescimento econômico, estabilidade de preços, controle fiscal e fortalecimento do setor primário, enquanto reafirma sua independência em relação às dinâmicas tradicionais de dependência financeira internacional.
Mesmo em um período relativamente curto, é possível observar transformações significativas na realidade de Burkina Faso, evidenciando avanços palpáveis tanto para a população quanto para a economia nacional. Essas mudanças refletem não apenas políticas públicas eficazes, mas também uma gestão comprometida com a soberania alimentar, a recuperação econômica e a melhoria das condições de vida da população.
Segundo dados do Banco Mundial, a taxa de extrema pobreza no país diminuiu para 23,2% em 2024, representando uma redução de 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse declínio é particularmente notável nas áreas rurais, onde a implementação de programas agrícolas e a distribuição de recursos têm proporcionado um alívio significativo para as famílias mais vulneráveis. Além disso, a retomada das atividades econômicas locais, como feiras, mercados e pequenas produções rurais, tem permitido que milhares de burquenses retomem sua rotina produtiva e o acesso a bens essenciais, fortalecendo a economia comunitária, muito comum ao longo do regime de Sankara.
O professor e doutor em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Marcos Dantas ressalta que ás políticas nacionalistas norteadas por uma perspectiva pan-africana são fundamentais para um desenvolvimento das capacidades produtivas ao longo dos anos. Essas medidas adotadas por Traoré, evidenciam de maneira inequívoca a necessidade de África se tornar um continente independente, livre das amarras neocoloniais. Além disso, o governo de Burkina Faso tem investido substancialmente em iniciativas para garantir a segurança alimentar. Em 2025, foi lançado um plano de US$ 981 milhões focado na produção local de alimentos, visando reduzir a dependência de ajuda externa. Esse investimento inclui a distribuição de sementes, fertilizantes e equipamentos agrícolas para os produtores locais, fortalecendo a capacidade do país de atender às suas próprias necessidades alimentares.
Essas ações refletem o compromisso do governo com o bem-estar da população e com o desenvolvimento sustentável do país. O presidente Ibrahim Traoré, reforçou essas políticas em um discurso recente na capital do país, afirmando que um povo só poderá dizer que de fato é independente quando a comida plantada em território nacional consiga alimentar sua própria população.
Essa visão orienta as políticas implementadas que buscam não apenas resolver crises imediatas, mas também estabelecer as bases para um futuro próspero e autossuficiente para Burkina Faso, se desligando das amarras neocoloniais de muitas formas. Além de medidas práticas, o governo também demonstrou preocupação em nortear essa nova “independência” por um prisma simbólico. Recentemente, no dia 8 de setembro, Traoré retirou o francês das línguas oficiais do país aderindo formalmente a 4 idiomas locais, demonstrando que a preocupação, com o que o próprio chama de “retomada da honra”, não advém apenas do campo prático.
O Banco Central (BC) divulgou nesta segunda-feira (18) os dados do IBC-BR (Índice de Atividade Econômica do Banco Central do Brasil) referentes ao mês de junho. Os números mostraram uma queda de 0,1% em relação a maio, mas o resultado do segundo trimestre de 2025 se manteve positivo, com um crescimento de 0,3%. O IBC-BR é um dos indicadores oficiais da economia brasileira. Ele faz uma estimativa de crescimento levando em conta três setores: agropecuária, indústria e serviços. O índice foi criado para trazer números frequentes sobre a atividade econômica do Brasil e tem influência sobre as decisões financeiras do país, servindo de auxílio para políticas monetárias, como a taxa de juros (Selic).
Por exemplo, quando a taxa de juros está em patamares elevados, isso reduz a atividade econômica, o que se reflete nos números do indicador. Por isso, atualmente, ele é lido pelo mercado como a "prévia do PIB".

Retração da economia
Após quatro meses seguidos de bons resultados, maio registrou a primeira retração do ano, de 0,7% em relação a abril. Em junho, a queda foi de 0,1%. De acordo com o professor de economia Renan Silva, do IBMEC Brasília, "a alta deu-se devido à Selic, que chegou ao patamar de 15%”. Ele explicou que "o que corrobora para essa questão da taxa de juros restritiva é o fato de que os indicadores de inflação vêm arrefecendo. No último relatório Focus, do Banco Central, o IPCA já registra uma inflação, em 2025, de 4,95%, ante os 5,30%, que as projeções vinham indicando”.
Os dados oficiais do Banco Central confirmam que a agropecuária foi o principal fator para a retração no trimestre, com uma diminuição de 3,1% no período. Por outro lado, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) aponta que o destaque de junho foi o aumento de 0,3% no volume do setor de serviços. A produção industrial teve um recuo de 0,1% no mês, e as vendas no varejo também frustraram as expectativas, recuando 0,1% em comparação a maio. Sob a óptica do professor, o tarifaço de Donald Trump pode trazer efeitos adversos e "provocar uma redução intensa no segundo semestre”.
Nos últimos 12 meses, os números ficaram em 3,9%, o que representa uma desaceleração em face ao mesmo período, que marcou uma alta de 4,04%.
Para o futuro, Silva acredita que a retração na atividade econômica pode influenciar o COPOM (Comitê de Política Monetária) - órgão responsável por estabelecer as diretrizes da política monetária - a iniciar um novo ciclo na queda dos juros. "Esse ciclo restritivo já teve efeito, o que gerou como resultado a redução na atividade econômica”, conclui. A retração de 0,6% no terceiro trimestre de 2023 havia sido a última queda do indicador antes dos recuos registrados neste ano.
O IBGE divulgou nesta terça-feira (12) o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação do país. Os dados apontam que houve um aumento de 0,26% no mês de julho, uma leve alta em comparação com a taxa de 0,24% registrada em junho. No ano, o IPCA já acumula desaceleração de 3,26% e, nos últimos 12 meses, de 5,23%.
De acordo com o gestor de investimentos e especialista financeiro da WFlow, Guilherme Viveiros, a inflação surpreendeu positivamente. "O índice deste mês veio com o valor de 0,26%, enquanto o mercado via uma elevação de 0,36%". O mês de agosto também deve apresentar queda, com índices negativos o que, segundo Viveiros, "fez com que o mercado começasse a sondar uma possível queda dos juros ainda em 2025".
Entre os setores da economia que apresentaram deflação, ou seja, queda de preços, estão o grupo Alimentação e bebidas (-0,27%), Vestuário (-0,54%) e Comunicação (-0,09%). Em contrapartida, entre os maiores destaques da alta estão os grupos Habitação (0,91%) e Despesas Pessoais (0,76%). A alta do grupo Habitação foi impulsionada pela energia elétrica residencial, com variação de 3,04% - o maior impacto individual no índice do mês. Esse número se deve ao fato de que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou a bandeira tarifária de agosto, que será a Vermelha patamar 2, a mais cara do sistema. Como consequência disso, haverá um acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos na conta de luz.
O grupo Transportes também teve aceleração, passando de 0,27% em junho para 0,35% em julho, impulsionado pela alta de 19,92% nas passagens aéreas. Por outro lado, os combustíveis tiveram uma queda de 0,64% no mês, com recuos no preço do etanol (-1,68%), do óleo diesel (-0,59%), da gasolina (-0,51%) e do gás veicular (-0,14%).
Já o grupo Alimentação e bebidas, que tem o maior peso no IPCA, registrou baixa pelo segundo mês consecutivo. A queda em julho foi impulsionada pela alimentação no domicílio, que caiu 0,69% com destaque para redução nos preços da batata-inglesa (-20,27%), da cebola (-13,26%) e do arroz (-2,89%).

Rafael Prado, economista e analista de macroeconomia da Go Associados, chama a atenção para o fato de que o valor da inflação deste mês ainda é elevado em relação à meta de 4,5% ao ano. Segundo ele, o resultado deste mês é prova de que a política monetária pode atuar de maneira enfática nos dados. "Quando nós olhamos para os números desagregados do IPCA, vemos que existem grupos, como Habitação que foi impactado pela energia elétrica, que influenciaram para o aumento de julho". Para ele, isso ressalta a importância de "continuar com uma política monetária restritiva, para que a inflação continue caindo e volte ao intervalo de tolerância."
Já o professor de economia João Gabriel Araújo, do Ibmec Brasília, destaca o efeito Trump na economia brasileira. Segundo ele, a guerra tarifária vai ser um dos fatores determinantes para a queda dos preços no Brasil. "Com o anúncio das medidas para o Brasil, especialmente a tarifa de 50% sobre as importações, os produtores nacionais aumentaram os estoques para o mercado interno, reflexo da diminuição das exportações para os Estados Unidos antes da implementação da tarifa e do consequente aumento da oferta de bens no mercado doméstico".
O cálculo do IPCA foi realizado a partir da comparação dos preços coletados entre 1 e 30 de julho de 2025 com os preços vigentes entre 30 de maio e 30 de junho de 2025. O IPCA abrange famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários-mínimos. Já o INPC, que considera famílias com rendimento de 1 a 5 salários-mínimos, teve alta de 0,21% em julho, com acumulado de 3,30% no ano.