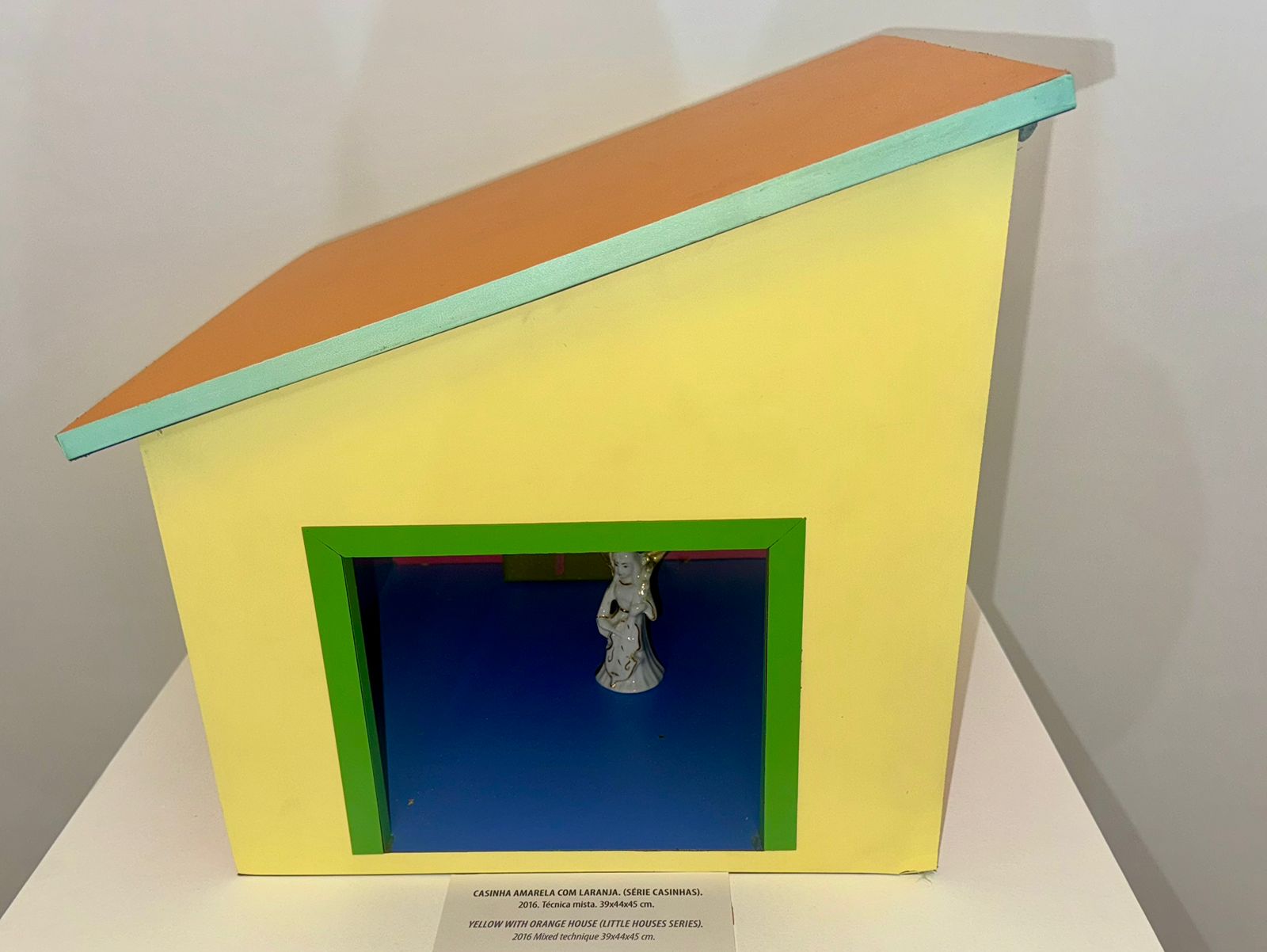O mês de junho, desde 2008, é o Mês da História do Povo Romani. A celebração, que ocorre em sua maior parte no Reino Unido, auxilia no combate ao preconceito e discriminação sofrida por esse povo. Através da conscientização, a data desafia os mitos e dá voz aos membros em geral.
Hoje, em pleno século XXI, os romanis ainda encontram dificuldades para sobreviver e viver em paz na maioria dos países, muitas vezes identificados como embusteiros e, até mesmo, ladrões. Embora as organizações internacionais e não governamentais tenham tentado melhorar os padrões de vida das comunidades roma em diferentes países, especialmente na Europa, a comunidade permanece em grande parte isolada da população em geral.
“Para mim, o Mês da História Romani é sobre capacitar nossa comunidade, olhando para nossa história de sobrevivência e como podemos continuar a prosperar mesmo depois de tudo o que passamos. Há uma visão geral do nosso povo de que olhar para trás não trará nada além de lembranças ruins do que passamos, e ter um mês dedicado à nossa história, nossas lutas e tudo o que introduzimos através de nossa cultura é incrivelmente importante. Isso mostra que somos um povo resiliente, não os estereótipos que as pessoas pensam de nós", afirma Olivia, romani de 22 anos, de Nevada (EUA).
Historicamente, existem diferentes formas de se referir ao povo romani, de acordo com as regiões que habitam. A origem do termo romani permanece incerta, mas remonta à segunda migração em torno do ano 500. Enquanto ao termo “cigano” vem dos nativos brancos europeus, que acreditavam que os imigrantes vieram do Egito - este termo é, muitas vezes, tomado como um insulto por parte de alguns membros da comunidade.
“Através dos séculos, os ciganos foram vítimas do isolamento e discriminação dos europeus nativos. Por exemplo, na Europa, foram submetidos a uma limpeza étnica, rapto de crianças e trabalho forçado. Na Inglaterra, os ciganos eram expulsos das comunidades, às vezes, pequenos ou eram até mesmo enforcados no início do século XIX. Na França, eles foram marcados tendo barbeadas as suas cabeças, na Morávia e Boêmia as mulheres foram marcadas tendo suas orelhas cortadas”, afirma Carla Cristina, pesquisadora em gênero, mulheres, condição social, relações sociais e políticas sociais, e doutora em Ciências Sociais.
Por que a representatividade dos rom é tão importante na mídia ?

Reprodução: Marvel Comics
Wanda Maximoff, popularmente conhecida como Feiticeira Escarlate, é uma super-heroína da Marvel Comics, criada em 1964 por dois escritores judeus, Jack Kirby e Stan Lee. Nascida em um acampamento romani, dentro de sua cultura e costumes, adotou o sobrenome Django Maximoff de seu pai em homenagem a duas lendas da cultura romani, Django Reinhardt e Matéo Maximoff.
Na adaptação da personagem para os filmes da Marvel Studios, Elizabeth Olsen, atriz branca e não pertencente aos roma, foi escolhida para dar vida à bruxa. Apesar de ser uma das super-heroínas mais poderosas no mundo dos quadrinhos, a escalação ainda gera, em especial nas redes sociais, debates em relação ao apagamento cultural e histórico da comunidade romani no mundo do entretenimento.
Em entrevista à AGEMT, membros da comunidade relataram suas experiências com as representações no meio cultural. "Acho importante elevar as vozes romani e mostrar às pessoas que não somos apenas criminosos ou que nosso futuro sempre será a pobreza. No ambiente cultural, isso mostra às pessoas que não somos uma cultura de ladrões, mas que somos capazes de ser heróis, de retribuir às comunidades externas e que não estamos perpetuamente presos à pobreza porque queremos", contou Itzel, 25 anos, do México. Maria Charlotte, neta de romani, também afirma que as representações perpetuam um ideal racista e estereotipado. "A maioria das representações que eu vejo na mídia, hoje em dia, são visões racistas do meu povo. Um exemplo disso é o personagem Dick Grayson, da DC Comics, que só sofreu o reboot como roma para ser hipersexualizado, ou até mesmo a adaptação extremamente ridícula de Buffy Caçadora de Vampiros, que constantemente bate na tecla de que romanis são sujos, sorrateiros e que vivem jogando maldições em gadjos. Claro que algumas representações funcionam, mas a maioria só leva estereótipos racistas sobre nós para a mídia.", relatou ela.
A eliminação da cultura romani é uma consequência dos anos de opressão sofridos pela comunidade durante o holocausto e os anos de linchamento por vários países. A representatividade faz com que as pessoas compreendam a discriminação e atrocidades cometidas contra o povo romani - que não duraram apenas décadas, mas centenas de anos - e se conscientizem em relação à essa problemática. Itzel também comenta que esse comportamento midiático menospreza sua cultura. “Eu vejo que a nossa cultura e identidade não são levadas a sério, sendo transformada em fantasia e tratada como uma piada. Não nos dão nenhum crédito pelo o que criamos - a menos que eles o associam ao crime -, então o apagamento é basicamente menosprezar nosso povo e nossa cultura; não somos bons o suficiente para uma representação precisa, basicamente.”
Personagens como Wanda e Pietro Maximoff, ou até mesmo Victor Von Doom, têm um papel importante para as produções culturais, pois contribuem para a diversidade das representações e quebram com o estereótipo racista. "Vejo muita importância em apagar estereótipos e redefinir nossa cultura através de nossas lentes. As pessoas sempre usam estereótipos e caem no racismo para se justificar, porque não temos representação. Na realidade, nunca temos a oportunidade de mostrar nossa cultura, nossa história e opressão através de nossa perspectiva. Também mostra a outros ciganos que eles não estão sozinhos. É importante mostrar nossa cultura através de nossos olhos para evitar racismo e estereótipos e elevar nossas vozes", explica Olivia. Maria Charlotte complementa: "[...] assim como toda representatividade de minorias étnicas, a representatividade romani serve para fazer as pessoas abrirem mais as mentes e nos aceitar mais."
Por Lucca Ranzani
A perda de um ente querido é uma situação horrível. A notícia é recebida com profunda tristeza, seguido pelo medo de viver sem a presença dessa pessoa. A morte de uma pessoa importante e querida causa uma grande mudança na vida das pessoas que acabaram ficando. Ela viverá somente nas lembranças e deixando saudades. O ambiente se torna mais vazio, mais silencioso e os planos futuros precisam ser alterados.
O luto é um estado emocional em que as pessoas enfrentam após a perda de um parente, amigo ou uma pessoa querida. Uma sensação de vazio começa a surgir e pensamentos de que a vida perdeu um pouco de seu propósito. Pode levar meses até anos para quem sofreu essa perda consiga se sentir melhor. A psiquiatra suíça- americana Elisabeth Kubler-Ross, precursora de pesquisas com pacientes vítimas de câncer e AIDS que estão em fase terminal, realizou um estudo da proximidade com a morte e acabou notando as cinco fases do luto que são eles:
-Negação (Não acreditar na perda e acaba lutando contra a realidade, negando que a pessoa próxima acabou morrendo.
-Raiva (A pessoa começa a ter atitudes de agressividade e de questionamentos raivosos, como “por que ela e não eu?” ou “por que a vida é assim?)
-Barganha (Tentativas de tentar negociar a volta do ente querido ou tentar fazer um acordo com a fé da pessoa para prolongar a vida desse ente querido que está gravemente doente)
- Depressão (Alto nível de tristeza junto de melancolia e solidão, isso pode acabar evoluindo para uma depressão se não for devidamente tratada)
-Aceitação (Após conseguir externar esses sentimentos ruins, a pessoa consegue seguir em frente, não é quando acaba a dor e a saudade porque isso irá continuar).
Segundo a médica, essas fases do luto são uma resposta emocional que se espera ter nessa situação. Assim, é preciso ser sentidas e externadas de maneira saudável para que as pessoas consigam ser capazes de lidar com essa perda de um ente querido. Quando esse luto não é bem tratado, o luto acaba se tornando um problema para a saúde mental e física, carreira, relacionamento, vida financeira, objetivos pessoais e entre outras áreas da vida. Isso pode acabar resultando em sentimentos de solidão, culpa, apatia, perda de identidade e até ideação suicida.
Para superar o luto, a psicóloga Esthefani Alves diz que é necessário elaborar a perda e refletir, compreender esses aspectos e situações que toda pessoa enfrenta, com o seguir em frente, à nova rotina sem a pessoa, são aniversários, datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais, natal e réveillon, onde infelizmente esse ente querido não estará mais presente no plano físico, ficando somente no plano espiritual.
Há questões da humanidade que jamais conseguirão ser respondidas, uma delas - por que dançamos? Será uma forma de comunicar o que não conseguimos colocar em palavras? Ou uma forma de se conectar ao mundo?
Por ser um meio entre o biológico e o cultural, a dança assim como a arte é um reflexo de nós, uma extensão do lugar que habitamos e do momento histórico em que vivemos. Para a bailarina da companhia de dança Ballet Stagium de São Paulo, Raffaela Scotti, a palavra dança “significa vida, e a vida é dança, não tem dissociação.” O corpo é um veículo genuíno de representatividade do interior e exterior, sendo assim a dança transforma-se em uma ferramenta de entendimento do mundo e da humanidade. “Não é que eu poderia viver sem a dança, não teria nenhum sentido estar em uma existência sem dançar”, reflete.
O século XX foi marcado por um período complexo, de rupturas, transformações e guerras, as consequências desses episódios refletiram diretamente na sociedade, na psique humana e nas artes. Em 1920 após a primeira guerra mundial, surge na Alemanha o movimento artístico conhecido como expressionismo, que busca exteriorizar o inconsciente humano. A dança foi influenciada por essa corrente e o coreógrafo Rudolf Laban promove uma pesquisa que explora a compreensão dos conflitos entre corpo e mente. “Apesar da gente querer fugir, também somos natureza, temos que aceitar o irracional”.
Em um breve espaço de tempo a Alemanha passa por duas guerras, o que deixa seu território arrasado sócio, político e economicamente. Nesse contexto, as teorias produzidas por Rudolf Laban caem no esquecimento, no entanto, a partir dos anos de 1970 retomam com os trabalhos da coreógrafa Pina Bausch, inserindo a dança-teatro que se fundamentava em uma dança que deveria ser experienciada, percebida e sentida.
Qualquer movimento pode ser dança: andar, amarrar os sapatos ou até olhar. “Eu não faço uma dança, estou sempre dançando. A dança é esse movimento de mundo que flui entre as coisas. Tudo é dança”, comenta. Os gestos simples do cotidiano são ressignificados para Pina Bausch, através da repetição tornam-se abstratos, ganhando outro sentido, um estatuto estético e social-crítico.
A personalidade, histórias e as vivências dos bailarinos permeiam todo processo de criação, expondo em suas obras um ser humano frágil, com dúvidas e inquietações. Para a coreógrafa o bailarino precisava ser consciente dos seus impulsos, se colocando à escuta de si mesmo e deixar que os gestos brotassem dessa conscientização. “Eu não tenho como fugir do que eu sou e a forma que vejo as coisas, única saída é me entregar por inteira”, conclui.
O processo constituía através de questionamentos individuais, na tentativa de problematizar e se aproximar das experiências subjetivas, e partir delas, propor uma retratação da realidade, fazendo com que o público se identificasse com o humano à sua frente. Nas palavras de Pina Bausch, suas criações são um “espaço que podemos encontrar uns aos outros”.
Afinal, o que te move? “Nem sei como explicar porque é algo tão óbvio e tão simples. É quando a pessoa fala de algo com brilho nos olhos de alguma memória de algo que viveu, uma história da vida dela, é quando fala de alguém que ama. É quando está por inteira, viva e pulsando. É isso que me move”.

O jornalista Nathan Fernandes foi vencedor do 40º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria texto por sua reportagem “A Síndrome do Preconceito”, onde abordou como o estigma contribui para o aumento da epidemia de AIDS, transmitida e causada pelo vírus HIV.
Na matéria, o jornalista Nathan Fernandes mostra que, hoje, quem vive com HIV e faz o tratamento de forma correta tem praticamente a mesma expectativa de vida de quem não tem o vírus. Além disso, é mais seguro transar com quem tem HIV e o controle do que com quem nunca fez o teste e não sabe sua sorologia. A medicina avança, mas a mentalidade em relação ao HIV e à AIDS continua na década de 1980 — o que só tem feito a epidemia aumentar.
⠀
Você poderia falar um pouco sobre sua jornada no Jornalismo? Sempre foi um sonho cursar a área? Sempre foi um sonho cursar a área. Desde muito cedo - acho que eu tava na sétima ou oitava série - eu já percebia que gostava muito de escrever. Na oitava série, um amigo me incentivou a montar um blog, tava na época dos blogs, né? Acho que era, sei lá, começo dos anos 2000, e eu criei meu primeiro blog, comecei a escrever, fazia algumas crônicas e assim fui percebendo que eu queria já, desde muito cedo, seguir por um caminho de escrita. Nessa época, eu cogitei o curso de Publicidade e Propaganda, até mesmo Direito, mas eu pensei: “Não, acho que o que mais tem haver é o curso de Jornalismo mesmo”. Só que ninguém da minha família é jornalista, eu sou da periferia de São Paulo, Zona Sul lá para o Capão Redondo e tal, e, para minha família, a área de Jornalismo é a mesma coisa de falar que você queria ser astronauta. Não conhecia ninguém, não era da área, para eles é que nem ser artista, tem que conhecer alguém e tal, então meus pais, no começo, não aceitaram muito, eles são contadores e queriam que eu seguisse mais por essa esse caminho. Como eles já estavam na área, falavam pra mim: “Não, segue esse caminho com a gente”. Eles têm um escritório pequeno de contabilidade e queriam que eu seguisse porque era o caminho mais seguro. Enfim, preocupação de pais, né? Eu fiz Escola Técnica (ETEC) e fiz também um curso técnico de Química, foi aí que eu percebi que se eu fizesse alguma coisa que eu não gostava - eu já sabia o que eu gostava - eu ia me ferrar muito. Então eu meio que peitei, falei que queria fazer Jornalismo e acabei seguindo por esse caminho. Quando eu decidi, meus pais - meio a contragosto - apoiaram, mas não ficaram muito felizes. Acho que eles só perceberam, só ficaram felizes e me apoiaram completamente quando eu ganhei o Vladimir Herzog pela primeira vez, em 2016. Foi aí que eles perceberam que era um caminho bom. No meu agradecimento do Vladimir Herzog eu falei isso, eu dediquei aos meus pais e comentei de como agora acho que eles percebiam.
E acho que eles tiveram a confirmação quando você ganhou o de 2018 também, né? Exato. [risos]
E falando sobre a reportagem de 2018, “A Síndrome do Preconceito”, de onde surgiu a ideia para essa reportagem? Foi uma ideia sua ou uma pauta previamente definida? Inclusive essa reportagem também tem o Prêmio de Jornalismo de Investigação em HIV da América Latina e Caribe, da UNESCO e AIDS HealthCare Foundation (AHF), que eu recebi lá no México. Essa reportagem partiu de mim, a Galileu já tinha passado um tempo desde a mudança da linha editorial e já estava focando mais em pautas sociais e que tivesse haver com direitos humanos e, bem nessa época, foi quando eu conheci um amigo muito próximo a mim que testou positivo para HIV e, depois disso, eu percebi que muita gente próxima já vivia com o vírus e eu não sabia, porque ela ainda é meio que um tabu, as pessoas não falam disso, né? Dependendo do lugar onde você trabalha, dependendo da sua família, se você falar isso, pode ser muito penoso, então me veio essa ideia, porque eu comecei a pesquisar sobre HIV e eu percebi que tinham algumas coisas erradas, na forma como algumas matérias eram feitas e a forma como algumas informações estavam sendo divulgadas. A ideia principal começou com uma reportagem do “Fantástico” sobre o “Clube do Carimbo'' que, na época, diziam que era um clube de pessoas com HIV e que saíam por aí infectando as outras pessoas - era meio que um pânico moral - assim, né? Tipo, “Cuidado porque tem gente aí infectando os outros de propósito", logo que eu vi a matéria - acho que o “Fantástico” dedicou duas reportagens (dois finais de semana), com matérias longas com mais de 7 minutos - pensei: “Nossa gente, mas é muito estranho”. Já me deu um insight. Eu gostaria de pesquisar mais sobre isso para entender. Conforme eu fui pesquisando, eu vi o quão grotesca era essa reportagem, o quão horrível, o quão desserviço era. Mas só percebi isso depois que eu comecei a apurar. A ideia principal foi me aprofundar nessa história do “Clube do Carimbo”, e, ao me aprofundar, eu descobri que tinha um universo de coisas assim para tratar e a reportagem veio daí. Partiu, principalmente, da minha vivência pessoal. Enfim, eu sou gay, né? E desde do início, pra todo mundo que é gay, tem esse fantasma do HIV, da AIDS e tal. E aí partiu, principalmente, por causa desse amigo, mas eu fui percebendo que a coisa era muito maior.
Qual é o objetivo principal dessa reportagem? Desmistificar o HIV e a AIDS como “uma doença gay” ou contrapor a reportagem do Fantástico? Depois que eu comecei a fazer a apuração, eu percebi que daria para fazer essa contraposição à reportagem do Fantástico e, conforme eu fui pesquisando, acho que os objetivos principais foram dois: mostrar que HIV e AIDS não é uma doença exclusivamente de homens gays, travestis e mulheres trans. O HIV infecta todo mundo, independente da orientação e do gênero. E o outro objetivo também vai mostrar que, dentro da comunidade LGBTQIA +, é também um tabu, e também é preciso falar, haja visto que, apesar de não ser um vírus que só infecta gays, travestis e mulheres trans, ele prevalece nessa comunidade. Então eram os dois objetivos principais, mostrar que é um vírus que infecta todo mundo, mas também mostra que dentro da comunidade é um assunto que precisa ser tratado e que as pessoas estão morrendo - é a parte da população que mais morre, que mais se infecta e é mais associado a isso -, então foi um pouco dos dois.
Durante o processo de apuração, de coleta de dados e relatos, algum momento, em especial, te marcou? Nossa, muitos. Muitos momentos especiais. A própria história do Gabriel, né? O Gabriel Estrela saiu na capa da reportagem e também assinou a reportagem comigo, porque ele já tinha um projeto na época - hoje ele não tem mais -, mas era um projeto no YouTube em que ele falava sobre o assunto. Nós dois assinamos a reportagem juntos, apesar de eu ter escrito e ter feito a maior parte, ele atuou como consultor. Tudo que saiu lá ele deu uma olhada antes para deixar harmonizado. A história dele me impactou muito, principalmente por ele, depois de ter descoberto, conseguir fazer disso um serviço, um trabalho, né? A história da Bruna Valim também, que eu acho incrível. Inclusive, a uns anos atrás, acho que no meio da pandemia, em 2020, ela morreu e eu escrevi também um obituário para ela, porque é uma mulher que tem uma história incrível e, além da questão do gênero dela - ser uma mulher trans -, tem a questão do HIV também, e ela fez isso tudo uma luta e conseguiu dar a volta por cima. Eu fiquei muito impactado com a história dela, eu fiz esse obituário também porque eu conhecia a história dela, eu vi o quanto era importante para comunidade e, quando ela morreu, eu não queria deixar passar em branco, então eu fiz um obituário, que saiu no site da Elástica, da Editora Abril. Tem a da Silvinha também. O marido dela morreu e deixou ela com os filhos. Uma das coisas que mais me impactou foi isso, ela ficar muito preocupada com os filhos. Ela tá desde os anos 90 vivendo com HIV e de uma forma linda, eu tive a oportunidade de encontrar com ela várias vezes depois da reportagem e ela é sempre feliz, sempre sorridente, sempre falando, é uma simpatia de pessoa. Então, acho que todas as histórias que eu fui conhecendo foram me impactando de alguma forma.

Você continua mantendo contato com os entrevistados? Eu passei a conhecer muitas pessoas do movimento de HIV e acabei me colocando no meio também, apesar de eu não escrever especificamente só sobre isso, essa reportagem me colocou aí no meio dos direitos humanos e das questões LGBT. Hoje, eu faço um trabalho com a Conectas, que é uma das maiores ONGs da América Latina de direitos humanos, que veio muito por causa dessa reportagem, porque, através do movimento HIV-AIDS, eu conheci os direitos humanos. Então hoje, apesar de não escrever só sobre HIV e AIDS, eu acabei entrando nesse universo dos direitos humanos. Eu mantenho contato com alguns que, inclusive, viraram amigos. O Ramon Nunes Mello é poeta e também tem um trabalho em cima do HIV, a gente acabou virando muito amigo. O Gabriel Estrela também, que acabou fazendo outros projetos depois da reportagem. A partir daí, eu fui convidado para um monte de eventos, como o da UNAIDS, do Ministério da Saúde, e nesses eventos você se encontra com todo mundo. Depois da reportagem, eu me aproximei muito mais das pessoas.
Quanto tempo durou o processo de produção da reportagem, desde o início, até o momento em que ela foi publicada na Galileu? Foram nove meses, foi tipo uma gestação [risos]. Primeiro eu tive a ideia do “Clube do Carimbo” e então comecei a pesquisar. Durante o processo, eu vi que era um assunto muito mais complexo do que eu imaginava, Na época, eu não tinha um prazo, porque eu simplesmente tive a ideia e falei: “Olha, eu estou tocando essa matéria.” - meu editor na época era o Gustavo Poloni - e aí eu fui fazendo, ele não me deu o prazo, fui pesquisando - isso me deu tempo de ler muito livro - e foi um padrão que eu defini nas minhas reportagens, de não só conversar com as pessoas e procurar fontes oficiais, mas pesquisar em livros mesmo, porque eles desenvolvem muito mais os assuntos. Às vezes, as coisas que tão superficiais em outras áreas, nos livros você se aprofunda muito mais. Então, eu gosto muito de ler tudo que tem. Sempre que eu vou fazer uma reportagem, eu gosto muito de ler os livros que tem publicados sobre o assunto - tem uma coisa mais acadêmica, né? -, mas deixa a reportagem muito mais robusta. Eu tive tempo para fazer essa pesquisa mais aprofundada, conversar com as pessoas, ler os livros, assistir filmes e documentário que eu queria ver - também é muito importante. O audiovisual tem muito material também. Aí um mês aí o editor perguntou sobre a reportagem e eu respondi que poderíamos publicar - acho que saiu em agosto. Com uns três meses de antecedência, eu já sabia que ela tinha um prazo e fui afunilando. Ela começou com prazo meio aberto e foi fechando, fechando e, quando foi chegando próximo, definimos a data e publicamos. Isso tudo durou nove meses - quase um ano de pesquisa -, enquanto eu fazia outras coisas também, né? Não fiquei focado só nela, eu tava fazendo outros trabalhos, mas quando foi chegando na reta final, eu fui afunilando e focando mais nela. Acho que, nos últimos três meses, fiquei bem focado nela e os outros seis eu procurei referências.
Como funciona o seu processo de escrita? Você tem uma rotina já específica ou é algo mais espontâneo? Eu fui refinando o processo de escrita com os anos foram passando. Quando eu estava na Galileu, comecei a fazer reportagens mais aprofundadas e foi excelente para eu desenvolver isso. Hoje em dia, eu sigo o mesmo padrão assim: definir um tema, mas não definir geral, porque às vezes o tema muda durante a apuração. Às vezes, enquanto você está no processo de pesquisa, você descobre que pode ir por outro caminho. Eu defino o tema geral, leio tudo que já saiu sobre o assunto - acho que a maior parte da produção da reportagem é a pesquisa -, então demoro muito mais tempo pesquisando. Eu gosto de ler, mas às vezes o prazo é curto e você não consegue ler o tanto que você gostaria, mas, com o tempo, você vai aprendendo onde procurar. Quando eu tenho um prazo curto, eu já sei direito onde eu tenho que ir, eu já sei que esse autor fala disso, eu sei que esse jornalista fala disso, eu já não perco tempo vagando por aí, eu já vou direto onde eu sei que eu vou encontrar. Eu pesquiso muito, leio muito, assisto documentário, assisto filmes - eu acho muito importante não só ler, mas também ver, porque a gente tem uma percepção diferente quando vê as imagens - e, no fim, eu vou jogando tudo no Google Drive tudo de referência, meio bagunçado mesmo, eu vou jogando em um arquivo do Google Docs e, às vezes, já seleciono os trechos importantes e, no fim, eu separo pelo menos uma semana para escrever. Eu não gosto de escrever de um dia para o outro assim, por exemplo, até porque uma reportagem grande como essa não dá para escrever de um dia para o outro, né? Essa, especificamente, acho que fiquei 7 dias em casa só escrevendo apenas ela. O ideal é, quando eu tenho mais tempo, procurar referências em outros lugares também. Se eu estou pesquisando sobre HIV, eu gosto de ver um filme que não tem a ver com o assunto, porque acho que é importante também quando, a gente está mergulhado no assunto, deixar um espaço para que outras coisas venham, porque pode ser que uma ideia que vem de um lugar não tão óbvio. Quanto mais tempo você tem para pesquisar e fazer o trabalho, melhor para essas coisas acontecerem.
Depois que você publicou a reportagem, de onde surgiu a ideia de submetê-la ao Vladimir Herzog? Na verdade, a primeira vez que eu ganhei - em 2016 -, quem escreveu foi a Cris, que era uma das editoras da Galileu. Ela tinha me dito que ia me inscrever, mas eu nem lembrava - eu não era muito ligado em prêmios essas coisas. Eu estava em casa nesse dia - nesse de 2016 - quando ela me ligou. Eu estava dormindo e ela me ligou, dizendo que eu tinha ganhado. Eu fiquei tipo: “Caramba? Legal, né?”. Nisso, eu fui lá receber o prêmio. Eu tava com o meu companheiro Felipe, que é meu companheiro até hoje, e eu agradeci todo mundo que tava lá, agradeci meus pais, agradeci uns amigos, agradeci chefe que eu tive há 10 anos atrás, agradeci a todo mundo e esqueci de agradecer o Felipe, que é o meu companheiro e que tava lá comigo. Eu simplesmente esqueci de agradecer a ele. Quando eu saí de lá do palco, eu falei para ele: “Olha, eu vou fazer uma outra reportagem e vou ganhar de novo só para te agradecer”. Então eu saí do primeiro já pensando em ganhar uma outra vez - para eu poder reparar esse erro [risos]. E então, quando eu fiz essa reportagem, eu pensei: “Ah, eu acho que essa é uma reportagem que tem características que podem ganhar um prêmio. Essa segunda vez já foi mais consciente tipo eu inscrevi para ganhar mesmo assim - claro que eu não sabia que ia ganhar -, mas a segunda vez já estava mais consciente porque eu já tinha passado pela primeira vez.

No perfil do jornal “The Intercept Brasil” está especificado que você foi repórter da revista Playboy e editor da Galileu, na qual você escreveu reportagens sobre ciência e direitos humanos. Você sempre teve vontade de escrever sobre esses temas? De onde surge a sua motivação para escrever sobre? Na verdade, eu nem sabia que eu podia escrever sobre esses temas. Na faculdade, eu entrei pensando em trabalhar com cultura, né? Eu gosto de filmes, de séries - inclusive, meu TCC foi sobre histórias em quadrinhos -, então eu gosto muito de cultura e sempre imaginei trabalhar com cultura. Jornalismo cultural era meu sonho. Trabalhando na Playboy, eu consegui desenvolver bastante isso. Eu tinha muita pauta de comportamento, mas muita de cultura também. Quando eu entrei na Galileu, em 2014, eu comecei a focar mais em ciência - que era um assunto que já me agradava, mas eu nunca tinha me aprofundado muito - e aí fizemos essa mudança da linha editorial para pautas mais de direitos humanos né. Dentro da Galileu, comecei a pesquisar e me inteirar sobre esse assunto, então foi um gosto adquirido. Acho que a primeira reportagem de direitos humanos que eu fiz foi a do “Bandido bom não é bandido morto”, que foi a vencedora do Vladimir Herzog de 2016. Foi a primeira vez que eu me deparei com um tema de direitos humanos. Eu pensei que era um tema chato, mas comecei a ler sobre e me encantei, porque eu descobri que tinha coisas que não estavam sendo faladas. Era como se estivessem guardando segredos. Fui me encantando com a complexidade do assunto e como ele se ligava com outras coisas da sociedade, da cultura também, né? Depois dessa primeira reportagem de direitos humanos que eu percebi que existem coisas que não estão sendo ditas e que, por ignorância minha, eu não conheço mas eu vou conhecer. Comecei a me interessar mais por esse tema e ficar encantado. Fui adquirindo esse gosto conforme eu fui trabalhando e, até hoje, eu não faço uma distinção do que eu faço em ciências, em cultura ou direitos humanos. Acho que todos eles se ligam.
Qual é a sua relação com a cultura? A cultura foi minha porta de entrada para o mundo do jornalismo. Eu gosto de música - até hoje na verdade -, eu sempre tentei trabalhar com música, especificamente, porque eu sou apaixonado. Eu tive banda, eu gosto de ouvir, mas eu nunca consegui trabalhar em um veículo especificamente de música. Sempre coloquei música em todos os trabalhos que eu fiz. Por exemplo, quando eu entrei no Jornalismo, a Rolling Stone estava sendo lançada no Brasil e meu sonho era trabalhar na Rolling Stone. Eu lia Hunter Thompson, Greil Marcus, eu lia esses jornalistas americanos. Achava tudo muito incrível. Acho que pela cultura eu fui me encantando pelo Jornalismo, foi meio que mesclando as coisas, sabe? É uma coisa que eu mantenho até hoje. Eu não deixei de falar de cultura ou incluir a cultura em tudo que eu faço, mesmo que seja de um tema completamente diferente. Acho que, quando você traz esses elementos para falar de um outro tema - no caso eu estava falando de saúde - e eu consigo misturar isso com um herói da Marvel, eu consigo chamar atenção de pessoas que gostam dos heróis da Marvel mas não necessariamente estão vinculados com o assunto da AIDS e HIV. Isso expande as pessoas que você atinge e também é muito bom para entender, através dessas metáforas que, como exemplos, fazem você entender muito mais coisas que se eu usasse termos médicos ou muito técnicos, as pessoas não entenderiam ou não gostariam também. É uma forma de deixar também mais atraente.
Com a reportagem vencedora do Vladimir Herzog de 2018, você acha que atingiu o público da maneira que você queria? Ou isso é uma coisa que vai além do prêmio? Acho que atingiu muita gente que eu não esperava. Pessoas que eu descobri que viviam com HIV, e que não se sentiam confortáveis para falar sobre, vieram falar comigo depois da matéria assim. Elogiando ou até mesmo agradecendo por ter tratado o assunto dessa forma, tirando esse peso que geralmente ronda. Eu descobri, inclusive, o caso de uma grande amiga minha. O pai dela morreu de AIDS a muito tempo e eu não sabia dessa história, ela veio me contar por causa da matéria - depois de anos que a gente se conhecia - e eu percebi que tem que atingiu muita gente, não só por causa do prêmio, mas pelo boca a boca também, porque às vezes o prêmio fica muito na área do Jornalismo mesmo, né? Muitas outras pessoas que não são da área nem sabem o que é o prêmio, nem nada. Acabou passando pelo boca a boca, então percebi que teve uma repercussão muito grande, mas ao mesmo tempo também tem sempre um núcleo que não atinge. Hoje, sabemos quem são essas pessoas, tipo a galera mais conservadora - mais vinculada ao bolsonarismo. Se a matéria chegou para esse núcleo, elas não tiveram interesse. Uma matéria de direitos humanos, na cabeça dessas pessoas, é uma coisa de esquerda. Já vem um bloqueio, né? Eu gostaria de atingir essas pessoas, mas acho que não chegou assim. Ao mesmo tempo, teve uma repercussão gigante.
Você me contou que atua como freelancer hoje em dia. Qual a diferença de trabalhar em um veículo jornalístico e produzir matérias de forma mais independente? Pra mim fez toda a diferença. Eu estava a quatro anos na Galileu e decidi sair, porque eu já estava fazendo muito serviço burocrático. É claro que me organizei financeiramente, falei para as pessoas que eu estava, que precisava fazer trabalhos (eu não saí do nada), mas, depois que eu saí, percebi que foi a melhor escolha. Claramente preciso fazer alguns trabalhos para ganhar dinheiro, para pagar os boletos, né? Então nem todos os trabalhos que eu faço são os trabalhos que eu gostaria realmente de fazer e me dedicar, mas ao mesmo tempo isso também abriu espaço para me dedicar aos trabalhos que gosto mais. Esse perfil da Bruna Valim, por exemplo, eu escrevi porque eu queria escrever, sabe? Era um tema importante para mim e que eu achava que as pessoas também mereciam ter conhecimento. Sendo freela, eu tenho essa liberdade de chegar para um editor que eu conheço e propor uma pauta, assim como fiz com vários outros assuntos. Hoje em dia, eu posso fazer um grupo de pesquisa com psicodélicos na Unicamp, por exemplo, o uso de psicodélicos para os tratamentos mentais - depressão, ansiedade etc -, então é um tema que venho me aprofundando mais e que, como freela, eu tenho liberdade para conversar com as pessoas e escolher as matérias que eu faço, não só receber pautas do chefe. Eu sinto muito essa liberdade de poder escolher as coisas que eu faço, me aprofundar nos temas que me agradam mais - é difícil, porque às vezes os editores não estão interessados, não é todo lugar que você vai conseguir escrever, mas ao mesmo tempo é libertador, porque você tem a possibilidade de se aprofundar nesses temas que você se interessa. Eu fiz reportagens que eu jamais faria se estivesse preso a um veículo, tendo que cobrir um tema, por exemplo. Na Elástica, site da Editora Abril, eles são muito abertos às sugestões. Para eles, eu escrevi duas reportagens sobre o tempo - eu gosto de filosofar sobre o tempo -, bem abstrato mesmo, e acabou rolando. É um tema que me fascina. Fiz duas reportagens com pesquisas, entrevistas, vendo como é o tempo na perspectiva da Filosofia, na perspectiva da teoria queer, em várias perspectivas, e eu sinto que isso ser freela me deu essa liberdade. Não é fácil, porque é preciso se desacostumar com a ideia ter o salário - fomos educados assim, né? - Então você precisa repensar as coisas de uma forma pela qual você não foi educada. Eu trabalho por projeto, não organizo minhas finanças no mês, eu organizo em um projeto que pode durar mais de um mês, pode durar uma semana pode durar dias, você precisa mudar a forma de se organizar para poder não ficar doido.
Por Marina Laurentino Mendonça
Depois de dois anos, quadrilha, doce de milho e quentão voltam à São Paulo. Com a melhora da pandemia de Covid-19 no país, a cidade se prepara para o retorno presencial das festas juninas (e julinas) e das quermesses.
As festas juninas têm origem nordestina, e costumam ser festas populares para santos como: São João, Santo Antônio, São Pedro e São Batista. Com a popularização das festas juninas em todo o Brasil, a difusão dos elementos ligados à festa tornou-se cada vez mais comum.
As comidas típicas das Festas Juninas são um exemplo disso. Em todas as regiões, o produto utilizado para preparar as guloseimas da festa é basicamente o mesmo: o milho. Pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho e curau são algumas das iguarias servidas. Há também outras comidas com nomes bem peculiares, como mané pelado, pé de moleque, maçã do amor e cachorro-quente. Nesse universo, destaca-se também o quentão, uma espécie de chá feito com gengibre, canela e pinga.
Me encontro indo a caminho de algo que cheguei a desacreditar que um dia voltaria, depois de dois anos de pandemia,e graças à flexibilização das restrições sanitárias as festas juninas voltaram. Vou me encontrar com José, que é um voluntário da igreja que irá participar da comemoração que será realizada na Igreja da Candelária, na Zona Norte do dia 04 de Junho até dia 26 de Junho.
José me conta que desde 2020 sonha com a volta da comemoração que tanto anima o bairro, a festa atrai crianças e adultos a participarem das brincadeiras e da comilança típica do mês de Junho. A igreja faz a típica festa junina já a 10 anos e conta com a ajuda de fiéis voluntários para a organização do evento.
Ao chegar me deparo com uma festa cheia, o ambiente está cercado de crianças, adultos e idosos, todos reunidos. Ando com dificuldade pois há bastante fila nos caixas e para pegar comida, no fundo avisto uma fila de crianças esperando para ir nos brinquedos.

Entro na igreja para ir no caixa interno, dentro da igreja ocorre o famoso bingo. Assim como do lado externo, dentro da igreja há uma grande circulação de pessoas, há longas mesas onde quase não há mais acentos pois todos ali se encontram vidrados no bingo que logo irá começar. O palco está recheado de prêmios, que vão de 150 reais a um kit de edredom.
Nesse momento me encontro novamente com João, que está dentro da igreja servindo caldo verde, ele conta que apesar de os dois dias terem bastante público, sábado é definitivamente o dia mais corrido da festa. Há uma grande demanda e filas em todas as partes, todos querem provar as comidas e bebidas que a igreja fornece. É algo lindo de ver, tantas famílias que lá estão apenas aproveitando a volta das tão aguardadas festas juninas.
Decidi ir até a Praça do Campo Limpo, na Zona Sul, e me encontrar com Fernanda Péis, que é gestora cultural da Casa de Cultura do Campo Limpo. Dessa vez chego antes do movimento começar para conseguir ver mais do processo de montagem da festa, é um domingo com uma cara não tão amigável, mas a festa tem sido cheia em todos os fins de semana.
Fernanda me conta que a festa está sendo feita em parceria com o CCCP, e como é bom que neste ano os centros culturais estejam recebendo as festas juninas, pois apesar de ser mais trabalho, é outra forma de utilizar esse espaço.
Como houve festa na noite anterior, não há muita coisa para ser montada, apenas alguns ajustes, a praça está linda. Começa a preparação para acender a fogueira, há muita lenha preparada para que dure a noite inteira. As pessoas começam a chegar e a fogueira ganha vida, o ambiente começa a esquentar e filas se formam.

Há tendas que vendem suas comidas e as vendas não são feitas apenas por parcerias, mas também por autônomos. Fernanda me explica que eles abriram inscrições para que esses trabalhadores conseguissem se voluntariar. Por esse motivo é fácil achar tendas que vendem de tudo um pouco, não apenas uma para cada tipo de alimento.

Quase no final da noite, houve uma apresentação de dança, quando também chamaram as pessoas ao redor para dançar, foi bonito ver como adultos e crianças estavam se divertindo sem nenhum obstáculo ou vergonha. As crianças corriam e dançavam conforme a música tocava, apesar de nessa festa ter poucos brinquedos, as crianças pareciam se divertir igual à primeira que visitei.

Após dois anos sem essa comemoração que é tão importante para o povo brasileiro, a volta trouxe um significado a mais: todas as pessoas que vi estavam deslumbradas com tudo, parecia algo novo.