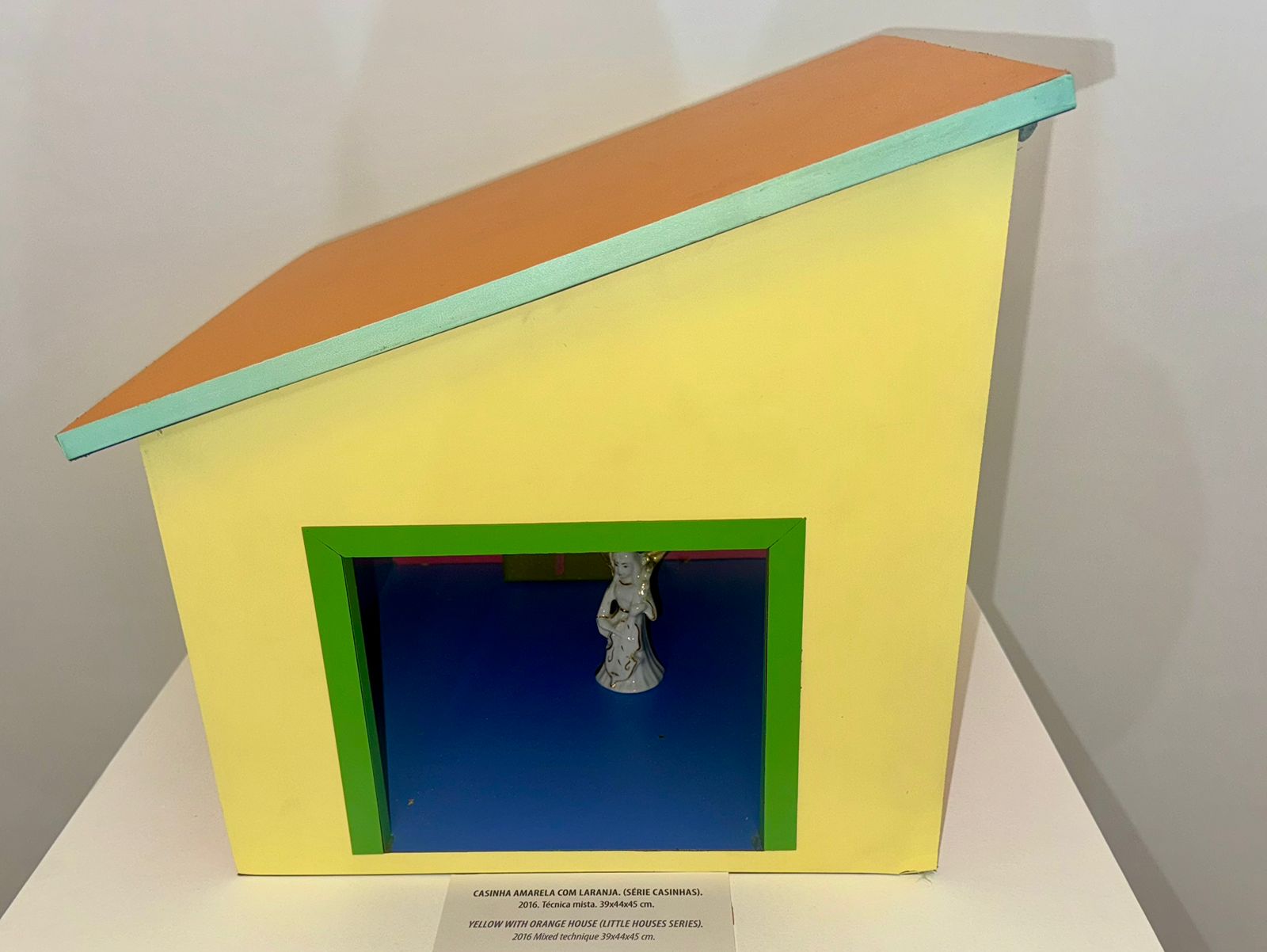Imagem: Vitrine Filmes/Divulgação
Dirigido por Marcela Lordy e roteirizado por Josefina Trotta, o filme narra a história de Lóri (interpretada por Simone Spoladore), professora do ensino fundamental, uma mulher livre, porém, melancólica e solitária. A protagonista carrega a aura introspectiva presente na personalidade de Clarice Lispector e suas obras.
No longa, o espectador é convidado a acompanhar a jornada de Lóri descobrindo a verdadeira liberdade e o amor, tanto o próprio quanto o compartilhado com o outro. No cotidiano, Lóri mostra-se perdida, em puro devaneio e desconexão com a realidade.
Ela, uma mulher furtiva em seus relacionamentos, é confrontada pelo pensamento existencialista ao conhecer Ulisses (interpretado por Javier Drolas). O professor de filosofia e amante contribui para o debate sobre Lóri ser "humana e contraditória". Durante o filme, o desenvolvimento da personagem coloca em perspectiva a descoberta de si, a "dor de existir" e a chegada da intimidade.
Aconteceu no Belas Artes: Uma Aprendizagem
Imagem: Isabel Bartolomeu
Legenda: Estão presentes na foto a diretora Marcela Lordy, a professora e literária Eliane Fittipaldi e a jornalista Paula Jacob.
Na última sexta-feira (23), o filme contou com uma sessão especial, seguida por debate, no Cine Petra Belas Artes. Com uma sala repleta de mulheres, o encontro teve a participação da diretora Marcela Lordy e da professora Eliane Fittipaldi. A mediação foi realizada pela jornalista Paula Jacob.
No debate, as convidadas comentaram as questões acerca do filme. A diretora Marcela Lordy destacou que esse é “um filme para sentir”. Inclusive, esse é o primeiro longa-metragem da diretora, que revelou que as produções do filme iniciaram há cerca de 10 anos, e demonstra a maturidade adquirida tanto por ela quanto pela personagem.
Já Eliane Fittipaldi, crítica literária e tradutora, comentou sobre a “atmosfera clariciana” e a “liberdade desencontrada” presente no longa. Também, contou que ela e Marcela trocaram correspondências na pandemia para falar sobre as experiências do filme, que na época já estava pronto, e aguardava lançamento.
O evento contou com a organização e o apoio da Revista Claudia, Vitrine Filmes, Editora Rocco e da livraria Gato Sem Rabo.
O trailer do filme está disponível no Youtube.

O bairro da Liberdade é comumente associado à comunidade japonesa, considerando a efervescência cultural reforçada pelo comércio local e instituições nipo-brasileiras situadas na região. Desde a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao estado de São Paulo, em 1908, por incentivo do governo em suprir a mão-de-obra da produção cafeeira, o Japão desencadeou no Brasil um novo processo de intercâmbio cultural.
Para além dos imigrantes europeus, melhor recepcionados pelas políticas de imigração na época, os japoneses se instalaram nas fazendas paulistas com o objetivo de encontrarem melhores oportunidades de trabalho, que careciam no Japão recém-aberto ao exterior. Mediante assinatura de tratados e acordos internacionais, em menos de dez anos foram enviados cerca de 10 mil trabalhadores japoneses ao estado de São Paulo.
+ Para mais informações, clique aqui para acessar a visita virtual ao Museu da Imigração Japonesa!
O historiador e secretário-geral administrativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), Eduardo Nakashima, revela que, apesar da ocupação significativa de japoneses no bairro da Liberdade, no começo do século XX, existem questões maiores relativas aos afrodescendentes. “Os primeiros habitantes do bairro da Liberdade eram negros”, conta. “Não era um local que tinha uma função muito digna. Era um bairro onde se executavam criminosos e, em geral, escravos fugidos”.
Eduardo ainda explica que, por consequência desse histórico do período imperial e mediante a ocupação antecessora de demais imigrantes (italianos, judeus, árabes) em outras regiões de São Paulo, o bairro da Liberdade era um lugar vazio e barato que, por ser próximo do Centro, os japoneses passaram a ocupar – principalmente, a Baixada do Glicério. “Por volta de 1930, os japoneses vão ocupar e transformar o local em bairro comercial, que é a imagem que permanece até hoje”, relata. “Oficialmente, o bairro da Liberdade nunca foi japonês. Ele foi considerado bairro oriental, mesmo quando só tinha japonês lá”.
Ele também comenta que, durante a construção do primeiro trecho da linha azul do metrô, do Jabaquara para a Liberdade, as avenidas foram tomadas por trincheiras, que atrapalhavam o comércio e moradores. “Ao mesmo tempo, São Paulo fazia essa ligação Leste-Oeste [Viaduto Leste-Oeste] e rasgou parte da Liberdade, e quando cavaram lá saiu um monte de osso, que são as ossadas dos executados”, relata. “Até hoje, quando vai fazer alguma construção ali, aparece”.
No Brasil há quase 30 anos, o senhor Kawarazaki compartilha sua acomodação com a cultura nipo-brasileira. No começo, os beijos e abraços se diferiram bastante do costume de cumprimentar com reverências, que é mais tradicional no oriente. Mesmo assim, o conforto do seu estilo de vida aqui logo tornou fácil a adaptação. “Eu moro no bairro da Liberdade há mais de 10 anos”, conta. “Aqui tem mais facilidade para tudo, não somente para o lado japonês (comidas etc.) mas também para todas as outras necessidades. Para viver aqui me sinto mais livre do que lá no Japão”.
Engajado na música popular japonesa, Kawarazaki já contribuiu em diversos eventos do nicho como membro das bandas tradicionais e, ainda hoje, prossegue com as atividades semanalmente nos bairros da Saúde e Vila Mariana. “Como sou do Japão, não preciso me esforçar para conservar a minha cultura”.
Kawarazaki ainda relata que, enquanto membro do comitê cultural da Bunkyo, comparecia a reuniões em que ninguém falava japonês, apesar da ênfase de alguns membros em ensinar o idioma. “Acho melhor conduzir a reunião falando japonês”, opina. “Assim eles vão virar exemplos”.
Na mesma linha, Kawarazaki lamenta a pouca incidência de nikkeis que conhecem o idioma, ainda que se identifiquem com a cultura nipônica. Com isso, ele teme que os brasileiros recebam informações erradas ou ultrapassadas ao abordarem essas pessoas menos engajadas culturalmente. “Poucos descendentes buscam informações atualizadas do Japão porque não sabem ler japonês”, defende o músico.
Da mesma forma, uma das maiores impressões sobre a cultura nipo-brasileira aqui em São Paulo é, na verdade, precipitada. Embora a densidade populacional de japoneses na Liberdade não seja tão expressiva hoje quanto era no século passado, existe uma carga cultural que estampa o comércio da região. “As maiores lojas hoje do bairro da Liberdade os donos são chineses, mas o marketing é japonês”, revela Eduardo. “O bairro acabou criando essa identidade, e eu acho que esse é o legado”.
O historiador aponta que a identidade japonesa, apesar de ser mais difundida culturalmente na Liberdade, não se resume ao bairro. Ele menciona que na região da Saúde, hoje, há expressivo índice populacional de nipo-descendentes; além de relembrar a influência no cultivo de pêssegos e morangos em Itaquera, onde passou a infância, cercado de características japonesas. “Da mesma forma que árabes, espanhóis, italianos e portugueses, os japoneses já estão há mais de cem anos aqui no Brasil, então essa identidade de um bairro japonês não existe mais”.
Por outro lado, Eduardo aponta que na Vila Carrão, na Zona Leste, ainda resta um forte núcleo de atividade nipo-brasileira. O distrito concentra nikkeis da província de Okinawa, um arquipélago situado no extremo sul do Japão. É uma cultura comparável à basca, na Espanha, uma vez que detém dialeto próprio e guarda uma herança geopolítica que a difere das demais províncias japonesas. “É curioso que essa identidade okinawana é, proporcionalmente, mais evidente no Brasil do que no Japão”, demarca o historiador.
Há 114 anos, 793 imigrantes japoneses desembarcaram do navio Kasato Maru, dos quais apenas 131 permaneceram nas fazendas contratantes. Hoje, são mais de 2 milhões de japoneses e nipo-descendentes vivendo no Brasil, sendo a maior população nipônica fora do Japão em todo o mundo. “Se você for aos Estados Unidos, à Europa, América Latina, até na Ásia, quando se fala de Oriente, fala-se China”, denota Eduardo. “O Brasil é o único país que, quando se fala de Oriente, o nome que vem primeiro é Japão”.
Ainda assim, a política de imigração decaiu com as eventuais crises econômicas que afetaram a produção cafeeira e, mais tarde, também sofreu os impactos da Segunda Guerra Mundial. A partir das décadas de 1970-1980, houve alterações na legislação que tornaram o processo imigratório mais restritivo, quando comparado ao início do século, mesmo diante do sucesso de projetos governamentais de assentamento no Cerrado, que se expandiu para a Bahia, Pará, Tocantins e no Sul. “Em algum momento, o Brasil considerou que já tinha gente suficiente para tocar esse país”, afirma Eduardo. “Essa coisa de Brasil ‘país de imigrantes’ é coisa de passado”.
Não obstante, o secretário-geral administrativo da Bunkyo demonstra preocupação com as impressões do mundo sobre a China. Tanto nas questões militares quanto econômicas, e também no que tange ao preconceito intensificado pela pandemia do coronavírus, ele alerta sobre os riscos de associação aos países orientais como um todo. “Até hoje, quando as coisas ficam difíceis, o mundo começa a dividir os seres humanos pela cor da pele”, expõe. “Em 2001, chamaram os ataques às Torres Gêmeas de ‘Pearl Harbor do Século XXI’ e igualaram os pilotos terroristas da Al-Qaeda aos kamikazes japoneses”.
A história das obras interativas começa nos últimos anos da década de 1960, quando os primeiros passos em relação a projetar obras de arte que fossem capazes de reagir em tempo real aos movimentos e sentimentos dos espectadores foram dados. As chamadas ‘exposições imersivas’ começam a se desenvolver como uma vertente da arte contemporânea e moderna, a partir da ideia inicial de levar ao público experiências que poderiam ser classificadas como intensas e polissensoriais, utilizando de diversas projeções de vídeos, luzes, cores, sons e até de essências olfativas, no intuito de envolver e incluir qualquer tipo de visitante por completo.
Não é à toa que essas experiências chamam a atenção do público até os dias de hoje, elas acabam ganhando cada vez mais espaço uma vez que atraem importantes investimentos e grandes artistas interessados na intersecção entre a arte, a tecnologia, e talvez o mais temido, entretenimento.
Foi o caso de Van Gogh, Cândido Portinari, Leonardo da Vinci e outros artistas que, embora não estejam mais no mesmo plano que seus admiradores, foram aclamados pela crítica e por milhares de espectadores que passaram em suas salas todos os dias enquanto a imersão durou. Alguns museus, salas e galerias do Brasil receberam nos últimos anos, instalações de grandes nomes que compõem a arte no cenário nacional e no mundo.
A popularização das exposições imersivas acompanha o aumento geral da visitação de diversos públicos aos museus e demais espaços culturais. No momento em que praticamente tudo que é vivenciado é registrado e postado na internet, a experiência na arte, claro, não poderia ficar de fora. Enquanto esses fragmentos de pinturas tomam conta do espaço expositivo, a arte passa a ser vista também como um plano de fundo para os registros nas redes sociais. Seria esse um raso interesse, de fato, pelo mundo das artes? Luciana Nemes, graduada em Educação Artística e pós-graduada em Museologia pela Universidade de São Paulo e ex docente das disciplinas de Concepção; Planejamento de Exposições; e Montagem de Exposição; Sistema de Ações Museológicas no Centro Universitário Belas Artes acredita que todas as linguagens de hoje são interessantes, cabe aos curadores e expositores dialogarem com a melhor forma de representação sem distorcer a história de cada artista. “As exposições imersivas estão caminhando com a evolução da tecnologia, e é mais uma linguagem que as instituições culturais podem se apropriar para diversificar e atingir todo tipo de público [...] no mundo de hoje, a gente tem que usar isso da melhor forma possível. Por outro lado, a relação com o objeto, com a fatura produzida pelo artista é insubstituível. Quando a gente mescla as duas linguagens, pode ser muito interessante ao visitante, poder dar a oportunidade de chegar mais perto.”
Ainda que o número de visitantes e o montante dos lucros possa crescer, é importante questionar se o contato com a arte é enriquecido na mesma proporção pela busca dessas novas experiências. Se direcionarmos a questão para a absorção do conhecimento nas instituições culturais, e perguntarmos de que modo ela é aprofundada, revigorada ou fortalecida pelas imersivas, o que as pessoas têm aprendido verdadeiramente? Em outras palavras: “ as exposições espetaculares e envolventes estão atraindo grandes multidões, mas estão mudando a experiência dos museus? Estão impactando e tocando os espectadores da forma que os artistas que estão sendo homenageados gostariam de transmitir através de suas obras?
Luciana, que já atuou diretamente com o público, e hoje coordena a área de Exposições do Museu de Arte Moderna de São Paulo, ressalta que a experiência é um assunto complexo. “Hoje em dia muito se fala sobre ‘qual experiência que eu quero que o público tenha em relação a uma exposição? Qual o meu objetivo?’ Se a gente pensar que essas exposições proporcionam uma experiência com o corpo, pode ser muito interessante sentir a projeção, uma música, um apelo visual, ou mesmo uma fotografia detalhista. Eu não gosto de limitar essas exposições, pois para um público que não têm a prática e vivência de visitar exposições, isso pode ser muito valioso, pode quebrar o estigma que museu é lugar de coisa velha, ou de um lugar que não é para todos [...] o ideal é pensar em como unir todas as linguagens, e se utilizar desses recursos que hoje estão nas nossas mãos.” Já Cauê Alves, curador da mais nova exposição do Museu de Arte Moderna: “Sob as Cinzas, brasa” e também docente do curso de História da Arte da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo acredita que de fato as experiências imersivas estão tocando e mudando a vivência de seus visitantes. “Os museus estão tendo que se reinventar, não só pelas experiências imersivas, acho que a pandemia acelerou esse processo, teve uma mudança enorme na relação digital. Já existia aquelas experiências em 3D, aquelas amostras que poderiam ser vistas pela internet, mas o museu digital sendo uma realidade, é claro como os acervos têm se preocupado em se mostrar visíveis nas redes sociais, a comunicação dos museus se transforma, ou seja, têm impactado as instituições e a relação que o público cria com as obras [...] é inevitável que os museus incentivem que as pessoas postem, fotografem, divulguem. O que a gente fala do antigo boca a boca, hoje em dia são os posts espontâneos. O caminho é apenas uma transformação do analógico para o digital, e mais a concepção de projetos que já nascem e se desenvolvem em meios digitais, claramente transformando não só os museus, mas a arte de uma forma mais ampla.”
As exposições podem carregar diversas linguagens e interpretações. Podem ser “instagramáveis” e servirem para curtidas na rede social, como também podem ser vazias de conteúdo e nada fotogênicas. Estabelecer e entender, principalmente, que cada era tem a sua linguagem e independente de qual seja, elas conversam entre si, vai muito além da arte. Esse diálogo pode ser a resposta da sociedade que construímos e quais valores foram aprendidos. A arte dialoga com a arte seja ela qual for, e todas as relações e correlações serão possíveis independente da época.
Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais, a Netflix anunciou que as filmagens da segunda temporada da série “Heartstopper” começaram.
Ainda sem previsão de lançamento, a plataforma anunciou que quatro novos personagens serão incluídos nessa nova fase: Sarah Zahid (Leila Khan), uma estudante; Jack Barton (David Nelson), o irmão mais velho de Nick; James McEwan (Bradley Riches), outro estudante; e Nima Taleghani (Sr. Farouk), professor do Colégio Truham.

Foto: Divulgação/Netflix
O seriado, que entrou em produção no Reino Unido, confirmou o retorno de todo o elenco principal: Joe Locke como Charlie Spring, Kit Connor como Nick Nelson, William Gao como Tao, Yasmin Finney como Elle, Corinna Brown como Tara Jones, Kizzy Edgell como Darcy, Sebastian Croft como Ben Hope, Tobie Donovan como Isaac, Rhea Norwood como Imogen e Jenny Walser como Tori Spring.
A trama, baseada na série de graphic novels da autora Alice Oseman, acompanha os jovens Charlie e Nick, que se conhecem no ensino médio do Colégio Truham. Ao descobrirem que são mais do que apenas amigos, eles encaram uma jornada de autodescoberta, apoiando um ao outro nas dificuldades da vida escolar e amorosa.
A primeira temporada de "Heartstopper", que conta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes pela crítica especializada, é recebida com muito carinho pelo público. Lançada em 22 de abril de 2022, a obra alcançou o TOP10 em mais de 60 países.
“É difícil de explicar pra um alemão que pegar um ‘busão’ lotado ou um metrô lotado pode estragar seu dia”. Para Alexandre Ribeiro, de 24 anos, ainda é difícil abordar algumas diferenças culturais entre o Brasil e a Alemanha, onde vive desde 2019. O escritor paulista, representante da literatura periférica (apesar de rechaçar rótulos), acaba de lançar seu novo livro, “Da Quebrada Pro Mundo”, que traz muito de sua herança como morador da Favela das Torres, em Diadema, região metropolitana de SP.

Em entrevista concedida à reportagem, Alexandre falou sobre sua carreira e contou um pouco de sua história no mundo da leitura. “Eu não cresci num ambiente onde a leitura foi cultivada. Sou filho de mãe diarista e pai segurança de firma, e não lembro de ter visto meus pais com livros. Mas eles pensavam na nossa educação, e eu não estudei em Diadema. Fui estudar em São Bernardo do Campo, cidade vizinha, e foi lá que eu comecei”, conta.
“Lembro que li meu primeiro livro, O Menino Maluquinho, anos se passaram, não peguei o gosto pela leitura e isso foi voltar pra mim quando meu ‘coroa’ faleceu. Ele morreu em 2009, infelizmente, por conta da gripe suína, e marcou muito minha história. Eu não lembro do meu pai lendo um livro, mas lembro dele lendo gibis pra gente”, lembra o escritor paulista. Nesse contexto, os livros se perpetuaram na vida de Alexandre também como uma forma de memória: “A leitura veio pra mim como os abraços do pai que eu não tinha, comecei a olhar para trás, lembrar que meu pai me fazia ler e lembrar dele, e comecei a ler cada vez mais; em alguns momentos que eu sentia que tava tudo dando errado e aí a leitura voltou na minha adolescência com outra roupagem”.
Lançado em julho deste ano, “Da Quebrada Pro Mundo” é o segundo romance de Alexandre Ribeiro - o autor também lançou “Reservado” (2019), vendido diretamente para o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, na Feira do Livro de Porto em 2020. Os dois livros abordam questões sociais, raciais e a vivência dos jovens periféricos, mas a mais recente obra (com prefácio do rapper Emicida) retrata um Brasil futurista, que está “sendo revolucionado por uma vacina contra o vírus do racismo”.

Apesar de participações em importantes feiras literárias na Europa, em cidades como Porto-POR e Frankfurt-ALE, Alexandre relata dificuldades em encontrar reconhecimento dentro da literatura. “Eu ainda sinto muita dificuldade de ser reconhecido no mundo literário. Existe uma demanda pela literatura de periferia, mas ou ela é olhada como commodity, ou a gente é transformado só na nossa história, só o que a gente viveu, aí a gente não tem qualidade literária; ou ignoram de fato”. “A minha literatura fala tanto de quebrada quanto de voos internacionais, que é o tema do meu livro ‘Da Quebrada pro Mundo’. Eu gosto de falar que eu sou morador de quebrada, escritor de quebrada, mas não sou só isso”.
A recepção de seu trabalho em solo europeu, no entanto, tem sido agradável, como conta o autor. Para ele, chama atenção o conhecimento internacional do termo “favela”. “Uma coisa que eu enxergo é o fascínio, a palavra ‘favela’ é internacional, se você fala ‘I am from a favela’ as pessoas entendem o que você tá falando. [...] As pessoas sabem o que é uma favela. Não somente sabem, mas tem gente interessada e querendo ouvir quem é da favela”, conta.
O choque cultural entre Brasil e Alemanha também é um aspecto muito relevante na experiência de Alexandre. “Eu falo muito sobre o valor da vida para um jovem pardo no livro. Esse valor é muito deturpado, e num país onde isso é valorizado (Alemanha), é até difícil de explicar o valor das pequenas coisas. É difícil de explicar pra um alemão que pegar um ‘busão’ lotado pode estragar seu dia. Pouca gente sabe o que é ter medo da polícia aqui. Eles podem ter medo da polícia, mas não têm medo de - como aconteceu comigo quando eu tava escrevendo esse livro - ver a polícia parar a viatura perto da praça e sentir medo de morrer”.

Sem se limitar ao rótulo de “escritor de quebrada”, Ribeiro reforça a questão da identificação como jovem periférico e fala sobre se sentir “privilegiado” dentro da favela onde cresceu. “Eu enxerguei que era um ser favelado periférico não na minha favela, e sim quando saí dela, pra trabalhar na Oscar Freire, quando tinha quinze anos. Eu sou muito mais favela quando tô rodeado de playboy. Na quebrada, sou minoria: faço parte de uma elite intelectual lá, um dos moleques que leu Kant e que ‘tá inteirado’ em debates raciais. Como que eu vou debater teoria racial com minha mãe que terminou o ensino médio junto comigo? Eu quero, mas não dá pra negar que tem uma questão”, afirma o escritor. “A leitura na periferia não é vista como direito, então, infelizmente, eu sou mais um desses que usou da leitura como ato revolucionário”.
Alexandre se vê como uma ferramenta que pode ajudar a "abrir portas” para pessoas periféricas que buscam cultura e conhecimento, assim como ele. Além de seus livros, o escritor paulista lançou também um curso popular de língua inglesa - que carrega o mesmo nome de seu mais recente livro. “A gente começa a ter um outro olhar quando a realidade se parece com a gente, começamos a entender que ela é possível. Quando eu escrevo minhas histórias, com a literatura periférica, com personagens negros, mulheres e LGBTQIA+, e isso reflete também fora da literatura, no mundo real. Fazemos esse trabalho de inglês de forma completamente gratuita pra essas pessoas que tiveram esse acesso negado e pra quem quiser fortalecer, que entende o valor do que a gente faz”, conta o autor, que completa: "O dinheiro não compra o acesso, mas que na verdade ele socializa o sonho” .