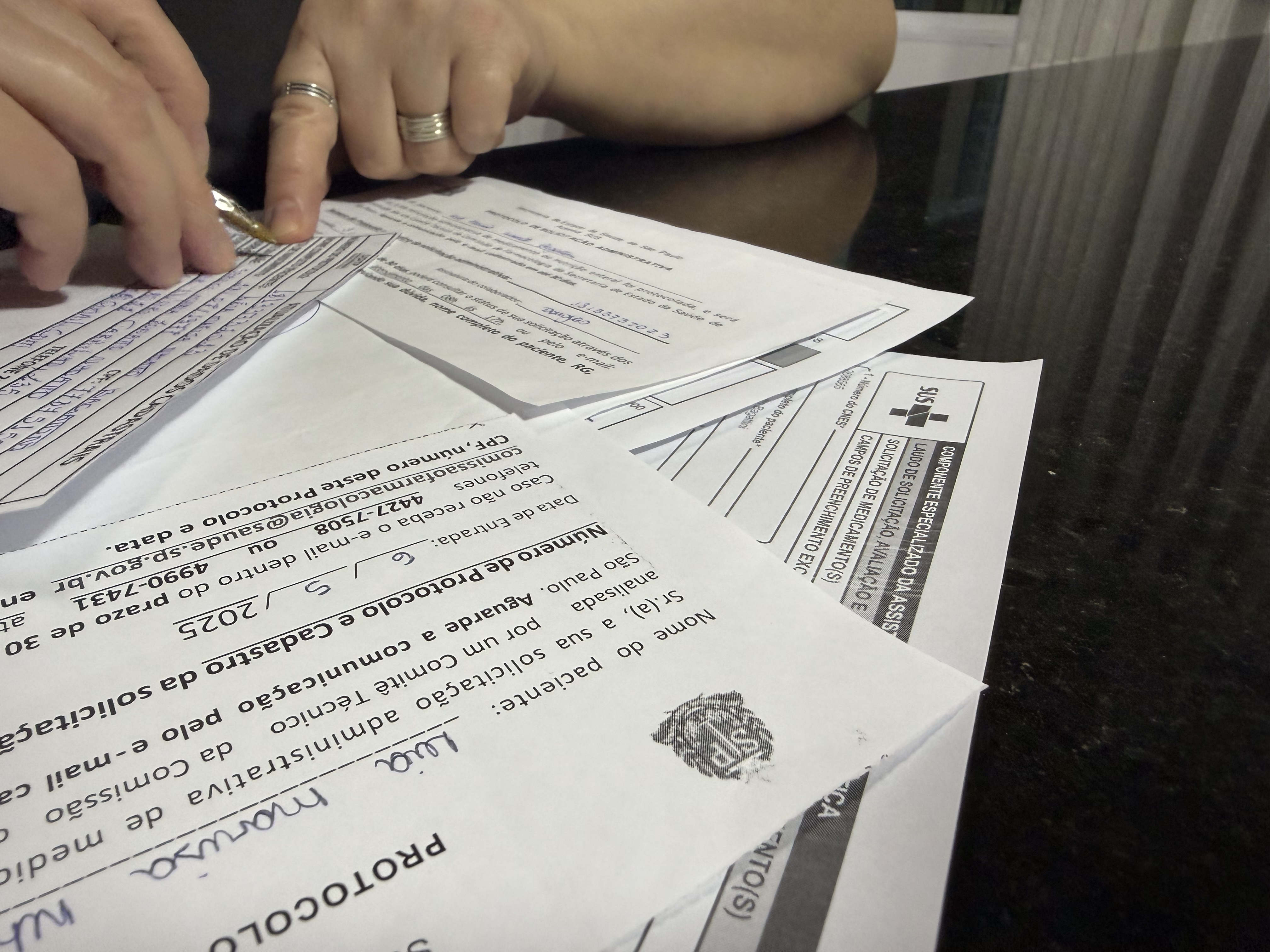Por Giovanna Montanhan
Abrir o TikTok é como piscar e ver o mundo mudar em uma fração de segundos. Em uma rolagem veloz, surgem truques para uma maquiagem glow, táticas para uma “pele de porcelana”, segredos para esconder as olheiras com batom vermelho e até dicas para um contorno "ideal" feito com utensílios de cozinha. Uma técnica “nunca antes vista” de delineado usando apenas um grampo de cabelo, uma máscara capilar líquida que permanece nos fios por míseros segundos e que “repara até a alma” — tudo parece essencial, urgente. De um lado, surge uma técnica viral que promete lábios mais volumosos usando apenas corretivo e gloss, aplicados estrategicamente para criar a ilusão de lábios carnudos e esculpidos; do outro, alguém massageia o rosto com um Gua Sha, uma técnica tradicional de origem chinesa que utiliza uma pedra para esculpir a face, de quartzo rosa recém-adquirida, prometendo desinchar o rosto em poucos minutos. A tela se enche de novas promessas a cada hora em que o aplicativo é aberto, como o colágeno em pó que, misturado na água, garante uma dose de juventude pelas próximas décadas, ou a aplicação de blush no nariz para dar aquela falsa sensação de que se esteve na praia e se queimado, e até mesmo o sérum coreano feito de mucina de caracol para uma pele supostamente mais firme e hidratada. Cada dica desponta como um raio no feed, iluminando tudo ao seu redor por um instante, apenas para ser engolida pela próxima febre que chega avassaladora, tornando a moda anterior esquecida antes mesmo de ser assimilada.
No território implacável das redes sociais, onde promessas de uma pele impecável e uma beleza reluzente se espalham como um feitiço, mulheres de todas as idades deslizam os dedos na tela em busca de um brilho que pareça emanar de dentro para fora. Cada toque, cada deslizar, aproxima as compradoras de um ideal escorregadio, um reflexo de perfeição, sintetizado na imagem da pele viçosa perfeita — tão brilhante e lisa quanto um donut vitrificado, idealizada pela marca Rhode, da modelo Hailey Bieber.
Mas essa busca pela beleza aparentemente simples não é tão doce como parece. As consumidoras, atraídas pelos vídeos de influenciadoras, são envolvidas por um mercado que promove o “Glazing Milk” e os “Peptides Lip Tints” como a chave para a pele e os lábios dos sonhos. Não se trata apenas de hidratar, de cuidar ou de valorizar o que já existe, mas de transformar, de reconstruir, de alcançar um brilho irreal que reflete expectativas impossíveis. Para muitas, o desejo por essa pele vitrificada é como um chamado, uma chance de fazer parte de um ideal estético que atravessa culturas, idades e contextos, porém inacessível para a maioria.
No Brasil esse sonho assume ares de luxo proibido. Sem distribuição oficial, os produtos da Rhode se transformam em verdadeiros tesouros a serem caçados em mercados paralelos, frequentemente repletos de riscos. Para experimentá-los, os brasileiros precisam superar o desafio da importação, enfrentando preços inflacionados e longas esperas. Quanto mais distante o sonho, mais intensamente ele é desejado. Em um contexto onde a estética perfeita é exaltada acima de tudo, esses itens de design minimalista tornam-se uma espécie de Santo Graal — símbolos de um ideal que poucos conseguem vivenciar diretamente, mas que muitos cobiçam com olhares ávidos.
Não são apenas os hidratantes e lip tints da Rhode que repousam nesse altar de desejo inatingível. O Lip Glow Oil da Dior, envolto em promessas de lábios irresistíveis, reflete um brilho de glamour que atiça os corações, enquanto a Rare Beauty de Selena Gomez, com seus blushes e iluminadores, embriaga o imaginário dos mais jovens. Há algo mágico, quase sedutor, nesses frascos delicados, como se cada camada de produto pudesse transformar a pele em uma tela de sonhos, oferecendo uma beleza que parece brotar sem esforço algum. Cada uma dessas embalagens repousa no nécessaire com uma falsa simplicidade, promovido com tamanha precisão que passa a impressão de que esses pequenos luxos são mais que desejos — são quase como amuletos, indispensáveis no ritual silencioso de buscar, no reflexo, um toque de perfeição que talvez nunca se alcance.
A obsessão pelo "glazed look" transcende o próprio produto. Não se trata de um efeito milagroso na pele ou da suavidade nos lábios; é uma busca por alinhamento com um ideal, uma concepção vendida como pura, mas que, na verdade, carrega o peso do consumo incessante. Influenciadores, com seus vídeos cuidadosamente editados, se tornam os arautos dessa estética quase mítica, revelando apenas fragmentos do que os produtos prometem, sem expor o verdadeiro custo envolvido. Enquanto isso, do outro lado da tela, um exército de seguidores desliza, em busca do próximo vídeo, da nova promessa — na esperança de transformar um sonho distante em uma realidade tangível, ainda que efêmera.
O TikTok, com seu algoritmo hipnotizante, tornou-se uma vitrine onde milhares de consumidoras mergulham em tutoriais e resenhas, investindo tempo e dinheiro na promessa de uma pele reluzente. Entre elas, há quem se pergunte até que ponto esse ritual em frente ao espelho reflete uma busca legítima pela autoestima ou se é apenas mais uma ferramenta do capitalismo que usa o desejo por aceitação e inclusão para alimentar o consumo excessivo.
É como uma trilha de pequenas confissões, uma corrente de desejos transformados em mercadoria. Em cada vídeo, em cada review impulsionado por essas marcas silenciosas, há mulheres que, ao deslizar a tela e ceder ao apelo das tendências, começam a ver suas rotinas, seus sonhos e até seu próprio reflexo se curvarem a um padrão escorregadio e volátil.
Júlia, Helena e Rayssa são alguns exemplos de meninas que compram de acordo com a tendência do momento no TikTok. Cada uma mora em um estado diferente, mas, enquanto falavam, era como se compartilhassem uma mesma inquietação, algo que transcende a distância e parece habitar um espaço comum entre elas. Com apenas 13 anos, Júlia, mais tímida, confessou que, para ela, comprar os produtos da moda trazia uma sensação de pertencimento que era difícil de encontrar em outros lugares. Ao adquirir aquele item desejado, sentia-se mais próxima das meninas que possuíam o mesmo, como se o produto fosse um passaporte invisível para um mundo onde todas compartilham os mesmos desejos e sonhos de consumo. Com um brilho tímido no olhar, contou sobre seu exemplo mais recente: um kit de pinceis da marca Real Techniques — algo que, segundo ela, todas no TikTok pareciam ter e que, de alguma forma, a fazia sentir-se parte de algo maior.
Com 15 anos, Helena, um pouco mais falante, descreveu a experiência de outra forma, embora a sensação de efemeridade fosse a mesma. Para ela, o ato de consumir a aproximava de suas amigas e da comunidade online, mas logo após a compra surgia um vazio incômodo, como se a satisfação fosse rapidamente substituída por uma nova tendência, já à espreita. "É um ciclo sem fim," disse ela, quase resignada, enquanto mencionava sua última aquisição: o pó facial rosa da influenciadora Karen Bachini, um item que ela não parava de ver nos vídeos e que parecia indispensável — até o próximo lançamento roubar a cena.
Com 17 anos, Rayssa, em silêncio até então, finalmente desabafou. Revelou que, todas as vezes que se olhava no espelho, sentia-se como se tentasse capturar o brilho das influenciadoras do TikTok. Mesmo quando conseguia comprar o que tanto desejava, o resultado nunca parecia corresponder ao ideal que via na tela. Em momentos assim, questionava-se se a falha estava nela — como se algo em sua pele, no olhar, ou até em sua própria essência não fosse suficiente para refletir a promessa vendida pelos produtos. Esse sentimento de cobrança, explicou, era quase constante, uma frustração que a fazia sentir-se cada vez mais distante de um ideal inatingível. Sua última compra foi o sérum bronzeador da marca Drunk Elephant, o D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops, um item que, como tantos outros, prometia uma transformação que parecia sempre escapar ao seu alcance.
Para elas, o ato de comprar não é apenas um impulso passageiro; traz um alívio momentâneo em uma busca que nunca se completa. Mas logo vem o vazio, uma percepção incômoda de que estão presas a um ritual estranho, onde o consumo é apenas uma dança repetitiva, uma tentativa de tocar algo que escapa. Muitas se encontram no eco numa pergunta inevitável sobre o motivo de não conseguir o mesmo resultado. Como se o erro fosse delas, como se algo na pele, no olhar, ou na própria essência falhasse em alcançar o brilho prometido — um ideal cuidadosamente desenhado para permanecer fora de alcance.
É nesse cenário tentador que se ergue o submundo da Internet, uma espécie de mercado paralelo onde a pressa e o desejo encontram uma nova morada. Para aqueles que não podem ou não querem esperar, marketplaces como a Shopee e a Shein surgem como atalhos — labirintos digitais onde os produtos cobiçados aparecem como ofertas tentadoras, à mercê de vendedores anônimos que se escondem atrás de telas e avatares. Ali, a ansiedade dos consumidores é alimentada com preços reduzidos, porém envoltos em uma névoa de incerteza se o brilho do produto é real, ou apenas uma sombra de autenticidade. Entre o clique e a compra, uma escolha silenciosa é feita — e talvez, para muitos, a necessidade de pertencer ao momento sobrepuje o valor da própria verdade.
Capitalismo
Em uma conversa descontraída o colunista do site Steal the Look, Fábio Monnerat, falou sobre o frenesi que envolve a busca pela beleza idealizada, uma obsessão que, segundo ele, vai além do simples desejo por bons produtos. Ele acha que há uma necessidade de pertencimento, um desejo de aceitação que se esconde por trás de cada nova compra, como se cada aquisição trouxesse consigo um pouco mais de identidade, um passo a mais em direção a um grupo invisível e desejado. Fábio disse enxergar essa ilusão de exclusividade como uma corrente invisível, prendendo o público em um ciclo sem fim, onde o limite entre querer e precisar se desfaz. Nas redes sociais, o ideal de beleza está sempre ali, próximo e sedutor, mas estranhamente fora de alcance, criando um desejo que se mantém sempre vivo. E vai além.
Ele aponta que conter essa maré de consumo desenfreado soa quase como um desafio impossível. A falta de consciência coletiva torna difícil que as pessoas reflitam sobre o impacto de cada compra. Assim, o consumo se transforma em um reflexo do próprio desejo não resolvido, uma repetição constante que nunca traz a satisfação esperada. Para ele, cada nova compra parece inofensiva, mas se transforma em uma onda crescente, que passa despercebida e segue reverberando.
No coração do capitalismo contemporâneo, o TikTok se agiganta, não mais como uma simples distração, mas como um palco onde o desejo se torna espetáculo e o consumo, um ato quase hipnótico. Em cada deslizar de dedo, as consumidoras são lançadas em um torvelinho de tendências, onde as promessas de beleza cintilam como fogos de artifício — intensas, passageiras, inescapáveis. A cada nova febre, o rosto de uma influenciadora parece sussurrar segredos que as espectadoras querem acreditar: uma pele mais luminosa, lábios mais aveludados, o toque de algo quase mágico. Mas é tudo tão fugaz. Produtos que ontem eram o desejo do momento, hoje já perderam o brilho, substituídos por algo "ainda mais revolucionário".
Para essas mulheres, não há descanso. A lógica do hiperconsumo, essa engrenagem que o filósofo Gilles Lipovetsky descreveu, as engole em um ciclo em que o desejo pesa mais que a necessidade, onde o impulso de possuir é atiçado mais pelo medo de perder a novidade do que por uma vontade verdadeira. A cada nova compra, um ritual se repete — uma sensação de satisfação que evapora rápido, cedendo espaço à expectativa do próximo lançamento. E enquanto os frascos se acumulam, um vazio começa a se insinuar, como se, no fundo, soubessem que a próxima tendência também virá, seduzindo-as mais uma vez.
No universo hiperacelerado do TikTok, onde as tendências surgem e desaparecem como reflexos fugidios, as consumidoras são arrastadas para um ciclo quase frenético. Cada novo "must-have" carrega uma data de validade invisível, um convite ao consumo antes que o encanto se esgote. No olho desse furacão está o Carmed, um bálsamo labial produzido pela farmacêutica Cimed, que, embora conhecido por sua hidratação modesta, encanta com suas edições limitadas e colaborações astutas, como a recente parceria com a marca de doces Fini. Versões do bálsamo com sabores de balas de gelatina — banana, dentadura, "Beijos" — evaporaram das prateleiras antes mesmo de alcançarem todas as farmácias, deixando na esteira um rastro de desejo insatisfeito.
Para Helena, que também é uma consumidora voraz de Carmed, a eficácia do produto é apenas um detalhe insignificante. O que realmente importa para Júlia e para quem o consome, é o prazer de possuir um fragmento de algo efêmero, um pedaço da tendência que logo será substituída por outra. Cada lançamento deste produto traz consigo uma promessa de exclusividade, uma sensação de escassez calculada que intensifica o impulso de compra. Nesse jogo de aparências, o Carmed não é apenas um bálsamo; é um lembrete de que, no turbilhão da moda passageira, às vezes o que vale é a experiência fugaz de ser parte de algo que logo deixará de existir.
No emaranhado dos desejos modernos, o consumo de beleza se torna um ritual de encantamento, uma busca ansiosa que reflete mais do que o desejo de uma pele perfeita ou de lábios macios. Fábio Monnerat vê esse cenário com inquietação, especialmente quando o alvo do consumo se desloca para o público infantil. Ele observa, com ceticismo, como produtos de beleza direcionados a crianças e adolescentes, como é o caso do fenômeno do Carmed, onde eles são estrategicamente moldados para enraizar o consumo desde cedo. Com sabores açucarados e colaborações com personagens conhecidos, o Carmed, em suas múltiplas versões, deixa de ser apenas um hidratante labial; ele se torna um emblema de um consumo precoce, uma porta de entrada para um ciclo interminável de desejos e substituições.
Fábio acredita que essa introdução ao consumo desenfreado desde a infância reflete um problema profundo. A indústria da beleza, segundo ele, soube capturar o conceito de autocuidado e transformá-lo em uma sequência constante de compras — não mais um momento pessoal, mas uma dança coreografada pelo mercado. O Carmed e outros produtos semelhantes simbolizam uma sociedade onde o consumo é enaltecido como valor intrínseco, e cada nova edição limitada, cada parceria com um ícone infantil, se torna um capítulo dessa fábula consumista. A ilusão de exclusividade atiça o desejo, e o autocuidado se converte em um ato repetitivo, sem substância.
Enquanto isso, o TikTok acelera essa espiral. Para Júlia, Helena e Rayssa, a plataforma de vídeos é uma vitrine que converte produtos de beleza em pequenos troféus de pertença, um portal onde cada novo sérum, cada nova máscara promete um vislumbre de perfeição. Como no filme A Substância (2024), onde Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, injeta um líquido espesso e denso na pele na esperança de capturar a juventude que lhe escapa, os jovens de hoje se entregam a promessas tão tentadoras quanto fugazes. A cada nova fórmula, a cada sérum, máscara ou creme milagroso, há uma promessa de transformação que parece deslizar entre os dedos. Eles se lançam nessas poções modernas, cada frasco prometendo que, desta vez, o reflexo no espelho será o que sempre desejaram.
Mas, assim como Elizabeth, que corre atrás de uma ilusão que nunca a satisfaz, esses jovens podem estar caminhando para um abismo de expectativas vazias. A cada compra, um breve relâmpago de satisfação — um brilho que logo se desfaz, um encanto que desaparece com a mesma rapidez com que veio. E então, a necessidade renasce, mais urgente, mais insistente. Em um ciclo que se auto alimenta, o ideal de beleza se mantém distante, quase ao alcance das mãos, mas sempre escorregadio. E nessa busca, a frustração não desaparece; apenas se recalca, pronta para surgir com força renovada a cada nova promessa que o mercado lança na tela.
Fábio acredita veementemente que o verdadeiro papel do TikTok não é conectar, mas vender — impulsionando um consumo desenfreado que atinge até os mais jovens, seduzidos pela promessa de uma juventude prolongada e de uma beleza idealizada.
No fim, a trilha do consumo se revela como uma corrida sem destino, onde o autocuidado se dissolve em promessas e expectativas. Para Fábio, a verdadeira prática de bem-estar foi sequestrada pela lógica de mercado, que transforma cada novo produto em mais um ponto de partida, mais um item na lista de desejos insaciáveis. O autocuidado, nesse cenário, se torna uma pista de corrida onde o consumidor, sempre em busca da última novidade, esquece de parar, de respirar e de redescobrir o que realmente importa. Talvez, sugere ele, o verdadeiro bem-estar exija uma saída dessa trajetória imposta, uma pausa para recobrar o equilíbrio, para lembrar que cuidar de si não precisa ser uma sequência de compras, mas uma escolha pessoal, guiada por um ritmo próprio, alheio às urgências e apelos do mercado. Afinal, os verdadeiros delírios de consumo da Geração Z não estão em cada frasco ou nova tendência, mas na ilusão de que a satisfação virá com o próximo produto.