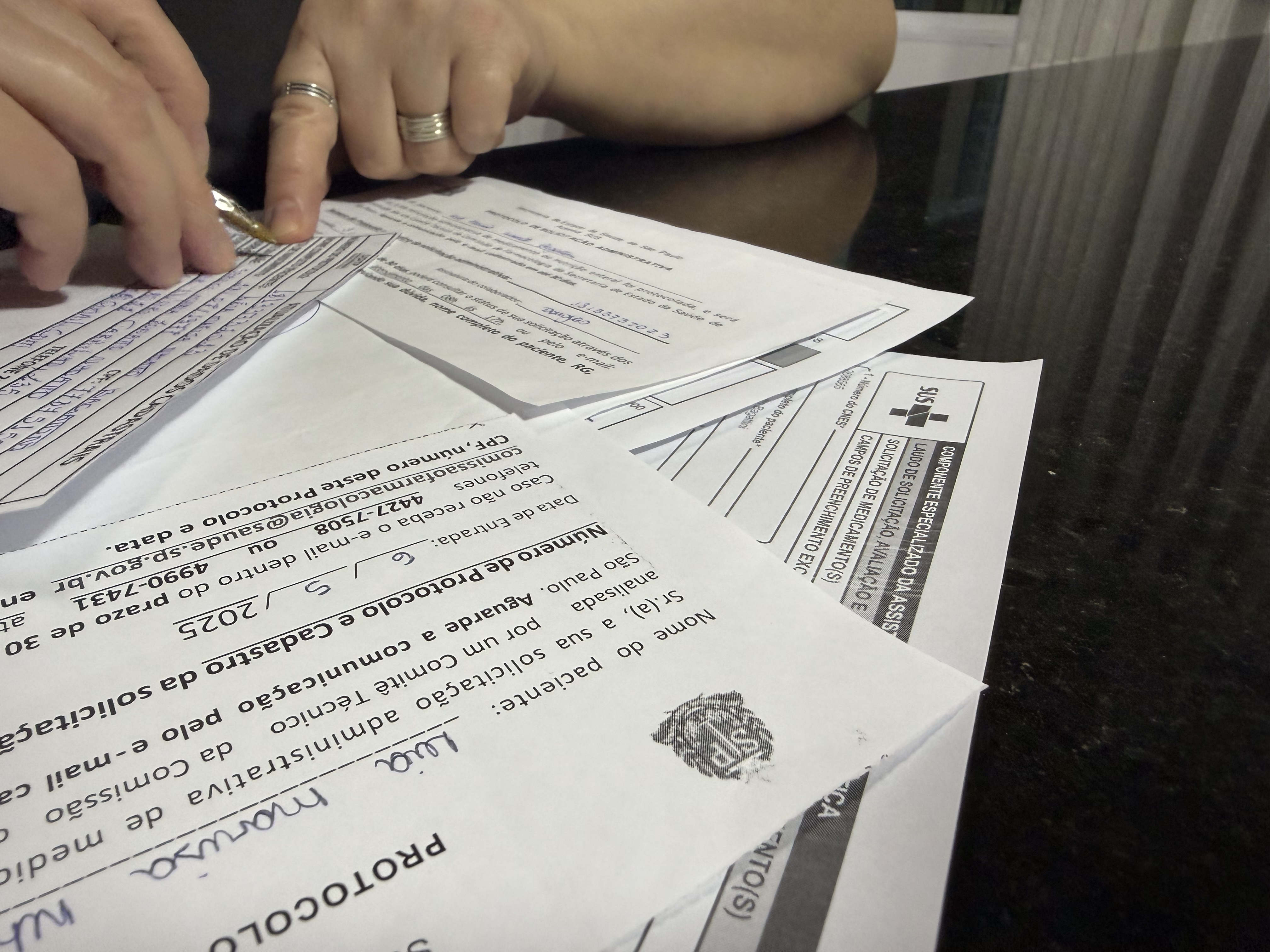Segunda-feira, 16 de março de 2020. Após uma alta de 4,55%, o valor do dólar supera os R$ 5 pela primeira vez na história. Desde então, a moeda americana passa por altos e baixos em relação ao real, mas quase sempre se mantendo acima dos R$ 5. No dia 24 de abril, após o anúncio do ex-ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) de que estava deixando o governo, o dólar bateu um novo recorde e fechou a R$ 5,65. A alta acumulada ano chegou aos 35%, com a moeda fechando o mês de abril em R$ 5,43, sem previsão de queda para maio.
Embora influenciada pela instabilidade política, a disparada da moeda americana tem como razão principal a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19. De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) do planeta deve ter uma contração de 3% neste ano, a maior desde a Grande Depressão da década de 1930. Para o Brasil, o FMI espera uma queda de 5,3%, um recuo sem precedentes. A recessão será acompanhada de um aumento de quase três pontos percentuais na taxa de desemprego.
Neste cenário negativo e repleto de incertezas, a alta do dólar tem a ver com o regime de câmbio flutuante que o país adota desde 1999. Por esse sistema, o valor das moedas é determinado pela oferta e pela demanda do mercado. Neste momento, um movimento de fuga de capitais, no qual muitos investidores liquidaram suas aplicações em busca de opções que consideram mais seguras, está fazendo o preço do dólar subir, como explica o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central.

Ou seja, muitas pessoas acabam por trocar investimentos menos seguros em solo brasileiro (retirando dinheiro da economia local) por outros no exterior que apresentam menor risco de perda. "É muita gente vendendo em reais e comprando dólares para poder aplicar lá fora, levando a uma alta significativa", afirma Schwartsman.
A retirada de dinheiro do mercado brasileiro também tem afetado a Bolsa de Valores, que tem sofrido constantes quedas nos últimos tempos. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, costuma se comportar de maneira inversamente proporcional à cotação do dólar: enquanto um sobe, a tendência do outro é descer.
Enquanto isso, mesmo sendo um dos principais afetados pela Covid-19, os Estados Unidos vivem um movimento contrário. Enquanto o Brasil vê o capital sendo tirado de sua economia, os norte-americanos veem dinheiro sendo injetado, com muitas pessoas, de todo o mundo, comprando títulos de seu governo e sua moeda local.
Um dos principais receios quando o dólar sobe são os impactos na inflação, uma vez que os valores de produtos importados e exportados costumam ser ligados à moeda americana. De acordo com Schwartsman, no entanto, esta não é uma preocupação muito importante no contexto atual. Isso porque, segundo ele, não parece estar havendo um grande repasse no preço destes produtos, o que deve, em alguma medida, ajudar na recuperação do atual cenário de crise.
Segundo o ex-diretor do Banco Central, com a atual cotação do dólar, o Brasil consegue exportar mais facilmente tudo o que é produzido localmente, mas tem dificuldade em importar, o que caracteriza um câmbio desalinhado. Considerando que tudo que é produzido na Brasil acaba ficando mais barato, a exportação deve ser facilitada, o que, para muitos economistas, pode levar à diminuição da concorrência de outros exportadores em relação aos produtos brasileiros.
Além disso, como a importação é dificultada devido ao câmbio, o mercado interno tem que adquirir produtos nacionais. Com isso, quando o ritmo de compras no país voltar ao normal, uma preferência maior deve ser dada aos produtos locais, de acordo com Schwartsman.
Com a velocidade com que o dólar está subindo, o grande medo é de que a moeda americana atinja níveis estratosféricos – ainda maiores do que já atingiu – e nem mesmo os economistas chegam a um consenso sobre o que será do futuro. Alguns acreditam que a moeda possa atingir R$ 6 e outros creem que ficará abaixo de R$ 5. Alexandre Schwartsman é um dos que acreditam na baixa: "Minha impressão – é difícil fazer previsões neste momento – é que me parece um pouco esticado o valor do dólar, na casa do R$ 5,20, R$ 5,30. É mais provável que ele caia do que suba". Segundo a edição de 4 de maio do Relatório Focus do Banco Central – que considera as estimativas de mais de 100 instituições do mercado financeiro – , o ponto médio das previsões para o dólar no fim do ano está em R$ 5.
Schwartsman avalia que os movimentos do mercado têm sido muito mais ditados pelo pânico do que por um raciocínio mais elaborado. Ou seja, com o retorno à situação normal, o patamar buscado pelo dólar deve ser inferior ao de hoje, inclusive abaixo de R$ 5. "Eu não ficaria espantado", diz.
Por ora, não há nada no âmbito econômico que o governo brasileiro possa fazer para reverter o atual quadro de instabilidade, no entendimento de Schwartsman, uma vez que as principais forças do que está acontecendo não vêm de dentro, mas sim de um movimento mundial causado pela pandemia.
"As ações estão muito mais do lado de medidas de saúde pública, que podem mostrar um impacto menor da epidemia no Brasil", diz.
Na visão do economista, o que deve ser feito, mas nem tanto para tentar uma valorização do real e consequente baixa do dólar, mas sim porque é "o absolutamente correto", é mostrar que o país tem estratégias para lidar com o vírus, algo que o governo não tem mostrado, inclusive o presidente Jair Bolsonaro.
Para Schwartsman, o quanto antes o Brasil tiver condições de abandonar a quarentena e o isolamento social, melhor vai ser para a economia local.
Em meio à discussão de medidas que possam atenuar os impactos do novo coronavírus, o secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, fez uma proposta que dividiu os economistas. Em entrevista à BBC News Brasil, Meirelles sugeriu que o Banco Central (BC) “imprima dinheiro” para combater as consequências econômicas da pandemia.
Presidente do BC durante os dois mandatos de Lula (2003-2010) e ministro da Fazenda no governo Temer (2016-2019), Meirelles defendeu sua proposta com veemência, argumentando que a retração da economia será tão brutal que não haverá risco de inflação. Entretanto, a opinião está longe de ter unanimidade. Para alguns economistas entrevistados, a proposta pode ser uma solução viável; para outros, está fora de cogitação diante do risco de inflação e por existirem alternativas mais indicadas para o contexto brasileiro.
Dinheiro que dá em árvore
A ideia de “imprimir dinheiro” frequentemente é interpretada de forma errônea, uma vez que não é baseada apenas no aumento da quantidade de papel-moeda, e sim em um conjunto de fatores que promovem uma expansão na base monetária. Entre eles está a compra e a valorização de títulos pelo BC, que gera dinheiro para o mercado e o redireciona para investimentos e empréstimos.
Com a economia estimulada, a taxa básica de juros (no Brasil, a taxa Selic) diminui e a demanda é aquecida novamente. Porém, outros fatores podem influenciar os resultados da medida, entre eles a inflação.
“Para dar certo precisaria ser bem pensado”
Para o professor da GVLaw Rafael Bianchini, existe a possibilidade de adotar a ideia da emissão de moeda, mas “não pode ser uma medida perene, tem que ser muito pontual para essa crise que estamos vivendo”.
De acordo com o economista, o que está subjacente ao conceito de imprimir dinheiro é o Banco Central financiar o Tesouro, mas hoje isso é vedado pela Constituição Federal (artigo 164, parágrafo primeiro). “Ou seja, demandaria uma emenda constitucional ou no mínimo um outro entendimento da Constituição."
E um dos maiores temores diante da adoção da medida é a inflação. Porém, segundo Bianchini, com o isolamento social, a demanda está caindo muito mais do que a produção. O professor menciona os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do mês de março, que mostram uma inflação muito elevada nos preços de alimentos (mais de 1%), mas no restante dos itens uma variação considerada baixa para o mês (de 0,7%). Além disso, o mercado já prevê uma deflação nos próximos dois meses. “Então esse risco de inflação, nesse tipo de contexto de uma crise tão forte como a da Covid, é muito pequeno”, diz o economista.
Para Bianchini, caso se decidisse adotar a proposta de Meirelles, seria necessário criar uma emenda constitucional bem desenhada, “porque voltando a normalidade não faria sentido o Banco Central continuar financiando o Tesouro Nacional, até para não ser uma violação a nossa Constituição”.
Professor da PUC prefere a venda de reservas
Já para o professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) Claudemir Galvani, a emissão de dinheiro não seria a melhor ideia, e sim o endividamento, “porque a dívida você tem um prazo maior para pagar e a inflação é um negócio muito mais difícil de controlar”.
Galvani diz que na crise de 2008 – quando as Bolsas de Valores despencaram, fazendo com que os governos de vários países anunciassem planos de socorro à economia – a dívida interna no Brasil estava próxima a 45% do PIB e a emissão de moeda foi adotada como uma saída.
“Pode ser uma boa possibilidade apenas quando a dívida está muito alta ou quando o mercado não está mais aceitando comprar títulos do governo”, avalia o professor da PUC-SP. “Nós temos US$ 340 bilhões de reservas, o que é muito grande, então daria para vender quase um terço disso e continuar com uma brutal segurança", acrescenta.
“Não serve para um país como o Brasil”
Para Zeina Latif, doutora em economia e ex-economista-chefe da XP Investimentos, a medida defendida por Meirelles não é a melhor prescrição de política econômica para o Brasil, pois reeditaria, segundo ela, um erro cometido pelo país até meados da década de 1980, quando o BC injetava liquidez de maneira direta ou indireta e o resultado era uma hiperinflação, debelada apenas com o Plano Real, em 1994.
A proposta seria viável, de acordo com a economista, se adotada em países que têm marcos institucionais mais sólidos e que não possuem problemas de inflação. “A nossa inflação agora está baixa, mas vamos lembrar que até outro dia a gente estava falando de uma inflação que ameaçava sair do controle no governo Dilma. Então não temos ainda um BC com regimes de metas tão solido assim”, afirma.
Segundo Zeina, a emissão de moedas colocaria em risco o cumprimento das metas de inflação, viabilizado normalmente pela fixação adequada da taxa básica de juros. “Nesse desenho você não teria como deixar a taxa de juros positiva. Iriamos ter fuga de capitais do país, porque ninguém iria comprar dívida pública com juro zero”, explica a economista.
“Na hora da crise, o Estado precisa intervir e logo”
Para Marcos Henrique do Espirito Santo, professor de economia do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), “a emissão monetária é necessária, porque ela não necessariamente causa inflação”. Segundo ele, “é importante lembrar que na caixa de ferramenta dos economistas nada é estático”.
Espírito Santo cita o caso do governo dos Estados Unidos, que vai gastar aproximadamente US$ 2 trilhões. Ou seja, o país irá investir em sua economia mais do que o próprio PIB do Brasil. “Todo mundo vai expandir dívida e todo mundo vai ter que expandir a quantidade de moeda, e isso é da lógica de funcionamento do capitalismo”, afirma o professor da FMU.
O bairro da Liberdade, em São Paulo, é atualmente o maior reduto da comunidade asiática na América Latina, com restaurantes, lojas e festivais que representam a cultura oriental. O local se tornou um ponto turístico da cidade e conta com diversos estabelecimentos comerciais que estão sofrendo devido à Covid-19, que levou ao fechamento de lojas e ao isolamento social.
De restaurantes a lojas de cosméticos, tudo na Liberdade é conhecido pelo toque oriental, apesar de não ter sido sempre assim. Os primeiros japoneses chegaram em 1912, atraídos pelos aluguéis mais baratos. Pouco tempo depois, já existiam os estabelecimentos familiares que tornaram o bairro o que ele é hoje. Muitas famílias orientais não moram mais no local, porém mantêm seus comércios e fontes de renda.
O fechamento de lojas e serviços não essenciais foi decretado pelo governador de São Paulo, João Doria, e começou a valer a partir de 24 de março. Porém, antes disso, muitos comerciantes já haviam fechado seus estabelecimentos por medo da doença respiratória.
É o caso de Aríana Spataro, proprietária da loja de incensos e artigos esotéricos Ita Brazil, que funciona há 21 anos na galeria SoGo Plaza. Aríana e a sócia, Elaine, têm apenas uma funcionária, de 51 anos. A lojista afirma que prefere dar emprego a pessoas dessa faixa etária, que costumam ter dificuldade para encontrar trabalho.
As três estão em isolamento social desde o dia 19 de março, tendo saído somente para ir ao supermercado e à farmácia. A mãe de Elaine é idosa e, portanto, do grupo de risco, o que causa preocupação às sócias, que estão se ajudando nas tarefas cotidianas.
Aríana conta que a situação financeira está muito difícil, já que a loja é a única fonte de renda delas. “Na real, não sabemos até quando nós iremos aguentar, porque está muito difícil, principalmente para nós que vivemos desse comércio”, diz.
Devido às características de seus produtos e do público consumidor, a Ita Brazil não consegue realizar vendas online. Com foco principal em incensos, a loja também vende mandalas, estátuas, incensários e cristais, artigos que a maioria das pessoas prefere adquirir presencialmente, seja por conta dos aromas ou até mesmo pela carga espiritual que vinculam às peças. A lojista relata que já tentou vender pela internet, mas que realmente não funciona. “Por isso que é dessa forma que a gente trabalha, com a porta aberta.”
Além da dificuldade em vender os artigos online, a maioria das mercadorias é importada da Indonésia, chegando na loja por meio de distribuidoras, que também estão enfrentando problemas por conta do coronavírus. Assim, a loja não está vendendo e nem recebendo os produtos, deixando a proprietária aflita sobre quando a situação vai se normalizar.
Apesar da situação complicada e do aperto financeiro, Aríana diz ter fé e esperança de que tudo isso vai passar.
Em contrapartida, a Omohna Store, uma loja de acessórios voltados ao pop coreano, conhecido como Kpop, está se preparando para migrar para as vendas online. A proprietária, Natália Pak, de 33 anos, disse que ela e seus dois funcionários ainda estão catalogando os produtos para disponibilizá-los no site.

Ela também relata que teve bastante procura pelos produtos após o começo das medidas de isolamento social, principalmente pelas máscaras de proteção coreanas, que já eram vendidas pela loja há alguns anos.
A Omohna Store funciona há cinco anos, e atualmente, assim como outros estabelecimentos, está remanejando gastos para economizar por conta da crise.
“Não está sendo diferente para nós, estamos economizando ao máximo nas compras de mantimentos e juntamos tudo o que tínhamos para pagar as contas, que não param. O máximo que conseguimos fazer é negociar os aluguéis, como o da loja e o da residência. Assim não precisamos reduzir os salários dos funcionários e nem deixar de pagar as contas da loja”, diz Natália.
Assim como Aríane e Elaine, da Ita Brazil, Natália tem enfrentado dificuldades em relação aos fornecedores. Todas as mercadorias da Omohna Store são importadas da Coreia e atualmente, por conta da pandemia, nada está saindo do país. Natália afirma que os fornecedores coreanos também estão passando por uma crise.
Já o mercado de produtos nacionais e importados Empório Azuki está atendendo por WhatsApp. Inaugurada em 2012, a loja tem 30 funcionários e começou recentemente a realizar vendas online, disponibilizando o catálogo nas redes sociais e via WhatsApp. Apesar de ter se adaptado rapidamente ao comércio virtual, a loja relata que a queda nas vendas físicas foi assustadora, impossibilitando, por isso, um reajuste de preços apesar da disparada do dólar. O estabelecimento ressalta que, como a Liberdade é um lugar turístico, muitos clientes são de fora do bairro. Por último, diz que está mantendo um bom relacionamento com os fornecedores e que considera a parceria fundamental.
Lojas:
Ita Brazil - Incensos indianos e artigos esotéricos. Rua Galvão Bueno, 40, 44, Liberdade, São Paulo/SP. Contato: (11) 95380-3501.
Ohmona Store - Loja de K-Pop e produtos coreanos originais. Rua Galvão Bueno, 200, lojas 23 a 28. São Paulo/SP. Instagram e Facebook: @ohmonastore.
Empório Azuki - Mercado de produtos nacionais e importados. Rua Galvão Bueno, 16, Liberdade - São Paulo/SP. Instagram e Facebook: @emporioazuki

por Laura Pancini

Imagem do filme “Histórias Cruzadas”, que conta vida de domésticas negras nos anos 60. (Foto: Carta Capital)
Cento e vinte quilômetros. Era essa a distância que uma empregada doméstica de 63 anos tinha que percorrer até o seu trabalho semanalmente. Apesar da idade e de ter diabetes e hipertensão, sua condição financeira a obrigava a continuar trabalhando na casa de uma família no Alto Leblon. Isso até o dia 17 de março. A mulher, que não teve seu nome divulgado, teve a primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro. Os primeiros sintomas surgiram no dia anterior e a trabalhadora foi levada ao hospital, mas não resistiu à falta de ar. Seu contato com o vírus se deu por meio de sua patroa, que havia acabado de voltar da Itália.
Esse caso de transmissão local (quando alguém contaminado no exterior passa o vírus adiante) mostrou um risco gigantesco para quem é empregado doméstico no Brasil. Segundo o IBGE, trabalhadores domésticos representam 6,3 milhões de empregados no país. Desse número, 2,5 milhões são diaristas e só 1,5 milhão trabalham com carteira assinada. A estimativa é que de 15% a 20% sejam maiores de 60 anos: ou seja, um quinto da categoria está inserido no grupo de risco da Covid-19.
O Ministério da Economia anunciou acesso ao seguro-desemprego para quem teve redução de jornada e salário ou contrato suspenso, mas essa medida se limita a trabalhadores com carteira assinada. Apesar de o titular da pasta, Paulo Guedes, ter afirmado, em entrevista para o jornal O Globo, que “ninguém será deixado para trás”, sua medida protege apenas 28,4% dos 6,3 milhões de domésticos no Brasil — os outros 71,6% não são formalizados e dependem do próprio empregador para saber o futuro da sua renda.
Essa é a realidade da diarista Fernanda Moraes, 33, que está com a renda estagnada por conta da crise do coronavírus. Ela trabalha em duas casas e foi liberada por ambas. Uma de suas patroas a auxiliou com um total de R$ 300 nas primeiras três semanas da quarentena, mas logo depois interrompeu o contato e os pagamentos. A outra empregadora, uma senhora de 80 anos, não disse nada depois de dispensá-la.
Com o aluguel e as contas atrasadas, Fernanda está à espera do auxílio emergencial do governo, que oferece R$ 600 para pessoas que se encontram em situações como a dela, mas o tempo é crítico em momentos como esse. “Por aqui onde eu moro, em Itapecerica da Serra, não está tendo nenhum tipo de doação”, ela conta. “Tento ir ao mercado uma vez por semana, mas os itens da cesta básica estão cada dia mais caros.”
Fernanda ainda tenta ajudar sua mãe e seus três filhos que moram com o pai, mas, sem um trabalho fixo, ela não está conseguindo acudir a família. “Como sou diarista, não sou registrada. A crise me fez perceber o quanto isso faz falta”, ela comenta. Agora, ela tenta se manter com alguns “bicos” feitos pelo marido e a ajuda de amigos. Acima de tudo, tenta se manter positiva: “Mesmo com dificuldades, estamos dando um jeito”.
O Ministério Público do Trabalho (MPT), em uma nota técnica, orientou a dispensa dos domésticos e diaristas, com a continuidade do pagamento dos salários, e sugeriu que a negociação fosse feita entre o trabalhador e o patrão. Tal dinâmica soa simples no papel, mas acaba sendo injusta para o empregado. Em sua nota, o MPT comenta: “As trabalhadoras domésticas estão entre as pessoas mais expostas aos riscos de contaminação da Covid-19; pois dependem de transportes públicos para ir ao trabalho, estão em contato direto com pessoas (crianças, idosos, pessoas doentes ou portadoras de deficiências) e não têm a opção de não trabalhar ou de trabalhar de casa, principalmente no caso das diaristas”.
Apesar da recomendação do Ministério, mulheres como Eliane Mota, 41 anos, não sentem que têm outra opção. Ela trabalha desde 2012 na casa da mesma família e, além desse emprego, tem orgulho de ser conhecida como uma faz-tudo. “Cozinho, faço doces e salgados e também faço cabelo e unha. O que aparecer, eu sei fazer.” Atualmente, Eliane é a única doméstica indo trabalhar todos os dias em um prédio de 48 apartamentos na zona sul de São Paulo.
Por conta da crise do coronavírus, Eliane se tornou a única fonte de renda em sua casa. “Meu filho e meu marido trabalhavam em restaurantes e perderam seus empregos. Eles estão em análise para o auxílio emergencial e eu, como sou registrada, não vou consegui-lo”, comenta. “Meu salário é de R$ 1.300 e meu aluguel é R$ 1.200. Tive que pagar metade do aluguel e usar o restante para comprar comida. Conseguimos nos manter, mas não é mais a mesma coisa.”
Para pegar seus ônibus diários, Eliane usa luvas e máscara. Para ela, é preocupante a falta de limpeza dos ônibus e o descuido das pessoas que pegam o transporte público. Como sua filha tem bronquite, ela toma todos os cuidados necessários para não se contaminar. “Eu tiro os sapatos antes de entrar na casa em que trabalho, descarto as luvas, troco de roupa e lavo as mãos e os braços.”
No começo da quarentena, sua patroa ofereceu 15 dias de folga, mas logo depois pediu para Eliane voltar. “Ela disse: ’E se eu te der mais folga e você ficar doente depois? Como é que eu faço?’. Acabei voltando, mas logo depois fiquei gripada e me ausentei de novo. Não tive sintomas de coronavírus, mas não tinha condições de sair de casa.”
No final, se automedicou com alguns remédios e voltou para o trabalho alguns dias depois. “Minha patroa não queria ficar sozinha e já tinha avisado que, se eu não fosse trabalhar, ela ia achar outra pessoa para entrar no meu lugar. Aí tive que ir, né? Como iríamos pagar o aluguel?”, conta Eliane, que se encontrou em uma encruzilhada. “Ou fico desempregada, ou trabalho. Como estou sem opção, fui trabalhar.”
Histórias como as de Eliane Mota e Fernanda Moraes são apenas um recorte de um problema muito maior no Brasil. O auxílio do governo exclui uma parcela gigantesca de famílias com histórias complexas demais para preencherem os requisitos. Quem sofre no final são os milhares de domésticos, em sua maioria mulheres negras, idosas e periféricas, que arriscam a vida todos os dias para manter a renda.
Por Maria Fernanda Favoretto
Elas são maioria entre os trabalhadores informais e desempregados, as mais prejudicadas pelas disparidades salariais e vivem sobrecarregadas pelos cuidados domésticos. Historicamente, esta é a realidade enfrentada pelas mulheres. Com a pandemia da Covid-19, no entanto, a vulnerabilidade feminina ficou ainda maior.
Em nota divulgada no dia 24 de março, a ONU Mulheres confirmou esse quadro desfavorável. “A maioria das mulheres trabalha na economia informal, onde o seguro de saúde provavelmente não existe ou é inadequado e a renda não é segura. Como elas não são contempladas por ajuda financeira, acabam não tendo suporte”, disse no comunicado a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora-executiva do órgão.
Mlambo-Ngcuka disse também que a maioria dos profissionais de saúde são mulheres, o que as coloca em maior risco. “Muitas delas também são mães e cuidadoras de familiares. Elas continuam carregando a carga de cuidados, que já é desproporcionalmente alta em tempos normais”, comentou.
No Brasil, segundo informações da ONU Mulheres, 85% dos profissionais da enfermagem, 45,6% dos médicos e 85% dos cuidadores de idosos pertencem ao sexo feminino. Ou seja, não são elas apenas as mais afetadas social e economicamente, mas as mais vulneráveis ao contágio do coronavírus.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no mês de fevereiro dados sobre a taxa de desemprego do quarto trimestre de 2019. O número, que faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad), mostra que a atual taxa de desocupação gira em torno de 11,9%. O mesmo índice sobre as mulheres brasileiras foi calculado em 13,1%, superior à taxa masculina, de 9,2%. Entre a população desempregada, mulheres também somam a maioria: 53,8%.
Em matéria publicada no dia 27 de março no portal Valor Investe, o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, projetou que os primeiros e mais afetados pela falta de emprego serão os trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm suas atividades regulamentadas pelo Estado, e que representam 40,7% da força de trabalho ocupada no país, ainda conforme a Pnad referente ao quarto trimestre de 2019.
Segundo a "Síntese de Indicadores Sociais 2019 - Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira", divulgada em março pelo IBGE, a proporção de mulheres em ocupações informais no Brasil é de 41,6%, tendo principalmente maior atuação no trabalho auxiliar familiar e no trabalho doméstico sem carteira assinada.
Em âmbito domiciliar, dados publicados pela Agência IBGE Notícias em setembro do ano passado mostram que a taxa de realização de afazeres domésticos em domicílio é de 92,2% para as mulheres e 78,2% para os homens. Ou seja, as mulheres dedicam, em média, 21,3 horas por semana a esse conjunto de atividades, enquanto os homens, apenas 10,9 horas. Ou seja, frente à pandemia do coronavírus e à alta esperada no desemprego, as poucas privilegiadas que não serão demitidas e poderão trabalhar em home office terão que alinhar o serviço a uma rotina de cuidados com a casa e a família.
Para muitas mulheres, infelizmente, o vírus e os problemas econômicos não são os únicos desafios. Como consequência do processo, a taxa de violência doméstica também aumentou. No Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos informou que a quarentena gerou uma alta de quase 9% no número de ligações para o Ligue 180, canal que recebe denúncias de violência contra a mulher. Enquanto a média diária entre os dias 1° e 16 de março foi de 3.045 ligações e 829 denúncias, entre os dias 17 e 25 de março foram 3.303 ligações e 978 denúncias. Só na cidade de São Paulo, os registros de violência contra a mulher aumentaram 30% no mesmo mês.
No dia 9 de abril, o governo começou a distribuir um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, formados em sua maioria pelas mulheres. Mulheres que são chefes de família também podem solicitar o auxílio.
Debora Adão Alves da Silva, 30, moradora do bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, é uma das que estão recebendo o benefício . Mãe solteira e desempregada desde agosto de 2019, conta que sua principal fonte de renda para cuidar da filha de apenas um ano é a pensão mensal de R$ 300.
“Esta pandemia, não só para mim, mas para todos de baixa renda, vem causando um grande transtorno. No meu caso, não tem como eu trabalhar para sustentar minha filha, pois ela tem bronquite e está no grupo de risco. Tem dias que não tenho sequer R$ 1 para comprar pão”, conta Debora.
A moça ainda comenta: “Minha filha estava em fase de adaptação na creche, justamente para que eu pudesse voltar a procurar uma nova oportunidade de emprego”.
Com o valor disponibilizado pelo governo em mãos, Debora fala sobre a aplicação da verba: “Pretendo usar esse dinheiro enchendo os armários e comprando as coisas da bebê. As contas ficarão para depois”.