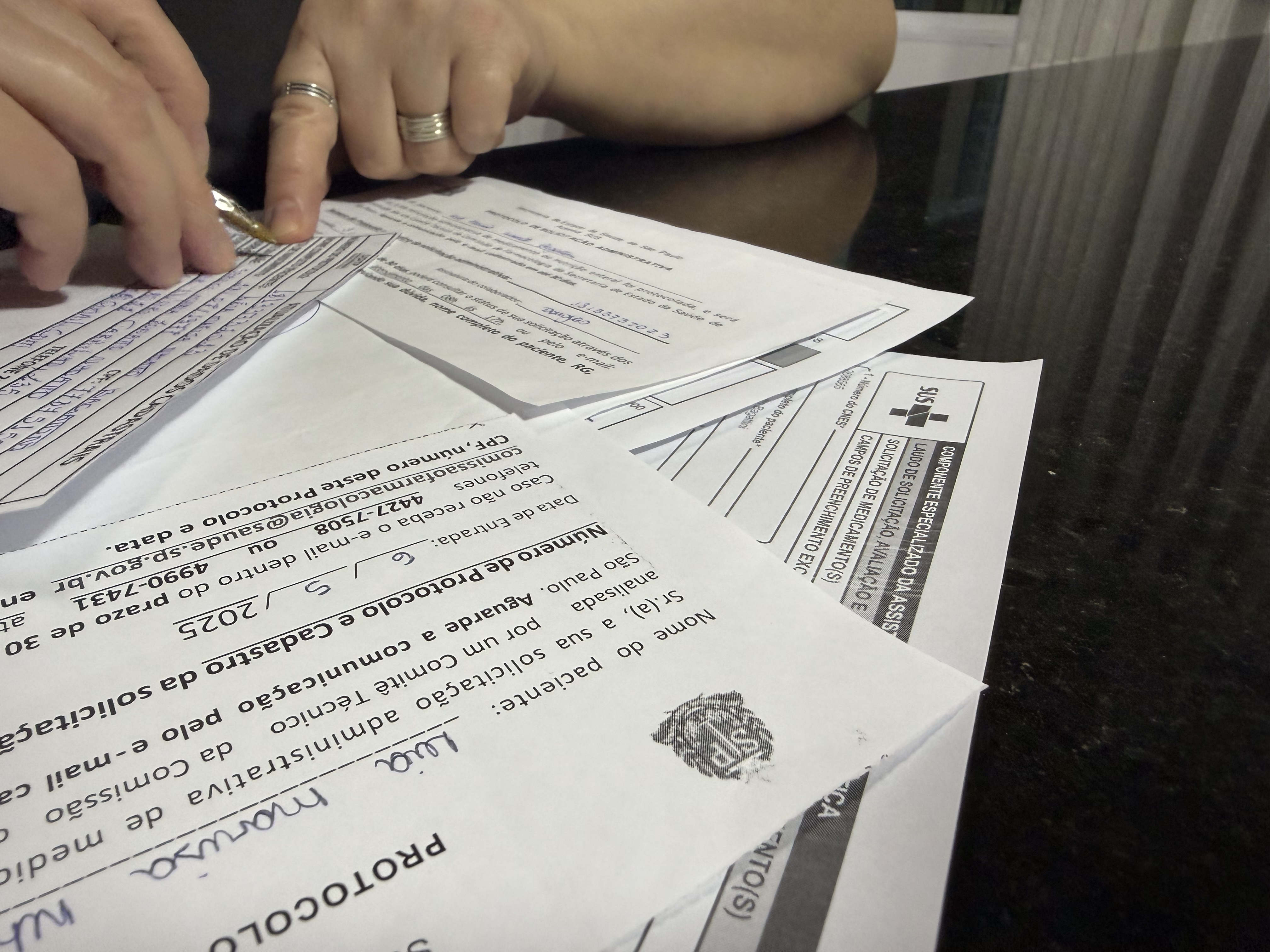Uma data muito especial para os casais, mas que este ano deve frustrar tanto os comerciantes quanto os consumidores. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), as vendas do varejo neste Dia dos Namorados devem cair 33% em relação ao ano passado.
Trata-se, em números absolutos, de um decréscimo de aproximadamente R$19 bilhões no faturamento, um impacto que, nem mesmo a reabertura gradual do comércio não essencial será capaz de evitar. "Não deve haver muita procura para presentes no Dia dos Namorados, uma vez que também houve baixa na intenção de consumo das famílias", afirma a FecomercioSP, em nota.
De acordo com a federação, o ramo que mais sofrerá com a pandemia será o de vestuário, que terá uma retração de 67% nas vendas da data, o equivalente a R$ 3,5 bilhões a menos em comparação ao ano passado. Com isso, comerciantes buscam alternativas para driblar a crise e atender os pedidos dos consumidores, mesmo sem contar com as lojas físicas. É o caso de Juliana Dias, que abriu uma loja virtual de roupas no Instagram. “Como ainda não posso abrir meu brechó por causa da pandemia, esse foi o jeito que encontrei para não ter tanto prejuízo”, diz a comerciante.
Além disso, Juliana tem feito promoções para ajudar o consumidor. “Não está sendo fácil para ninguém. Quem compra também sofre os efeitos da crise e precisa economizar no presente”, completa.
Comerciantes como Juliana, que irão vender através da internet, levarão o comércio eletrônico a um aumento de 18% no faturamento do período, segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). De acordo com a entidade, entre os dias 25 de maio e 12 de junho, as vendas do setor devem somar R$ 2,96 bilhões, com destaque para as áreas de vestuário, perfumaria, tecnologia e flores.
Os pombinhos também precisam ser criativos para conseguir comprar um bom presente para a pessoa amada e não extrapolar nos gastos. O nutricionista Lucas Rocha, de 25 anos, aposta nos DIY, em inglês do it yourself (“faça você mesmo”), que são lembranças baratas, mas que carregam um grande valor sentimental. “Vou dar para a minha namorada uma caixa personalizada com fotos nossas e vários docinhos que ela gosta”, relata o rapaz.
As vendas do comércio varejista podem fechar 2020 com o pior desempenho da história, porque a recuperação da crise não vai ser rápida e em outras datas comemorativas, como Natal, Dia dos Pais e Dia das Crianças, as famílias ainda vão estar sofrendo os efeitos da turbulência econômica, por causa do aumento do desemprego e do endividamento. As empresas também não sairão ilesas, porque, além da retração nas vendas, o quadro de funcionários será reduzido e a liquidez também, aponta a FecomercioSP.
O setor do varejo (caracterizado pela venda de produtos ou comercialização de serviços em pequenas quantidades) tem sofrido forte impacto desde que a crise causada pelo novo coronavírus se instaurou no país, em meados de março. Para se ter uma ideia, estabelecimentos de setores importantes, como turismo, eletrodomésticos, vestuário e eletroeletrônicos, estão fechando ou precisando recorrer ao crédito, pois estão sofrendo uma queda de até 10% nas vendas.
O varejo brasileiro vende em média R$ 35 bilhões em um mês regular e emprega 1,3 milhão de trabalhadores formais. De acordo com o analista econômico Rafael Bianchini, esta crise está sendo vista por muitos economistas como a pior desde a Grande Depressão dos anos 1930.
“Alguns setores estão sendo afetados de maneira mais profunda, outros de maneira menos profunda, mas todos vão perder”, diz Bianchini.
Segundo ele, até mesmo os ramos do comércio que tiveram algum crescimento no começo da pandemia, como farmácias, estão registrando queda nas vendas. “Difícil que algum setor passe imune nesta crise”, afirma.
Para amortecer os impactos, empresas de diferentes portes têm buscado diminuir os custos, renegociando itens como aluguel, contratos com estacionamentos e empréstimos bancários, para os quais pedem alongamento de prazos e redução das taxas de juros.
Segundo o economista Guilherme Dietze, representante da FecomercioSP, os órgãos que defendem os comerciantes de São Paulo têm apresentado medidas para ajudar os seus afiliados. “O que nós da Fecomercio temos sugerido ao governo é a postergação do pagamento de impostos, como, no caso do município de São Paulo, o IPTU, que não foi feito até agora. Mas as medidas do governo têm sido muito tímidas até o momento em relação ao que o varejo e o setor de serviços precisam”, comenta Dietzel.
De acordo com o economista, algumas medidas anunciadas, como a criação de linhas de crédito, não estão chegando aos comerciantes, pois os bancos contratados como agentes financeiros estão com receio de emprestar o dinheiro e sofrer com a inadimplência. Diante disso, a alternativa possível, segundo Dietzel, tem sido se valer das medidas provisórias 927 e 936, que flexibilizaram as relações de trabalho, permitindo, por exemplo, a redução de jornada com diminuição do salário ou a antecipação de férias e feriados.
Outra medida também adotada pelos comerciantes é a migração para o comércio eletrônico (e-commerce), cujo faturamento aumentou nas últimas semanas e deve continuar crescendo.
“O comércio eletrônico, em relação ao varejo físico, representa cerca de 4 ou 5%, um pouco mais quando ocorre a Black Friday, em novembro. É um mecanismo que está sendo muito explorado pelos consumidores, pois os Correios estão funcionando normalmente e até mesmo as entregas particulares estão sendo usadas. Porém, as pessoas agora estão conseguindo comprar, mas, se a crise permanecer em uma amplitude forte, com fechamento de lojas e desemprego, todos vão sofrer, até mesmo os supermercados e farmácias”, diz o economista da FecomercioSP.
Muitos lojistas já entendem que, no pior dos cenários, deverão fechar as suas lojas, principalmente os microempresários, que possuem menos recursos financeiros e capital de giro que possibilitem um funcionamento normal durante e depois da crise.
“Nessa crise vai haver uma seleção natural: quem estiver ruim vai acabar fechando sua loja e demitindo funcionários, e aqueles que estiverem relativamente melhor estruturados deverão conseguir se sobressair e até mesmo ter mais condições de ter crédito, pois, com as contas organizadas, consegue-se ter uma previsibilidade dos bancos para obter algum tipo de crédito”, avalia Bianchini.
Também é importante salientar que a crise afetará toda a economia brasileira e mundial, sem exceções. Sem a renda dos trabalhadores formais que estão sendo afetados pelas medidas de isolamento social implantadas pelo governo federal, o consumo consequentemente cairá mais do que o previsto, muito embora não se tenha indicadores fechados para todos os setores da economia.
Resta aos comerciantes neste momento pensar em estratégias e cuidar de seu capital de giro para que não tenham um prejuízo maior do que o já previsto e também consigam pagar as suas dívidas, contando com a boa vontade que o governo deve ter neste momento de calamidade.
Os impactos da pandemia do novo coronavírus são perceptíveis na economia brasileira. Um desses reflexos é a queda da taxa de inflação e suas previsões para este ano. No último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central (BC) no dia 8 de junho, a projeção do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2020 caiu para 1,53%. Um mês antes, a previsão estava em 1,76% e, no fim de 2019, em 4,04%.
Este declínio é um reflexo da crise desencadeada pela pandemia de Covid-19, que provocou uma restrição no poder de compra da população e, com isso, uma forte queda da demanda no país. O nível da atividade econômica está tão baixo, que, se antes mantinha a inflação sob controle, agora a direciona para baixo da meta, mesmo com a alta do dólar pressionando para cima os produtos importados ou influenciados pela moeda americana.
Para este ano, a meta do governo para o IPCA é de 4%, podendo variar 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, ficar entre 2,5% e 5,5%. A projeção atual do mercado, portanto, indica que o IPCA ficará abaixo do piso da meta deste ano. A meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional, e fica sob responsabilidade do BC atingi-la, através de uma série de medidas.
Em situações de queda da inflação, a principal medida a ser tomada pelo BC é a redução da taxa básica de juros, a Selic. Essa é uma tentativa de reaquecer a economia, já que as condições de financiamento melhoram e crescem as possibilidades de compra. Atualmente, o juro básico está em 3%, mas, de acordo com as estimativas divulgadas no Boletim Focus, deve finalizar o ano em 2,25%
O economista Fábio Silveira, sócio-diretor da MacroSector Consultores, diz que, ao reduzir a taxa Selic, o Banco Central cumpre um papel importante de injetar liquidez na economia (ou seja, aumentar o dinheiro em circulação), em benefício das empresas e das famílias. Ele defende que a instituição seja ainda mais ousada, tomando como exemplo a atuação do FED, o banco central americano.
Para Claudemir Galvani, diretor da Metha Consultoria e professor do departamento de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a inflação baixa, ainda dentro da meta, é positiva pois preserva o poder de compra, principalmente das classes mais baixas. Ele considera que a margem de 2% a 5% para o índice geral de preços é razoável.
Levando em conta essa mesma margem, Silveira aponta ser um índice civilizado, que ainda demonstra certo vigor da economia. Para ele, apesar de estar em queda, o IPCA ainda não motiva preocupações. Mas o momento exige atenção para as formas de controle e para a retomada do piso da meta. Galvani pontua que, se por um lado considera que a inflação próxima de 2,5% pode ser benéfica, por outro, os motivos que levam a ela preocupam – no cenário atual, a crise econômica por conta do coronavírus. O índice da inflação baixo, dentro da meta, pode ser considerado positivo, desde que a economia como um todo não seja sacrificada por isso. “Antes do coronavírus, a inflação já estava sob controle, por conta da forte concentração de renda e da alta taxa de desemprego, e não por controles adequados”, acrescenta o economista.
Deflação
Em maio, o IPCA registrou variação negativa (deflação) de 0,38%, a menor taxa desde o início do Plano Real, em 1994, perdendo apenas para o recuo de 0,51% ocorrido em agosto de 1998. No acumulado de 12 meses, o IPCA tem variação de 1,88%. Ou seja, se o ano terminasse em maio, o índice ficaria abaixo do piso da meta. Dos nove grupos de preços que compõem o índice, apenas três tiveram variação positiva em maio: alimentação e bebidas (+0,24%), artigos de residência (+0,58%) e educação (+0,02%). A maior queda ocorreu no grupo transportes (-1,9%), influenciada principalmente pela redução do preço dos combustíveis. .
A queda dos combustíveis está sendo determinada pela baixa histórica das cotações do petróleo. Com a demanda afetada pela crise da Covid-19, o produto passou a ter um excesso de oferta no mundo, o que derrubou o valor do barril. Além do petróleo, outras commodities têm pressionado a inflação para baixo.
As commodities são produtos de origem primária que possuem valor comercial e estratégico relevante no mercado mundial. Por serem primários, dependem diretamente dos setores para os quais são destinados, como a indústria, e seus preços são regidos pela oferta e demanda.
Considerado o medidor oficial da inflação, por ser o índice utilizado no regime de metas, o IPCA leva em conta nove grupos de produtos e serviços que fazem parte do orçamento de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos.
Regime de metas
O regime de metas foi implantado no Brasil em 1999, a fim de orientar a política monetária do país. Esta, por sua vez, se caracteriza pelo controle do sistema econômico através da estabilização de preços.
Caso a inflação supere o teto ou fique abaixo do piso da meta – como é provável neste ano –, o presidente do Banco Central deve dirigir uma carta aberta para o ministro da Economia explicando as razões do descumprimento e esclarecendo possíveis novas ações.
Ao contrário do momento atual, durante a segunda metade do século 20 o Brasil registrou a inflação mais alta do mundo e enfrentou períodos de grandes oscilações. Em 1994, o estabelecimento do Plano Real conseguiu controlar a hiperinflação. “A inflação deixou de ser um grande problema da história do Brasil, e agora é o desemprego, a renda, e é em cima disso que as medidas cabíveis devem ser tomadas”, diz Galvani.
A pandemia do COVID-19 se espalhou rapidamente, gerando dezenas de infectados e mortes. Segundo o ministério da Saúde, só no Brasil são 29 mil mortes até 01 de junho. Com isso, muitas cidades decretaram o fechamento dos comércios por tempo indeterminado, interferindo nas finanças de todos brasileiros.
Funcionários estão correndo o risco de serem demitidos ou terem seus salários reduzidos, junto com sua jornada de trabalho. Já os autônomos não sabem como manter seus negócios, uma vez que os gastos continuam e a renda diminuiu drasticamente. Muitas empresas não sabem quanto tempo vão conseguir se manter.
Advogados, médicos, dentistas, diaristas e pedreiros, são alguns dos profissionais que estão sentindo o efeito do isolamento e para quem não tem reserva de emergência, o aperto financeiro pode ser assustador.
Para Rita Valéria Galatro, dona do posto de gasolina São José Auto Posto BR, a situação não está boa. Ela continua tendo demanda em seu estabelecimento, mas o movimento é mínimo, "Estou com o número reduzido de funcionários, mas eu trabalho", afirma.
Rita está fazendo o máximo para não demitir seus funcionários, embora tenha feito essa escolha algumas vezes. Outra decisão, foi dar férias para a metade dos funcionários em abril e para a outra metade em maio, ela imagina que no próximo mês, quando todos voltarem de férias será complicado. “Se o comércio não voltar, terá que demitir mais pessoas”, afirma.
Assim como Rita, a dentista Débora Galatro, de São Paulo, está usando suas reservas de caixa, construídas ao longo da sua carreira, como renda. Seu consultório foi fechado, conforme foi imposto na Lei e segue as orientações do Ministério da Saúde de atender apenas os casos de urgência. "É muito difícil ter uma perspectiva do futuro frente a incerteza da doença. Penso que a crise econômica vai atingir a todos e isso realmente vai interferir nas relações comerciais e nos hábitos de consumo, o que provavelmente irá modificar o perfil de pacientes”, diz Galatro, que vê diminuição dos tratamentos estéticos.
Como Galatro, o advogado Sergio Miniaci, sócio da empresa Miniaci & Canto Advogados, viu sua renda cair drasticamente, ficando pelo menos um mês sem conseguir trabalhar. “Eu consegui começar a trabalhar no dia 04/05, que foi quando voltou a fluir os prazos dos processos eletrônicos, mas o volume ainda é pouco porque o Fórum continua fechado e os processos físicos suspensos. A movimentação e o lucro diminuíram muito, mas o escritório continua sendo minha única fonte de renda”, ressalta Miniaci.
Ana Paula Carvalho, dona de uma empresa que vende peças para caminhões, chegou a solicitar o auxílio emergencial para conseguir pagar as contas no prazo. A primeira vez que ela tentou retirar os R$ 600,00 foi negada por falta de informações, então ela atualizou os dados, pediu novamente e está apreensivamente aguardando a resposta. “Eu não sei se eu vou ter esse auxílio porque minha empresa não é Micro Empresa Individual (MEI). Trata-se de uma empresa individual que é administrada por pessoas que trabalham por conta própria.. Eu fiquei dois anos como empresa MEI, mas a partir de janeiro de 2020, subiu um grau, para Simples Nacional (regime tributário facilitado e simplificado para micro e pequenas empresas). Estou no aguardo. Espero conseguir porque vai me ajudar muito”, diz Carvalho.
O futuro do comércio no Brasil é incerto para todos, mas no meio dessa situação tão caótica, ainda há esperança. Ana conta que a solidariedade de seus fornecedores e amigos é o que tem mantido sua empresa funcionando: “Estamos em casa montando as buzinas e quando o cliente faz algum pedido, os caminhoneiros fazem entrega para nós sem custo algum. No mundo todo, as grandes empresas estão ajudando as médias e pequenas empresas. Os fornecedores que são grandes me falaram que eu posso pegar o que eu precisar na empresa e ir pagando conforme for recebendo. Eu acredito na ajuda das pessoas. Eu não acho que vai ter mais disso de um passar a perna no outro”.
Todos os entrevistados para essa matéria estão confiantes que a suas empresas continuarão após a pandemia, mas cientes de que não será uma tarefa fácil, por isso é necessário calma e paciência.
Desde que os primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Brasil, a população entrou em um combate para conseguir comprar os produtos que controlam a contaminação. Com a alta procura, o preço de itens como álcool gel e mascaras aumentou drasticamente, fazendo com que muitas pessoas não conseguissem adquiri-los.
Por conta do alto valor e da escassez do álcool gel, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sugeriu que o preço desta e outras mercadorias consideradas fundamentais ao combate do vírus fosse congelado. Na recomendação, entidade aconselhou ao governo federal o congelamento de preços do álcool gel, vitaminas, máscaras e luvas. A sugestão foi feita com o objetivo de evitar o aumento abusivo dos produtos e mantê-los acessíveis às pessoas de menor renda.
Kléber Colares, presidente da subseção da OAB no Vale do Salgado (CE), responsável pela recomendação, disse que o intuito da proposta seria "preservar o direito do consumidor, tendo em vista o aumento que já está acontecendo com esses produtos".
A estratégia de congelamento de preços, no entanto, é controversa entre os economistas. Muitos são contra políticas de controle, devido aos possíveis efeitos negativos que podem causar no mercado. Ainda assim, o atual contexto poderia justificar exceções, de acordo com especialistas ouvidos pela Agemt.
Segundo Silvio Campos Neto, economista-sênior da consultoria Tendências e professor das Faculdades Oswaldo Cruz, o congelamento de preços retira da economia aquilo que ela tem de melhor, que seria a negociação, o encontro entre oferta e demanda. "Quando você congela os preços, você distorce o sistema. Gera imperfeições que acabam prejudicando o próprio abastecimento, como a escassez, mercado negro", afirmou.
Entretanto, na situação atípica desta pandemia, Campos Neto disse que poderia haver um acordo entre produtores de álcool e entidades representativas de consumidores, negociando um preço que vigore por um tempo. “Poderia até se estabelecer um limite de compra de álcool gel, durante esse período, para que as pessoas não abusem. O que é negociado não sai caro", comentou, frisando a excepcionalidade do atual cenário. “Estamos possivelmente na maior pandemia da história da humanidade.”
Para José Luís Oreiro, professor de economia da Universidade de Brasília, o congelamento de preços em um cenário "normal" da economia é inviável. Contudo, na crise de saúde instaurada pelo novo coronavírus, a tática de controlar o valor do álcool gel não é uma má ideia. "O que temos, na verdade, é a especulação. Os distribuidores de álcool em gel retêm o estoque do produto e liberam em conta-gotas, para conseguir um preço mais alto. Então, o que se tem que fazer nessa situação é congelar o valor, para que não haja um aumento abusivo de preços", afirmou.
Imagem da capa: “Can you guess what this is?” | Daniel McGrotty | Sob a licença CC BY-2.0 - Creative Commons. Link: https://www.flickr.com/photos/165767995@N07/page2