Ocorreu na quarta-feira, 13 de março, uma conversa na PUC-SP sobre a crise climática e o chamado antropoceno, conhecido como a era dos humanos. Os convidados eram o ativista e escritor Ailton Krenak, o climatologista Carlos Nobre e a jornalista Daniela Chiaretti. Foi debatido, principalmente, as mudanças climáticas e o impacto da humanidade na Terra. Krenak abriu a conversa falando sobre como a crise climática afeta de diferentes maneiras as populações, entre as mais desenvolvidas e as mais pobres, existe uma grande diferença de consequências e a gravidade delas. Citando o também escritor Eduardo Galeano, ele diz: “A serpente prefere picar o pé descalço, não de quem usa bota”.
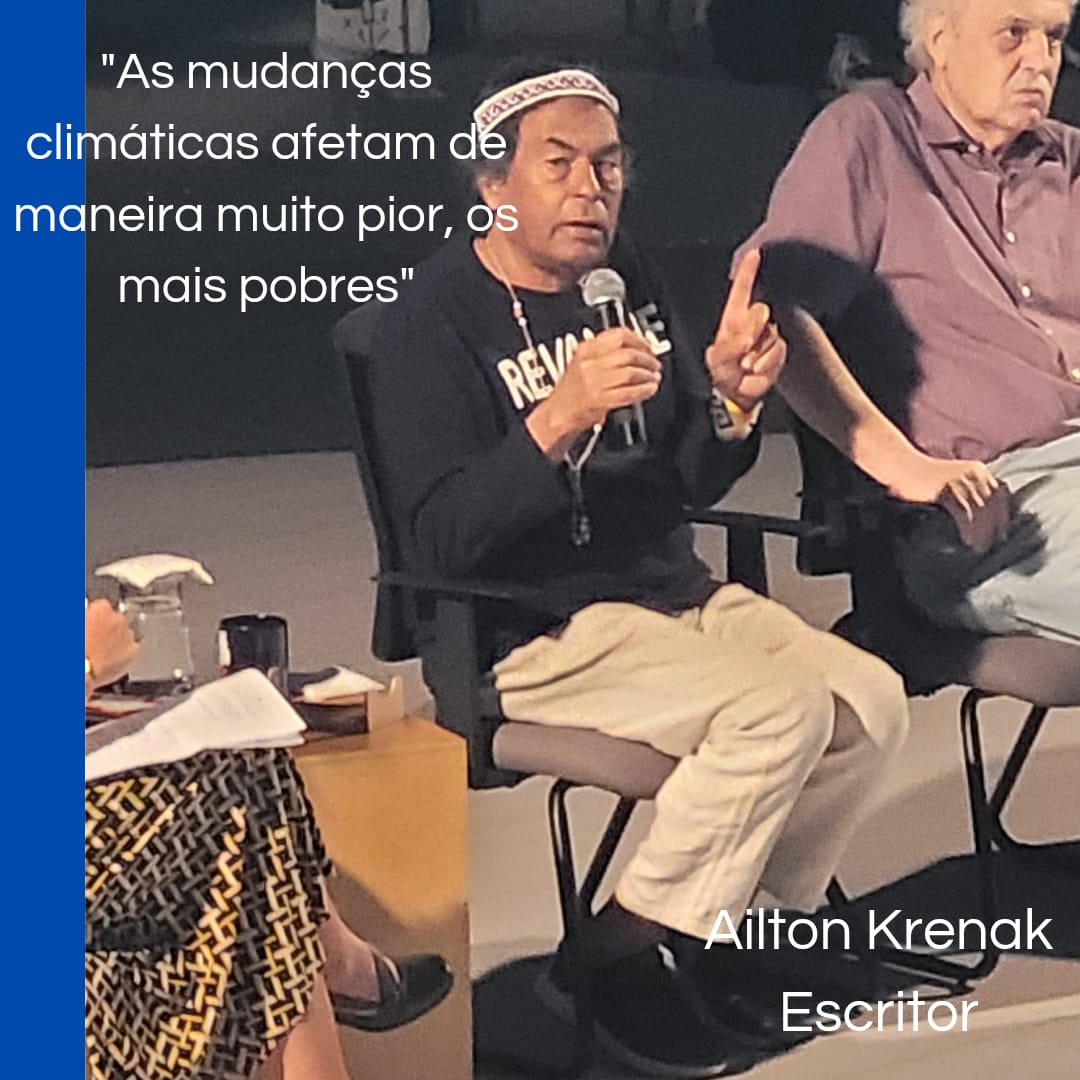
Em sua primeira fala, Chiaretti comentou o fato de o dinheiro proveniente de investimentos para a descarbonização das economias globais foi destinado majoritariamente para países com situação econômica forte, ao invés dos mais fragilizados, citando como exemplo que apenas 6% foram enviados à países latino-americanos. Ela terminou dizendo que “sem dúvida”, a crise climática ameaça as democracias, visto que ela agrava problemas sociais.

Mais tarde, foram respondidas às perguntas do público. Sobre à relação entre o clima e o capitalismo, Carlos Nobre dissertou sobre como estamos chegando perto de ultrapassar os limites em problemas categorizados como “pontos de não retorno”, levando o planeta a um ponto de “ecosuicídio”. Também abordou a questão da juventude, que hoje em dia é mais ansiosa do que nunca, também causado pela incerteza do futuro diante das mudanças do clima.
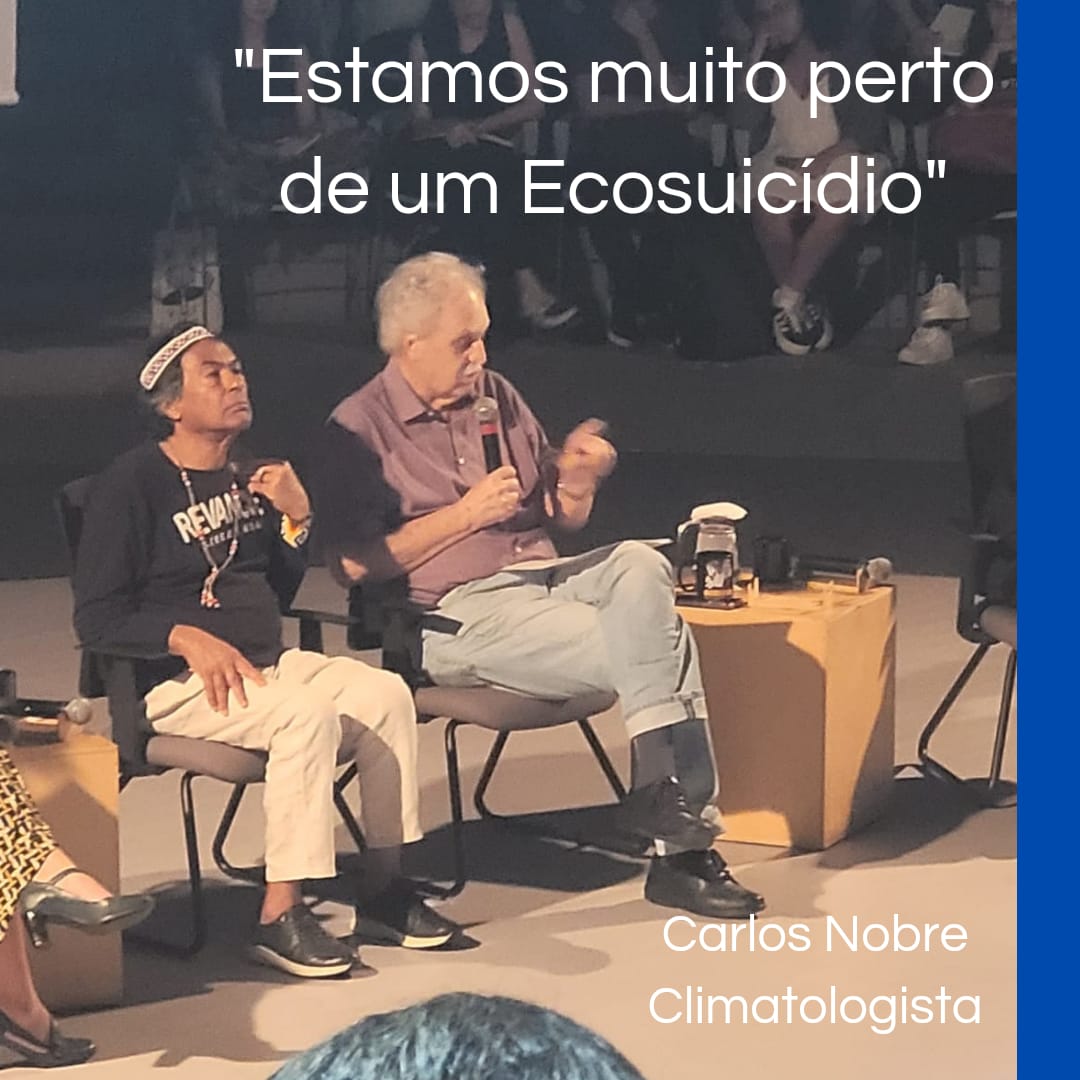
Nem tudo foi pessimista, porém. Nobre urgiu a todos, dizendo que com uma juventude engajada, é possível tornar o Brasil líder em causas ambientais, ele citou primariamente o problema das emissões de carbono como uma causa viável de ser solucionada.
Fotos por Anderson Guilherme e Matheus Henrique
O aniversário da Agência Pública ocorreu na quarta-feira (13). O local escolhido para sediar o evento foi o Tucarena, teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em parceria com o curso de Jornalismo e a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. O público pôde acompanhar três mesas redondas que discutiram os diversos aspectos da defesa da democracia. A primeira, teve como tema: “Desinformação e Populismo Digital” que discutiu o uso de discursos manipulados e extremismo para a promoção de figuras políticas, e como o avanço de tecnologias de inteligência artificial representam uma nova era no combate às fake news.
Em entrevista exclusiva à AGEMT, Natália Viana, co-fundadora da Agência Pública, reforça que deve existir uma maior abertura para o diálogo com diferentes opiniões e que em ambos os lados existem vítimas do discurso único: “O seu adversário político não é seu inimigo, é seu adversário; inimigos mortais não fazem parte da política”, ressalta Viana.

Venha conferir mais informações no link a seguir: https://www.instagram.com/reel/C4tABYuuVZM/?igsh=MXI3MW55dzhxeGdjZw==
Dia 13 de março a Agência Pública comemorou seus 13 anos em um evento realizado na PUC-SP. A agenda contou com três mesas com temas focados no jornalismo independente e luta pela democracia. A mesa “Desinformação e Populismo Digital” trouxe entrevistas com a jornalista e co-fundadora da Pública, Natalia Viana, e de Letícia Cesarino, antropóloga, A cobertura em vídeo para o TikTok pode ser acessada aqui
Na quarta-feira (13), a Agência Pública celebrou seus 13 anos de jornalismo investigativo no Tucarena, em Perdizes, em parceria com o curso de Jornalismo e a Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC São Paulo. O evento "Pública 13 anos: O jornalismo na linha de frente da democracia", contou com três mesas de debate ao longo do dia, reunindo nomes ilustres do jornalismo, da antropologia e do clima. A comemoração discutiu temas como a desinformação, a crise climática e a defesa da democracia.
A primeira mesa, com o tema “Desinformação e Populismo Digital”, foi mediada por Natalia Viana, co-fundadora e diretora executiva da Pública, ela também se graduou em Jornalismo na PUC e mencionou a escolha da universidade para sediar o evento. Segundo ela, “a democracia é a cara da PUC”. Como convidadas, juntaram-se à mesa a antropóloga Leticia Cesarino e a pesquisadora Nina Santos para discutir as ondas de desinformação, a regulamentação da inteligência artificial e o poder das big techs e algoritmos nos sistemas de informação.
Ao final da discussão, também foram abertas perguntas ao público. Geovana Bosak, estudante de jornalismo perguntou: "Como você vê o futuro do jornalismo em um ambiente que está cada vez mais dominado pela manipulação dos algoritmos e pela desinformação?"
Nina Santos:
"O jornalismo está passando por um momento de transformação, porque de fato a economia da atenção, que é o rege o funcionamento das plataformas digitais, acaba mudando muito até a forma de acesso das pessoas ao jornalismo. O que a gente vê nas últimas pesquisas é que as pessoas acessam cada vez mais o conteúdo jornalístico através das plataformas. Ao invés de entrar diretamente nos veículos, elas entram nas plataformas digitais, que são espaços de informação e também de entretenimento, e através dessas plataformas que elas acabam se informando sobre o que tá acontecendo, o que é importante, e sobre o quê que elas precisam agir".
A Agência Maurício Tragtenberg esteve presente na primeira mesa de discussão "Desinformação e Populismo Digital", e gravou um vídeo de cobertura. Para conferir, acesse:
https://www.instagram.com/reel/C4icdfIOyQo/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
O Oscar, principal premiação de cinema comercial, teve sua 96.ª edição no dia 10 de março de 2024. Apresentado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no teatro Dolby em Los Angeles, a cerimônia que acontece anualmente desde 1929, neste ano teve mais atenção voltada as mulheres. Entre os motivos do destaque estavam a primeira nomeação de uma nativa americana a categoria de Melhor Atriz e a primeira vez em que três dos cinco longas concorrendo ao Melhor Filme foram dirigidos por mulheres.
Para saber mais sobre a sobre a presença e destaque feminino no Oscar acesse o especial AGEMT no Tik Tok ou Instagram!
Link Tik Tok: https://www.tiktok.com/@coberturasma/video/7346637634199964933?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7345244975914157574

